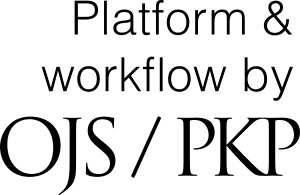Os corpos e as fronteiras da pele: reflexões sobre morte materna e racismo
DOI:
https://doi.org/10.47456/cadecs.v12i2.47780Resumo
Idealizada e romantizada para algumas pessoas. Não desejada por outras. Destino para umas, opção para outras, a maternidade é não é vivida da mesma maneira por todas as pessoas que gestam. Os corpos trazem marcas e intersecções que os situam socialmente, de modo que gestar e parir não é uma experiência única, podendo ser, inclusive, verbos perigosos de conjugar e viver. Longe de se repetir da mesma forma, tendo em vista que este processo é emoldurado política, cultural e socialmente, os marcadores sociais diferenciam a experiência da maternidade e, muitas vezes, a ameaçam. Considerando os dados sobre morte materna, os corpos negros são os que alavancam as estatísticas. O artigo aqui apresentado resulta de interrogações preliminares sobre racismo e morte materna, a partir de uma pesquisa multissituada, em curso, na cidade de João Pessoa (PB). Deste modo, desenho um percurso da formação do Brasil sob o mote da “democracia racial”, cujos efeitos nas gestações e puerpérios devem ser analisados a partir de uma perspectiva interseccional, sendo de grande importância as contribuições do feminismo negro. As consequências do racismo brasileiro, escamoteado sob a ideia de uma “democracia racial”, fazem crescer os números referentes à mortalidade materna, principalmente por meio do racismo institucional. Para que se implementem políticas públicas de saúde realmente eficientes, no contexto brasileiro, coerentes com as diretrizes da saúde global, é preciso reconhecer e demolir a estrutura racista que historicamente sustenta o país, sendo o letramento antirracista e as propostas movimento de mulheres negras indispensáveis a este propósito.
Referências
CARNEIRO, S. 2019. Raça e gênero na sociedade brasileira. In: Escritos de uma vida. São Paulo: Pólen Livros.
COELHO, R. et. al. 2023. Acesso e discriminação racial nos serviços de saúde no Brasil. In: FRANÇA, M; PORTELLA, A. (Orgs.). Números da discriminação racial:
desenvolvimento humano, equidade e políticas públicas. SP: Ed. Jandaíra.
COLLINS, P.; BILGE, S. 2020. Interseccionalidade. São Paulo: Boitempo,
CORROSACZ, V. 2009. O corpo da nação: classificação racial e gestão social da reprodução em hospitais da rede pública do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Editora UFRJ.
DAS, V. 2020. Vida e palavras: a violência e sua descida ao ordinário. São Paulo: Editora Unifesp.
EVARISTO, C. 2017. Becos da memória. Rio de Janeiro: Pallas.
GOMES, N. 2022. O movimento negro educador. Saberes construídos nas lutas por emancipação. Petrópolis-RJ, Ed. Vozes.
GONZALEZ, L. 2020.Sexismo e racismo na sociedade brasileira. In: Por um feminismo afro-latino-americano. Rio de Janeiro: Zahar.
GUIMARÃES, A. S. A. 2005. Racismo e anti-racismo no Brasil. 2ª ed. São Paulo: Ed.
34.
HASENBALG. C. 2005. Discriminação e desigualdades raciais no Brasil. Rio de Janeiro/ Belo Horizonte: UFMG / IUPERJ.
KELLEHEAR, A. 2016. Uma história social do morrer. São Paulo: Editora Unesp.
MÃE, V. H. 2012. O Filho de Mil Homens. 3ª ed. São Paulo: Cosac Naify.
MARCUS, G. 1994. O que vem (logo) depois do “PÓS”: o caso da etnografia. Revista de antropologia, São Paulo, USP, v. 37, pp. 7-34.
MARCUS, G. 1995. Ethnography in/of the World System: The Emergence of Multi-Sited Ethnography. Annual Review of Anthropology, v. 24, p. 95-117. Disponível em: <https://www.annualreviews.org/doi/10.1146/annurev.an.24.100195.000523>.
Acesso em: 25 out. 2024.
MBEMBE, Achille. 2018. Necropolítica: biopoder, soberania, estado de exceção, política da morte. Tradução de Renata Santini. São Paulo: N-1 edições.
MARTINS, A. et. al. 2021. Mortalidade materna no Brasil: comove, mas não mobiliza. In: Dossiê de 30 anos da Rede Feminista de Saúde: democracia, saúde das mulheres, direitos sexuais e direitos reprodutivos. Senapeschi E.; Peres L. (organizadoras). Curitiba: CRV.
MARTINS, L. M. 2006. Mortalidade materna de mulheres negras no Brasil. Cad. Saúde Pública. Rio de Janeiro. 22(11). p. 2473-2479.
NASCIMENTO, A. 2016. O genocídio do negro brasileiro: processo de um racismo mascarado. São Paulo: Editora Perspectiva.
NASCIMENTO, A. 1982. O Negro Revoltado. 2ª ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira.
NASCIMENTO, B. 2021. O conceito de quilombo e a resistência cultural negra. In: Uma história feita por mãos negras. RJ: Zahar. p. 152-167.
NASCIMENTO, B. 2021. A mulher negra e o amor. In: Uma história feita por mãos negras. RJ: Zahar. p. 234-235.
RODRIGUES, C. 2023. Impacto do racismo na mortalidade materna. In: Relatório da oficina Morte Materna de Mulheres Negras no contexto do SUS. Ministério da Saúde/Secretaria de Atenção Primária à Saúde. Brasília: Ministério da Saúde.
SCAVONE, L. 2001. Maternidade: transformações na família e nas relações de gênero.
Interface - Comunicação, Saúde, Educação, 5(8), p. 47–59.
VIANNA, A.; LOWENKRON, L. 2017. Apresentação. Cadernos Pagu. Campinas. Nº 51. Disponível em . Acesso em 18 ago. 2022.
Morte materna acontece porque não se dá a devida atenção às mulheres na nossa sociedade, alerta Febrasgo. Febrasgo, 2022. Disponível em . Acesso em 08 ago. 2022.
Downloads
Publicado
Edição
Seção
Licença
O Caderno Eletrônico de Ciências Sociais detém os direitos autorais dos artigos nele publicados mediante submissão dos autores .O envio espontâneo de qualquer colaboração implica automaticamente a cessão integral dos direitos autorais ao Cadecs.