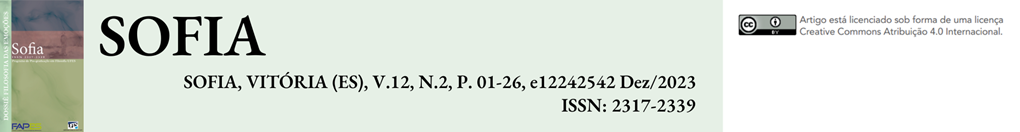
AMOR-PRÓPRIO E A REVERSÃO DA REGRA EMOCIONAL CENTRAL DO OCIDENTE
SELF-LOVE AND THE REVERSAL OF THE CENTRAL EMOTIONAL RULE OF THE WEST
Daniel Pereira Andrade
FGV EAESP – Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas
Recebido: 28/09/2023
Received: 28/09/2023
Aprovado: 15/10/2023
Approved: 15/10/2023
Publicado: 29/12/2023
Published: 29/12/2023
Resumo
O artigo discute a transformação da principal regra emocional do Ocidente: o amor. As leituras que Reforma e Contrarreforma fizeram da obra de Santo Agostinho colocaram a regra do amor no centro dos tratados de governo das paixões do século XVII. O período de guerras religiosas e unificação dos Estados nacionais fez com que a regra agostiniana fosse deslocada para a política, com o amor-próprio operando como uma grade de leitura pessimista das condutas de súditos e adversários. Se na primeira metade do século a condenação cristã do amor-próprio e o governo neoestoico das paixões se confundiram com a nascente Razão de Estado, na segunda metade ocorreu uma reversão da regra emocional. A concepção jansenista de como a providência divina dispôs dos amores-próprios para colocar a satisfação de um a serviço das necessidades dos outros operou como modelo para a Economia Política e o nascente liberalismo. Com isso, o amor-próprio esclarecido foi afirmado como norma política, mediado pelo dispositivo emocional do comércio.
Palavras-chave: Regra emocional do amor. Amor-próprio. Poder emocional. Governo. Paixões.
Abstract
Keywords: Emotional rule of love. Self-love. Emotional power. Government. Passions.
CONSIDERAÇÕES INICIAIS
O amor é a regra emocional central do Ocidente. Suas configurações normativas constituíram o eixo a partir do qual outras emoções foram classificadas, ocupando uma posição hierarquicamente superior a todas as demais. Os deslocamentos de seus objetos considerados moralmente legítimos definiram modelos de subjetividade, de laços e de ordem social, sendo uma metamorfose decisiva na ascensão da modernidade. As reconfigurações do amor também foram teóricas, associando-se a diferentes concepções gerais que buscaram explicar o que é a vida emocional e definir as maneiras de governá-la.
As variações da regra emocional do amor circularam do governo religioso da Reforma e da Contrarreforma para a construção do Estado moderno e a posterior fundamentação de variadas visões políticas. Alguns exemplos históricos de suas mutações entre os séculos XVII e XIX foram o debate teológico sobre o “puro amor” na Querela da Graça, o governo do “amor-próprio” no Neoestoicismo e na emergente Razão de Estado, a reavaliação do “amor-próprio esclarecido” no Jansenismo e no Liberalismo, a retomada do “amor benevolente” (base do posterior “amor romântico”) como sentimento moral fundamental do que viria a ser o Conservadorismo e, por fim, o “amor sexual” nas políticas eugênicas.
Desse modo, o amor foi o objeto privilegiado de uma forma de poder emocional constitutiva da história do Ocidente. O poder emocional é uma espécie de biopoder, ou seja, uma subsunção da vida pelo poder, mas de caráter diferenciado por visar o corpo em um aspecto particular. Michel Foucault (1997) aponta para duas dimensões do corpo que seriam alvo do biopoder: o organismo individual dotado de capacidades, que deve se tornar útil e dócil por meio da ação dos mecanismos disciplinares; e o corpo coletivo da população, onde são visados os aspectos de conjunto de uma massa de seres vivos, de modo a regular os fenômenos globais próprios à vida. O poder emocional constitui uma terceira dimensão do biopoder, irredutível às outras duas, pois age sobre o corpo individual e/ou coletivo visando sua dimensão perceptiva, suas sensações e “emoções”. É o corpo vivo enquanto corpo sensível que está na mira. As experiências vividas do sujeito e as suas expressões são o alvo a ser gerido. O poder emocional também atua de modo a construir subjetividades assujeitadas, estruturando e restringindo o campo das experiências e ações possíveis, produzindo a vontade do sujeito. Ainda que esse dispositivo possua a sua singularidade enquanto biopoder, ele não deixa de por vezes se cruzar e se compor com os poderes disciplinar, biorregulamentador e com as formas de governamentalidade para procurar instituir uma ordem social (Andrade, 2014, 2015, 2020).
O poder emocional não é homogêneo, ele possui uma longa e variada história que está associada a diferentes concepções gerais sobre a vida “emocional”. Exemplos dessas designações históricas, com usos teóricos e estratégicos distintos, são termos como paixões, sentimentos morais e emoções (Dixon, 2003; Desjardins e Dumouchel, 2012; Andrade, 2014, 2016, 2020). Se adotarmos “emoção” como o termo geral que engloba as diferentes designações históricas específicas, tal como faz a sociologia atualmente, podemos dizer que as artes de governo, ao explicarem o que é a “emoção”, quais são as suas fontes causadoras, como ela se relaciona com as demais faculdades da mente e com o corpo e como ela se expressa e determina as condutas, estabeleciam dispositivos de poder “emocional” inseparáveis de um ideal antropológico e de ordem social. Por isso, cada concepção geral sobre a vida “emocional” estava ligada a um estilo de intervenção, com determinados objetos, técnicas, finalidades e regras emocionais e expressivas que incidem sobre “emoções” específicas ao avaliar e estabelecer o quê, quando e como se deve sentir e/ou manifestar emocionalmente (Hochschild, 2003, p. 82-83; Andrade, 2014).
Este artigo foca na emergência de uma regra emocional do amor que foi central para a modernidade: a afirmação da paixão do amor-próprio esclarecido como base para a vida em sociedade, transformação que se deu tanto no âmbito religioso, na teologia jansenista, quanto na nascente Economia Política, ambos no final do século XVII. De modo a compreender a virada moderna que essa regra caracterizou, a história realizada tem início em um momento anterior, em que o neoestoicismo se mesclou à Razão de Estado na conformação de um poder emocional que ao mesmo tempo condenava e buscava governar o amor-próprio.
O artigo dialoga de maneira crítica com duas teses já clássicas. Primeiro, com a tese de Albert Hirschman (2013) sobre a paixão compensatória do interesse como fonte do nascente espírito do capitalismo. Focando na história francesa, o artigo pretende mostrar que a moderna racionalidade econômica surgiu não de um termo eufemístico, mas diretamente da reversão da principal regra emocional do ocidente cristão. Foram os jansenistas que propuseram a ideia de que o amor-próprio poderia substituir o amor a Deus e ao próximo como base para a vida em sociedade, desde que mediado pelo “doux commerce”, o que acabou fazendo com que esse amor-próprio fosse identificado com o interesse econômico. A segunda tese com a qual o artigo dialoga criticamente é a ideia foucaultiana (Foucault, 2004a) de que a nascente Economia Política seria uma espécie de naturalismo, rompendo com o pensamento religioso e constituindo uma versão secularizada do poder pastoral. O artigo busca mostrar que, na verdade, a discussão teológica proposta pelo jansenismo teria servido como modelo divino para o governo político dos homens. A ideia é que o governo político deveria copiar a sabedoria da Providência Divina, a qual teria criado uma sociedade comercial em que o amor-próprio se colocaria a serviço da satisfação dos outros, promovendo a harmonia e o bem comum a despeito das motivações pecaminosas dos indivíduos.
Para reconstituir essa história, o artigo analisa uma série de tratados de governo das paixões do século XVII francês, além de buscar apoio em uma ampla bibliografia secundária. Como esses tratados compartilhavam o enunciado de que as paixões influenciavam a vontade de maneira decisiva, sendo os verdadeiros móveis da ação humana, eles se tornaram centrais para as formas de governo das condutas. Multiplicaram-se assim os livros voltados para príncipes e outras autoridades da época, com prescrições sobre como deveriam governar as próprias paixões e as dos outros (James, 1996). Ao recorrer a esses textos prescritivos que buscavam racionalizar a prática governamental, o artigo busca reconstituir o arcabouço que dava forma à experiência emocional, ou seja, a correlação entre “campos de saber, tipos de normatividade e formas de subjetividade” (Foucault, 1984, p. 10). Quando se recorre a elementos teóricos e doutrinais mais amplos, não é para fazer uma história das ideias, mas apenas para apreender melhor os fatos do pensamento que informam esses textos prescritivos e, consequentemente, seu impacto sobre a conduta dos indivíduos (Weber, 2004).
O artigo inicia justamente pela reconstituição dos elementos doutrinais de Santo Agostinho que deram forma às disputas entre Reforma e Contrarreforma. Com isso, a regra agostiniana do amor ganha centralidade no século XVII, em meio às guerras religiosas e à unificação dos Estados nacionais. O primado do amor permite que ele seja confundindo com a própria vontade humana, sendo a referência a partir da qual as outras paixões são deduzidas e julgadas. O artigo então analisa os desdobramentos políticos da regra do amor, que constituem uma importante dimensão da virada para a modernidade. No início do século XVII, a condenação cristã do amor-próprio e o governo neoestoico das paixões confundem-se com a nascente Razão de Estado, permitindo o autogoverno dos príncipes e das figuras de autoridade e a manipulação do povo e dos adversários políticos. O amor-próprio acaba por se constituir como grade de análise pessimista para decifrar os comportamentos e os segredos políticos. Já na segunda metade do século XVII, o jansenismo propõe uma nova concepção de providência divina que utilizaria o amor-próprio para criar uma ordem social harmônica e próspera a despeito das intenções pecaminosas dos sujeitos humanos. Essa concepção religiosa opera como modelo político para os governantes, que passam a utilizar o comércio como um dispositivo capaz de colocar o amor-próprio de uns a serviço das necessidades dos outros, produzindo no mundo terreno os mesmos efeitos benéficos da graça divina. Com isso, ao menos na política, o amor-próprio mediado pelo mercado opera como um novo princípio normativo, com a nascente Economia Política ao mesmo tempo derivando das e substituindo as diretrizes religiosas no governo dos súditos. Nas considerações finais, discute-se como a reversão da regra agostiniana do amor acaba por abrir caminho para racionalidade política e econômica moderna, contrapondo essa tese à de Hirschman e à de Foucault.
A doutrina agostiniana da graça no centro das disputas entre Reforma e Contrarreforma
A questão dogmática central que opôs os movimentos religiosos da Reforma e da Contrarreforma ficou conhecida como “Querela da Graça”. Partindo de diferentes interpretações da obra de Santo Agostinho, a divergência se dava sobre o concurso da graça divina e/ou do livre arbítrio humano para a salvação. Os reformadores enfatizavam que a única via de salvação era a graça divina, na medida em que, após o pecado original, a natureza humana estaria inteiramente corrompida pela concupiscência e conduziria o fiel necessariamente ao pecado e à danação. A Contrarreforma reagiu a essa tese acusando-a de herética. Como, no entanto, a posição inversa que elegia apenas a via do livre arbítrio já havia igualmente sido condenada sob o nome de Pelagianismo, restou ao Concílio de Trento afirmar uma posição intermediária, em que tanto a graça divina como a liberdade humana concorreriam para a salvação. Em função das disputas internas ao campo da Contrarreforma, não foi possível, porém, chegar a uma posição unânime sobre como precisamente se daria essa combinação, abrindo-se um longo capítulo da história teológica e da pastoral católica em torno da questão. Dominicanos, Jesuítas e Jansenistas se digladiaram ao longo do século XVII enfatizando teoricamente um ou outro lado da equação, trocando acusações de heresia e definindo diferentes sacramentos e pastorais no trato com os fiéis (Quilliet, 2007).
A querela da graça estava, desde o início, ligada à regra emocional do amor em Santo Agostinho. Foi o Padre da Igreja que generalizou o pecado de Adão como sendo o pecado original de toda a humanidade, o que teria transformado a natureza humana e transmitido através dela a necessidade de pecar e, consequentemente, da morte tanto nesta vida quanto na eterna (Saint Augustin, 2000, p. 547). Nessa condição, a humanidade passa a viver segundo a carne, o que não quer dizer apenas viver segundo os prazeres do corpo, mas, de maneira mais ampla, viver segundo o homem como um todo, incluindo sua alma e espírito (Saint Augustin, 2000, p. 548-550). Ou seja, viver segundo uma má espécie de amor por si mesmo, colocando-se orgulhosamente no lugar que deveria caber a Deus.
O amor de si orgulhoso alimenta a vã busca pela glória, uma paixão que é propriamente espiritual ou da razão, e não corporal. Nesta paixão, o homem pode até mesmo conter os impulsos corporais que se fazem sentir em sua alma inferior, levando à aparência da virtude. Mas a similitude é apenas exterior, pois não se constitui o verdadeiro amor a Deus. No entanto, esse amor orgulhoso pode igualmente levar a uma desordem que desfaz o controle do espírito sobre a alma inferior, abandonando o ser humano à concupiscência da carne, ou seja, às paixões ligadas ao corpo. O corpo não é em si mesmo mau. “Não é a carne corrompida que tornou a alma pecadora”, diz Santo Agostinho, “mas é a alma pecadora que tornou a carne corrompida” (2000, p. 551). O mesmo ocorre com as paixões. Estando ligadas aos movimentos da vontade, a sua avaliação é indissociável da qualidade da vontade do homem, ou, em outros termos, do tipo de amor que dirige a vontade em sua busca da felicidade (Saint Augustin, 2000, pp. 552, 555-556).
Santo Agostinho promove, como explica Carole Talon-Hugon (2002, p. 56), uma “ideia força em torno da qual a constelação das considerações sobre as paixões se ordena e pela qual unicamente elas ganham todo o seu sentido. Esta ideia força é a do primado absoluto do amor”. O amor não é uma paixão, mas a própria vontade cujos movimentos constituem as paixões e que permite avaliá-las como boas ou más. Em outros termos, a regra emocional do amor é aquela a partir da qual as demais paixões são deduzidas e julgadas. Como afirma Santo Agostinho (2000, p. 558):
“É porque a vontade direita é um amor bom, e a vontade perversa é um amor mau. O amor aspirando a ter aquilo que ele ama é o desejo; se ele possui e goza daquilo, é a alegria; o amor fugindo daquilo que lhe é hostil, é o medo; se ele o prova e dele sofre, é a tristeza. Por consequência, estas impressões são más se o amor é mau, boas se ele é bom”.
Por isso, não cabe perguntar se experimentar uma paixão é bom ou mau em si mesmo, mas a razão pela qual elas são experimentadas (Saint Augustin, 2000, p. 345). Se a vontade do homem foi alienada pelo pecado original, o amor por si mesmo ou pelas criaturas só pode conduzir a uma existência infeliz, pois ela encontra-se na “situação impossível”, pois contraditória, de desejar possuir sem medo as coisas que não se pode possuir sem o medo de perdê-las. As paixões do medo e do desejo, embora movimentos contrários da alma, implicam-se mutuamente quando o objeto do amor são as criaturas finitas e instáveis, como o são o corpo, a vida terrestre, a liberdade concupiscente, os familiares, a cidade, o dinheiro e os bens materiais (Saint Augustin, 2002). Segundo Santo Agostinho, “o homem foi criado na correção para viver não segundo si mesmo, mas segundo aquele que o criou, isto é, para fazer a vontade de Deus e não a sua própria; e não viver segundo o modo de vida para o qual ele foi criado, aí está a mentira. Ele quer ser feliz não vivendo da maneira que ele poderia sê-lo” (2000, p. 552). A razão ensina que todas as coisas sejam perfeitamente ordenadas e que, portanto, o espírito seja submetido a Deus, o único Senhor que poderia lhe garantir um amor verdadeiro sem medo e no qual reside a glorificação final.
No entanto, como resume Emmanuel Bermon (2003, p. 187) a propósito da doutrina agostiniana, como “o homem natural é incapaz de se tornar justo, já que na medida mesma em que ele atinge a virtude, ou mais exatamente a quase-virtude, ele só o pode fazer dando base ao seu orgulho, [...] somente a graça pode livrar o homem de todas as concupiscências que o mantêm em escravidão”. É a Paixão de Cristo, e mesmo as paixões de Cristo, que permitem a distinção entre as boas e as más paixões. Isto porque Cristo viveu as suas paixões como Deus que se fez homem, sofrendo como homem as paixões na alma e na carne, mas criando como Deus as próprias condições às quais se submeteu voluntariamente sem que elas despertassem nele a menor desordem e o menor pecado. Ao se submeter sem necessidade à necessidade, ao sofrer voluntariamente as paixões, a passividade das paixões se converte em um ato. É assim, pois, que Cristo salva as paixões e que ele concede aos homens prová-las de maneira correta. Pela graça, as paixões dos homens, que são provadas naturalmente como concupiscências, são agora provadas de maneira ordenada e se tornam boas.
Não se trata, portanto, de uma defesa estoica da apatia, a não ser com relação às concupiscências, mas de provar, ainda que na fraqueza da condição humana, as paixões derivadas do amor a Deus. Amor divino que a graça desperta como uma delectatio victrix, ou seja, como um deleite supremo, superior a qualquer prazer humano, pelo qual o homem decaído é atraído irresistivelmente a Deus por sua vontade de ser feliz. Se o homem permanece o sujeito da vontade, ele não é assim a sua causa primeira: “É certo que somos nós que queremos todas as vezes que nós queremos. Mas é Deus que nos faz querer o bem” (Saint Augustin, 2002, p. 912). Ou ainda: “Para que queiramos, Ele opera sem nós. Mas, quando nós queremos, e quando queremos o bastante para agir, Ele coopera conosco. No entanto, sem Ele, seja que Ele opere para que nós queiramos, seja que Ele coopere quando nós queremos, para as boas obras da piedade nós não conseguiríamos nada” (Saint Augustin, 2002, p. 914). Pois, nesta vontade definida em termos afetivos como amor, “Deus age pelo interior, Ele toma os corações, Ele move os corações, Ele os desperta por desejos voluntários que Ele próprio havia produzido neles” (Saint Augustin, 1962, p. 373). Na ausência da graça, “o homem [resta] abandonado a si mesmo porque ele abandonou a Deus comprazendo-se em si mesmo, e, ao não obedecer a Deus, ele não pode mais obedecer a si mesmo. E, daí, sua miséria evidente: o homem não vive mais como ele quer” (Saint Augustin, 2000, p. 590).
Conforme a visão de Santo Agostinho, o governo das almas passa, em primeiro lugar, pela definição de uma regra emocional e por um modo de subjetivação que busca compensar a “fraqueza” da vontade humana e direcioná-la para a renúncia de si e para o amor a Deus. Na tentativa de colocar Deus como causa primeira de uma vontade da qual os homens não deixam de ser seus sujeitos, a pastoral cristã constitui-se como a própria causa primeira dos desejos voluntários, produzindo assim um poder emocional de origem cristã. Esta visão pastoral que toma a vontade humana como objeto, agindo pela persuasão sobre a vida afetiva e moral, já estava presente ainda antes de Santo Agostinho, ao menos desde o influente Règle Pastorale do papa Grégoire le Grand (Senellart, 1995, p. 27-29). Com Santo Agostinho, no entanto, dada a concepção da cisão interna do homem decaído e a sua incapacidade de governar a si mesmo, é legitimado o uso da coerção, pois é preciso que os homens sofram um poder para serem capazes do bem querer. Disciplina externa que visa garantir a subjetivação da regra emocional, ela é inseparável de uma terapêutica da alma e do corpo que visa desfazer a concupiscência que converte o indivíduo em seu próprio inimigo e inimigo dos outros. Santo Agostinho apregoa um processo essencialmente ativo de severidade educativa que confere ao poder político, como órgão de repressão, um papel apostólico, fazendo do rei um ministro do sacerdócio. Como explica Michel Senellart (1995, p. 83): “é esta concepção de governo como instrumento de disciplina com vistas à salvação, subordinando a violência à predicação, que se impôs nos séculos seguintes, contra a aspiração dos primeiros cristãos a uma vida autônoma”.
O primado do amor no governo das paixões do século XVII
O governo cristão das vontades é o que fundamenta a querela da graça do século XVII, reafirmando o primado agostiniano do amor como a norma central que organiza os diversos tratados sobre as paixões (Terestchenko, 2009; Talon-Hugon, 2002, p. 58). A graça e as afecções que ela produz fornecem a perspectiva para a análise das paixões. As afecções não simplesmente se opõem, mas se sobrepõem normativamente às paixões humanas e se diferenciam delas por sua origem (a parte superior espiritual da alma e não os apetites sensíveis), por seu objeto (amor a Deus e não à criatura) e por seu valor e hierarquia. Essas afecções derivadas do amor a Deus aparecem assim como força interior que determina a vontade, como princípio de seus movimentos, como última razão sem razão, remetendo no limite ao misticismo religioso, mas igualmente se justapondo ou se confundindo com as afecções racionais que impõem seu governo sobre as paixões. Por isso, não necessariamente este amor precisa estar ligado ao êxtase religioso, podendo restar apenas como uma vontade ou fé firme desligada de qualquer satisfação sensitiva (Saint-Cyran, 1992, p. 73; Levi, 1964, p. 204) ou mesmo como um desespero de amar a Deus independentemente de ser condenado eternamente por Ele (Fénelon, 1998; Terestchenko, 2009). É assim, pois, que as afecções promovem uma reversão da concepção das paixões: se estas eram consideradas desde a Antiguidade algo que se sofre passivamente, as afecções são ativas, transferindo assim a mística da paixão de Cristo pela qual a passividade é ativamente querida em uma forma de amor divino como móvel interno da vontade e da conduta humana. Reversão que se estende à valoração da vida afetiva, que, ao menos parcialmente e segundo as regras do “verdadeiro querer”, pode ser avaliada como positiva (Auerbach, 1998; Talon-Hugon, 1999, p. 179).
A regra do amor se constitui como eixo normativo de toda vida “emocional” e submete as demais paixões como desdobramentos específicos de uma regra geral. Ela define não apenas o que sentir ao diferenciar dois tipos de amor, mas também o objeto legítimo de afecção e a intensidade, ao moderar ou procurar profilaticamente eliminar as paixões humanas e ao insuflar o amor divino. A regra emocional agostiniana se desdobra assim em duas frentes de debates indissociáveis. De um lado, a temática do puro amor, do amor desinteressado a Deus, fruto da graça divina, da anulação de si mesmo e da dissolução do sujeito em Deus. Questão fundamental da possibilidade da existência de um amor humano que não seja egoísta, que sacrifique até mesmo o interesse na própria salvação. Discussão que atravessa autores como François de Sales, Pièrre-Camus, Fénélon, Boussuet e Malebranche. De outro lado, a questão do amor-próprio desregrado a ser moderado ou eliminado, da vaidade que se disfarça de virtude e que guia a ação egoísta do homem decaído. Discussão que se baseia não tanto em uma regra expressiva, mas em uma regra emocional que define o que se deve sentir interiormente, a despeito de uma manifestação exterior que pode ser idêntica na forma da caridade e da humildade, já que a aparência de virtude pode ser buscada com o objetivo da glória mundana. Saint-Cyran (1992, p. 74), por exemplo, afirmava que “a verdadeira regra do amor que nós nos dirigimos é o amor que nós dirigimos a Deus [...] Pois Deus não ama mais nossas obras do que nossas pessoas, e ele toma mais prazer em olhar nossas almas do que nossas ações [...] tal como somos em nosso coração, e no regramento de nossa vida interior, isto é, em nossos movimentos secretos, nas nossas intenções ocultas e em nossas paixões imperceptíveis”. A ênfase nessa vertente pessimista foi colocada sobretudo, mas não exclusivamente, pelos jansenistas, e pode ser encontrada em autores como Saint-Cyran, Jean-François Senault, Blaise Pascal, La Rochefoucauld, Pierre Nicole, Jacques Esprit e outros. Tendo em vista que essas duas frentes de discussões são complementares, frequentemente estão integradas nos tratados sobre as paixões do século XVII, a despeito de uma ênfase maior para um ou outro lado.
O legado político das diferentes ênfases, no entanto, não é o mesmo. Embora livros sobre o puro amor tanto quanto sobre o amor-próprio tenham sido dedicados a príncipes, filhos de príncipes e autoridades da época, cada um avaliava a seu modo a nascente racionalidade governamental do Estado. Autores como Jean François de Sales e Fénélon condenavam em nome do puro amor uma Razão de Estado definida como exceção moral que os governantes teriam diante de regras humanas e divinas a fim de perseguir o bem do Estado. O humanismo devoto de François de Sales (1986) pregava uma fuga do mundo que recusava passivamente a política, com uma pastoral pacífica e submissa ao poder do soberano. Ele propunha uma reforma interior que começasse pela conversão radical do coração, de modo a instalar o amor a Deus como fonte da vontade. Mas, “para receber a graça de Deus em nosso coração, é preciso o ter esvaziado de nossa própria glória” e é preciso lhe dar consentimento, sacrificando livremente o próprio livre arbítrio que possibilitaria a escolha contrária. A técnica privilegiada para a renúncia de si seria a oração, modo de expor “nossa vontade ao calor do amor celeste” e de “aliviar a sede de nosso coração pelas suas paixões” (Sales, 1986, p.937-941). Para Sales, apenas uma afecção pode se opor a outra afecção e a afecção purificada que dissipa as paixões é o amor. Como observa Carole Talon-Hugon (1999, p. 67), “o amor está então no princípio das paixões como está no princípio de seu tratamento, como ainda está na composição de seus remédios”. Desse modo, em contraposição a uma sabedoria humana de caráter político, François de Sales exortava a viver “não humanamente, mas sobre-humanamente; não em nós, mas fora de nós e acima de nós” (Talon-Hugon, 1999, p. 68). Tal renúncia de si e passividade diante de Deus e da política constituía uma afinidade entre a postura religiosa e o Estado absolutista que então se consolidava, algo que não passou despercebido em sua época (Ashcraft, 1995, p. 18-19).
O governo neoestoico do amor-próprio na nascente Razão de Estado
Por outro lado, as vertentes religiosas que enfatizavam a crítica ao amor-próprio admitiam, ainda que com reservas, a exceção moral, na medida em que viam nela um recurso inevitável dos governantes na condução de homens movidos por sua natureza decaída. Essas vertentes, especialmente o neoestoicismo, se confundiram com a própria constituição da Razão de Estado no final do século XVI e no XVII.
Justus Lipsius foi o autor central do neoestoicismo e seus livros conheceram enorme sucesso no período. Lipsius reinterpretava de maneira cristã a doutrina e as práticas estoicas, mas situava-se em um terreno teologicamente neutro entre reformadores e as diferentes correntes da Contrarreforma. Com isto, ele acabou “reconhecido por ambos os lados da cristandade ocidental dividida como o grande filósofo moral e o fundador de uma ciência histórico-política que podia elevar-se acima do conflito de facções e, por um período, dominou a educação política”. (cf. Oestreich, 1982, p. 64; Lipsius, 1994, 2010; Senellart, 1995, p. 239). Seu livro Politiques (1994) foi traduzido em várias línguas e teve 96 edições, sendo lido por príncipes e conselheiros e adotado como livro de referência no ensino de história e política em universidades e cortes. Desse modo, o neoestoicismo foi central na constituição da Razão de Estado em todo o Ocidente cristão.
A racionalidade neoestoica era inseparável do governo das paixões e tinha as afecções da graça como horizonte. Os neoestoicos preconizavam um uso mais do que a erradicação das paixões, buscando a moderação ou a manipulação por meio de uma terapêutica que passava tanto pela alma quanto pelo corpo. No caso do corpo, as técnicas remetiam a uma leitura cristã da medicina galênica, baseada na busca do equilíbrio dos quatro elementos/humores. As paixões resultariam da predominância de um ou mais dos humores corporais, que, se contidos dentro de certos limites, constituíam os temperamentos, mas que, se excessivamente desequilibrados, poderiam levar a pat(h)o(s)logias. A reinterpretação cristã viu o ocaso da harmonia humoral como resultante do pecado original, tornando o homem escravo de seu próprio corpo (Klibansly, Panofsky e Saxl, 1989, p. 139-141, 178-179). A terapia médica das paixões passava assim por uma tentativa de reequilibrar os humores por via de dietética e ginástica, pela utilização de outras paixões como contravenenos compensatórios ou pela conversão da compleição temperamental pela sua submissão ao amor a Deus (Charron, 1986, p. 35-37; Klibansly, Panofsky e Saxl, 1989, p. 178).
Já com relação à alma, tema propriamente estoico, a ênfase é deslocada para o tratamento das paixões como perturbações causadas pelas falsas opiniões que, se repetidas com frequência e sem cuidado, podem se enraizar como juízos permanentes, convertendo-se em patologias. Se as paixões residem nas representações involuntárias às quais os homens dão consentimento e acabam por se submeter, o seu tratamento passa por um conhecimento de si por meio do qual o sujeito se livra dos juízos apressados e retoma a verdadeira razão. Com isto, a Razão ou a alma, “esta parte principal e divina”, retoma sua posição soberana, ao “invés de servir a seus servos” (Lipsius, 2010, p.95).
Diante das paixões desencadeadas pelos males públicos, com os quais Lipsius se preocupa no atribulado período de guerras civis e religiosas, a saída proposta é a constância. A constância é definida como “uma firme e imutável robustez anímica, que não se ensoberbece nem se humilha com as circunstâncias exteriores ou fortuitas” (Lipsius, 2010, p. 100). Essa robustez não está vinculada à soberba ou à vã glória, ambas falsas opiniões, mas à humildade e à paciência, ou seja, ao “sofrimento voluntário e sem queixa de tudo quanto ao homem lhe sucede ou se lhe apresenta” (Lipsius, 2010, p. 100). O homem é exortado, assim, a não se abater ou se assoberbar com as coisas exteriores e fortuitas nem a resistir ao inevitável, buscando a virtude do equilíbrio e da estabilidade, concentrando a alma em si mesma e se controlando para extinguir o vício. Ela implica, pois, aceitar os males públicos (e também os privados) como enviados por Deus e como necessários, tomando-os como úteis e suportáveis. A autonomia da sabedoria, além de ligada à paciência, é inseparável da obediência voluntária seja a Deus (“a liberdade consiste em obedecer a Deus”, Lipsius, 2010, p. 127) seja ao soberano, incluindo até mesmo os tiranos, já que as tiranias estão determinadas, além de pela providência divina (Lipsius, 2010, p. 126), pela própria natureza humana corrompida, com sua tendência a exercer o mando de maneira insolente (Lipsius, 2010, p. 223). Inclusive quando a tirania impõe uma religião, Lipsius exorta à obediência externa e ao recolhimento ao silêncio, afirmando que resistir às opressões espirituais é desconhecer a si mesmo e à natureza celestial da alma. O soberano pode atingir apenas o corpo, mas não a alma, pois “nenhuma força externa poderia lograr nunca que queiras o que não queres e sintas o que não sentes” (Lipsius, 2010, p. 224).
Se Lipsius nega que a alma do sábio possa ser comandada, aconselhando ao próprio príncipe que imponha apenas uma submissão na “aparência e signos exteriores” e de resto se guie pela doce persuasão (Lipsius, 1994, p. 26), por outro lado, Lipsius acredita que as paixões desordenadas do povo possam sim ser governadas. É assim que o governo cristão das vontades é transposto para o âmbito da política. O livro IV de seu Politiques (1994, p. 27), que se dedica à análise da virtude da prudência no caso particular do príncipe, apresenta-a como “uma destreza de bem governar tranquilamente e com segurança as coisas exteriores”. Lipsius divide este governo em dois: o do natural do povo e o do natural do reino. Com relação ao povo, a prudência se constitui como uma forma de conhecimento de seus humores e como uma arte de comandar as suas paixões, por meio da qual se molda a opinião pública.
O governo do príncipe deve assim complementar a paciência e a obediência do sábio. A disciplina de si do príncipe, caso particular de constância, não o leva a se submeter externamente a não ser à sua própria razão, enquanto a dos súditos os leva a se submeterem ao príncipe. Como o povo não é em geral sábio, a sabedoria do príncipe precisa ser especial de modo a lidar com a inquietude, desunião e turbulência, visando manter a ordem e a paz civil. Na sua caracterização pessimista do povo, as paixões operam a ligação entre o homem volúvel (contrário do sábio neoestoico), pecador (contrário do eleito agostiniano) e indócil (contrário do cidadão idealizado da república platônica).
Outro influente autor neoestoico, o francês Pierre Charron (1986), oferece o mesmo diagnóstico pessimista do povo em seu influente tratado sobre as paixões. Ele deduz os humores do povo da predominância do amor de si agostiniana, deduzindo desse amor corrompido uma lista de onze paixões que ele obtém nos escritos de São Tomás de Aquino. Dentre elas, Charron situa a ambição (amor da grandeza e da honra) como a paixão mais forte e potente que se sobrepõe a todas as demais (1986, p. 158-159, 161, 164), a avareza (amor da riqueza e dos bens) como a mais doentia e estúpida (1986, p. 161, 169-171) e o amor carnal como a mais natural e universal (1986, p. 161, 173-175). Para Charron, as paixões derivadas dos sentidos induzem a falsos julgamentos de bem e mal que, misturados à imaginação, constituem falsas opiniões que se opõem à soberania da reta razão (1986, p. 155-157). A raridade da sabedoria e de uma natureza humoral bem equilibrada faz com que o povo seja apresentado como “volúvel, inconstante, amotinado, tagarela, amante da vaidade e da novidade, orgulhoso e insuportável na prosperidade, covarde e abatido na adversidade” (Charron, 1986, p. 551). Nesse sentido, concorda amplamente com Lipsius, que atribui ao povo as mesmas qualidades negativas, acusando-o de não saber se conter e de fazer mau uso de sua liberdade. Sendo sempre excessivo, o povo submete-se covardemente quando teme e, no caso contrário, torna-se turbulento e audacioso. Desse modo, para Lipsius (1994, p. 27-31), “não há nada tão fácil quanto fazer um povo se voltar para o lado que se queira”, sendo suscetível à influência de homens sediciosos.
Por isso, a prudência do Príncipe precisa ser de um tipo especial, apoiando-se na força para manter a paz e buscando uma dupla virtude voltada para o governo das paixões dos súditos. Lipsius inspira-se aqui nos conselhos de Maquiavel (1996, p. 91-128). A primeira virtude é a da benevolência, pela qual se obtém o amor dos súditos pela afabilidade do trato, pela liberalidade e abundância de víveres e pela indulgência com as diversões do povo. A segunda virtude é a autoridade, visando produzir nos súditos e estrangeiros uma opinião venerável em relação ao rei, que se obtém de três maneiras: pela forma de comando severa, constante e compulsória; pelo poder obtido pela riqueza, armas, conselhos, alianças e fortuna; e, por fim, pelos bons costumes de quem governa, com gestos belos e aparência grave e severa. Os vícios contrários a serem evitados, descritos como “a má e danosa afecção que se tem contra o rei e seu Estado” (Lipsius, 1994, p.57), são de dois tipos. Primeiro, o ódio, vício contrário à benevolência, que é uma paixão amarga e violenta que tem sua origem no temor dos súditos e que desperta seu apetite de vingança. Para desfazê-lo é preciso evitar a crueldade, a avareza e o rigor, aplicando prudentemente os suplícios, os tributos e a censura. O segundo vício a ser evitado é o desprezo, contrário à autoridade, que se manifesta como uma opinião vil e abjeta dos súditos e estrangeiros relativa ao Rei e ao Estado (Lipsius, 1994, p. 60). O desprezo ameaça o consenso e a união, desfaz o medo e permite não apenas que não se queira, mas também que se deponha o soberano. Esse vício está ligado a três coisas: a uma forma de governo desmedidamente afável e covarde, pouco razoável, que se quer fazer amar pela humildade e bondade e que se abandona voluvelmente aos ventos populares; segundo, por uma fortuna permanentemente negativa, que faz o povo rir do príncipe; e, terceiro, por costumes indecentes e viciosos, que tornam o príncipe desprezível, estúpido e frágil de saúde.
Lipsius converte a prudência em uma espécie de tratado de governo das paixões que não se reduz ao gênero tradicional do “espelho dos príncipes”, na medida em que não se trata de colocar a virtude do príncipe como exemplo para o povo, mas de propor a virtude como uma habilidade de manipular afetos e opiniões com vistas a se obter disciplina e segurança em um Estado absolutista que acabara de sair das guerras religiosas. Não por acaso, Lipsius (1994) admite o que ele chama de uma “prudência mista”, ou seja, o uso, pela reta razão, de fraudes e embustes, desde que feito em nome do bem público, tendo em vista a natureza dos seus contemporâneos. A solução que Lipsius dá para limitar essa Razão de Estado entendida como exceção das normas, no entanto, é baseada em uma gradação da transgressão que busca um equilíbrio entre utilidade e honestidade. Há uma fraude pequena (vinculada à desconfiança e à dissimulação), média (que se distancia mais da virtude e se avizinha do limite do vício, com a conciliação/corrupção e a decepção/dissimulação) e grande (não apenas se separa da virtude, mas também das leis por uma malícia muito acentuada, robusta e perfeita, incluindo a perfídia e a injustiça). Lipsius aconselha a primeira, apoia a segunda e condena a terceira. Para Lipsius, o príncipe pode por vezes adotar caminhos oblíquos para o bem público quando os diretos são inatingíveis.
Indo além de Lipsius no que se refere à prudência mista, Pierre Charron ofereceu uma solução mais eficaz para justificar a exceção moral em nome da utilidade pública (Charron, 1986, p. 555). Seu tratado De la sagesse (1986) foi o mais influente entre os teóricos da Razão de Estado francesa no momento da constituição do Estado absolutista, fazendo sentir sua influência por toda primeira metade do século XVII. Por isso, Charron fazia caber ao príncipe sábio virtudes próprias de quem governa, sendo permitida a exceção em termos morais para lidar com um povo movido pelo amor de si.
Mas Charron, diferentemente de Lipsius, não pensa o limite dessa exceção moral em termos de uma gradação das fraudes, mas em termos de eficácia, sem, no entanto, abandonar o seu respeito pelo dever da justiça, mesmo se aparentemente as condições de realização dos deveres modifiquem sua própria forma e conteúdo (Lazzeri, 1992, p. 123). Devendo as leis artificiais da política estabelecerem um compromisso entre a justiça universal e a utilidade pública, só se pode recorrer aos meios opostos à justiça na medida em que se coloca em causa a “obrigação natural e indispensável” do príncipe: “Salus populi suprema lex esto” (Charron, 1986, p. 555). Assim, sendo um dever natural a amizade em relação ao próximo, apenas de modo defensivo, visando sua conservação e se salvar de armadilhas, e não o aumento da potência do Estado, se pode utilizar meios maus, e ainda assim com discrição e sem ir além do que exige a situação (Charron, 1986, p. 555). Mas, diante de inimigos declarados ou supostos, a melhor defesa pode ser o ataque preventivo, sob a pena de se produzir uma reação tarde demais. O momento de passagem da estratégia defensiva à ofensiva, seja em relação a inimigos externos ou aos grandes e aos súditos do próprio reino, momento em que as leis civis e naturais da justiça são suspensas, depende apenas do julgamento do governante, fundado na prudência que lhe faz conhecer as disposições gerais dos governados e na interpretação que faz dos signos concretos (Charron, 1986, p. 559-560). Essa ambiguidade interpretativa permite que a Razão de Estado não seja vista como estando em conflito aberto com as normas éticas e jurídicas. Os atos de ataque tornam-se legítimos de acordo com o julgamento que submete o caso à regra, com a posição daquele que a porta e com as informações das quais dispõe, dando origem, assim, a uma discussão interminável a respeito da sua legitimidade pela própria indeterminação dos critérios. Como afirma Christian Lazzeri (1992, p. 127-128), “Charron realiza assim um hábil e eficaz sistema de compromisso entre a natureza das normas éticas e jurídicas e as condições concretas de sua aplicação, dando satisfação ao interesse do Estado”.
Exatamente em função dessa conciliação, a obra de Charron experimenta enorme sucesso: “com a obra de Charron se encontram colocados todos os elementos das teorias de razão de Estado que serão desenvolvidas na França no curso da primeira metade do século XVII entre os estatistas ligados à defesa e ao reforço do Estado e que devem responder às críticas dirigidas contra o absolutismo da ‘razão de Inferno’” (Lazzeri, 1992, p. 128). Como expõe Étienne Thuau (1966, p. 365-366): “Os estatistas retornam com insistência sobre a estupidez e a crueldade do povo, e esta visão é frequentemente apresentada como o postulado de sua política autoritária. É uma ideia admitida a de que os governantes devem ser duros porque os homens são maus”. Copia-se de Charron tanto a visão de homem (tratados das paixões) quanto o critério de prudência. No âmbito da ação prática dos governantes do Estado, especialmente do Cardeal Richelieu, os textos de Charron e dos demais teóricos comporão um dispositivo governamental que consiste em obter o reforço do poder do Estado legitimando sua ação face aos críticos religiosos (Lazzeri, 1992, p. 128-129; Thuau, 1966, p. 365-366). Mas, do mesmo modo que justificou a violência, o discurso bem-sucedido de Charron espraiou o governo político das paixões por todo século XVII. A reta razão estoica e a Razão de Estado se produzem conjuntamente no prudente governo das paixões do povo.
O amor-próprio como grade de leitura das condutas políticas
Na metade do século XVII, o governo das paixões passou a sofrer forte influência do pessimismo religioso dos jansenistas. Adeptos de um agostinismo rigoroso, com forte pendência para a predestinação da graça, constituíam a vertente da contrarreforma que mais se aproximava dos calvinistas.
Os jansenistas descartavam a saída intermediária oferecida pelo humanismo devoto de Camus, que distinguia o amor-próprio, cuja cobiça pecadora faz com que nos detenhamos em nós mesmos e na criatura, do amor por si mesmo, que, ainda que não tão perfeito quanto o puro amor desinteressado por Deus, nos remete a Ele como esperança de salvação, como Supremo Bem em nós e para nós (Terestchenko, 2000, p. 69-73). Os jansenistas afirmavam apenas uma única forma corrompida de amor de si no homem decaído. Contrariando parcialmente os estoicos, os jansenistas não acreditavam no livre poder racional do homem de controlar as próprias paixões, sendo a vontade determinada ou pela graça ou pelo amor-próprio corrompido. A graça produziria um deleite superior que se imporia vitorioso à concupiscência, sem, no entanto, apagar o egoísmo inextricável do homem. A delectatio victrix mantinha a vontade livre apenas no sentido de que ela não contrariava externamente o querer. A razão deliberativa viria somente a posteriori da determinação volitiva, dificilmente podendo ser distinguida dos apetites sensitivos, pois adviria de uma sensibilidade da concupiscência ou da graça (Levi, 1964, p.210).
A visão pessimista de Jansenius permitia um novo uso político das paixões, mas sem eliminar as técnicas e o governo político de tipo neoestoico. No tratado De l’usage des passions, por exemplo, o jansenista Jean-François Senault (1987) propunha uma síntese entre a definição escolástica, a prevalência do amor agostiniana (na versão jansenista) e a terapêutica neoestoica, casando a razão com a graça e colocando o amor caridoso como condição para o bem sucedido governo racional das paixões. Tal combinação forma, segundo Anthony Levi (1964, p. 214), “o mais instrutivo tipo de ética da metade do século”.
O determinismo volitivo a priori dos jansenistas permitiu a constituição de uma grade de leitura das condutas humanas pela chave do amor-próprio, abarcando inclusive as boas ações e as aparentes virtudes. E, por meio disso, permitiu uma previsão das futuras posições políticas e uma ação sobre as condutas por meio da manipulação dos interesses egoístas que guiam as paixões. Desse modo, muito antes do interesse econômico se consolidar como um princípio geral de decifração das condutas, o amor-próprio jogou esse papel de causa geral do comportamento humano.
Para Senault, a moral propõe o uso das paixões e “instrui os políticos e lhes ensina a governar os Estados governando suas paixões” (1987, p. 27). Na dedicatória feita ao Cardeal Richelieu, após afirmar que “é preciso regrar as afecções antes de conduzir os homens” (1987, p. 2), reconhecendo que o Cardeal submeteu as suas paixões ao Amor e à Razão sustentados pela graça, Senault remete ao que ele considera ser “a maior obra que pode empreender um homem de Estado” (1987, p. 137): ler as intenções no fundo dos corações e desvelar os pensamentos secretos e dissimulados (1987, p. 7 e 138). O regramento justo das próprias paixões é complementado assim pelo uso prudente das paixões alheias (Senault, 1987, p. 7). Sendo o coração dos homens um abismo, caracterizado pela profundidade, vastidão de desejos, insatisfação crônica, mas também pelo segredo e pela obscuridade que o rodeia, apenas há frágeis indícios para adivinhar os sentimentos e pensamentos que ele esconde. Para decifrar o que as palavras escondem, Senault propõe o conhecimento das paixões, já que “elas escapam contra nossa vontade, elas nos traem por sua presteza e volatilidade” (1987, p. 138). Sendo difíceis de conter, elas se erguem sem nossa licença, atuando como verdadeiras torturas, tanto pelo tormento que causam, como por sua força que nos obriga a confessar a verdade. E é assim que aquele que não aprendeu a governá-las e preveni-las acaba por se entregar aos inimigos e a permitir a eles governarem-nas astuciosamente (Senault, 1987, p. 138).
Conhecendo as paixões humanas melhor do que os sujeitos conhecem a si mesmos, o Cardeal Richelieu, segundo Senault, teria ganhado os súditos e adversários, servindo-se das paixões como “cadeias para prendê-los e detê-los”. Acorrentados pelo coração, seria possível os conduzir segundo os desejos e as necessidades do governante, que imitaria no Estado a condução de Deus no mundo: primeiro, acomodando-se às inclinações de suas criaturas e agindo tanto com afabilidade quanto com força; segundo, fazendo-os obedecer sem que eles conheçam os mistérios de quem governa (divinos, no caso de Deus, do Estado, no caso do Cardeal). O modelo divino de governo das vontades descrito por Santo Agostinho é mais uma vez copiado pelo governo político no Estado absolutista francês. A estratégia sugerida por Senault estaria abaixo da Majestade da Religião. Ela inicialmente levaria em consideração a fraqueza passional, persuadindo-a por seus próprios interesses e servindo-se de suas inclinações de modo a suavizar seu furor, para, somente então, encaminhar os homens para a virtude e a caridade (Senault, 1987, p. 32).
Nessa forma de conhecimento que busca desvendar as verdadeiras afecções que comandam o coração, o amor-próprio emerge como um laxismo causal capaz de explicar todas as condutas humanas. Os moralistas franceses da segunda metade do século, amplamente influenciados pelos jansenistas, atribuem ao amor-próprio características variadas e mesmo contraditórias: “ele é impetuoso e obediente, sincero e dissimulado, misericordioso e cruel, tímido e audacioso” (La Rochefoucauld, 1992, p. 180). Sendo oculto, abismal, astucioso, invisível a si mesmo, hábil, refinado, frívolo, volúvel, múltiplo ou uno, metamorfoseando-se permanentemente, variando seu ritmo, inclinando-se conforme o temperamento, a idade, a fortuna e a experiência, lutando contra si mesmo ou se afirmando incondicionalmente, conduzindo ao sucesso ou ao fracasso e produzindo as mais variadas paixões, sua incrível plasticidade dá conta da totalidade do universo humano: “Eis a pintura do amor-próprio, diz La Rochefoucauld (1992, p. 181), da qual toda a vida não é senão uma grande e longa agitação [...] ele vive em toda parte, ele vive de tudo como de nada” (La Rochefoucauld, 1992, p. 181).
O amor-próprio e suas paixões como chave de leitura do que se esconde no coração ganham importância não apenas do ponto de vista do reformismo moral jansenista, mas igualmente de um ponto de vista propriamente político dos segredos na Razão de Estado. Os arcana imperii estão vinculados, por um lado, ao misticismo do rei, traçando um paralelo entre o governo divino e o governo político que coloca o príncipe em posição transcendente em relação à sociedade, conferindo à sua ação a dimensão do sagrado. Por outro lado, eles estão vinculados à arte de dissimular entre poderosos e ao estratagema secreto que o príncipe utiliza à exceção da lei visando o bem público (Senellart, 1995, p. 245-277). O conhecimento das paixões oferece justamente a técnica de decifrar esses segredos e estratégias, prestando-se à previsibilidade da ação dos adversários e à manipulação das vontades e condutas de súditos e poderosos. Eis uma análise bastante operacional no contexto de conflito interno francês (Fronde) derivado da unificação do Estado nacional e do conflito externo europeu, com as emaranhadas alianças na Guerra dos Trinta Anos (Goldmann, 1959; Thuau, 1966).
A reversão da regra do amor: a afirmação do amor-próprio esclarecido
Os moralistas franceses denunciavam de maneira sistemática o amor-próprio. Eles dissecavam as almas, perseguindo e expondo os motivos que se escondiam sob as condutas aparentemente virtuosas e desinteressadas. Para eles, não há nada que a vontade humana possa querer ou a alma aprovar que já não esteja marcado por esta consideração por si mesmo. Segundo La Rochefoucauld (1992, p. 181): “O amor-próprio é o amor de si mesmo e de todas as coisas por si”. Esta é a lei inscrita nos fundamentos secretos da vontade, sua verdade inconsciente e obscura. O conhecimento de si mesmo e a busca da perfeição moral não passariam de uma ilusão forjada por uma consciência enganadora, que ignora o seu próprio ser egoísta e interessado. Como afirma Terestchenko (2000, p. 21), “o homem, todo homem, obedece, consciente ou inconscientemente, seja para sua felicidade ou para sua perdição, para sua glória ou para sua ruína, à dura lei de bronze do amor-próprio”. Corrompendo todas as relações, inclusive as mais íntimas, pois “nós não podemos nada amar a não ser por referência a nós”, não pode haver laço humano desinteressado. A intenção dos moralistas franceses não era prescrever condutas, função que delegaram para os diretores de consciência, mas descrevê-las de modo a conduzir o leitor “a romper com uma representação favorável que ele forma de sua pessoa e de suas motivações e, indiretamente, a se reformar, ao menos sob o ângulo da lucidez com a qual ele se considera” (Lazzeri, 2001, p. 294).
Os moralistas, no entanto, para além da questão da intenção moral, deparam-se com a questão da ação e de seus resultados. Trata-se de uma questão central já que o desvelamento do amor-próprio como princípio da ação humana remete ao perigo que tal motivação coloca para a existência e estabilidade dos laços sociais. “Todos os homens odeiam naturalmente uns aos outros”, afirma Blaise Pascal (1992, p. 384). Concebida como não podendo ser erradicada, ainda que reprimível por sanções, essa maneira de sentir oposta às prescrições da religião constituía-se como importante problema político. O amor-próprio, desfazendo a caridade e promovendo a indiferença em relação ao próximo, aparece como fonte potencial de conflito, ameaçando a conservação da sociedade em um momento de grande temor de guerras civis.
A saída encontrada pelos moralistas jansenistas é a fundação de uma nova concepção de Providência Divina, cuja sabedoria infinita conferiria um resultado paradoxal ao amor-próprio: não sendo curado a não ser pela graça divina, seus efeitos negativos podem, no entanto, ser compensados pela ação de seu próprio veneno, gerando efeitos positivos como a paz e a melhoria do bem-estar material. Inspirada no ideal de equilíbrio harmônico da medicina galênica, essa versão do providencialismo oferece uma saída pacificadora pelo contrabalanceamento das paixões (Hirschman; 2013; Klibansly, Panofsky e Saxl, 1989, p. 32-33). Mas o decisivo é que esse equilíbrio se desloca agora do indivíduo para o conjunto da sociedade, ideia que acarretaria profundas transformações políticas.
A possibilidade do contrabalanceamento se daria pelo esclarecimento do amor-próprio, dele ser dirigido e canalizado pela razão. Mas agora não se trata da razão neoestoica que se coloca acima das paixões, mas de uma razão inteiramente submetida a elas e engajada em seus fins, excluindo qualquer ponto de vista extrínseco (Laval, 2007, p. 191-194; Lazzeri, 2001, p. 298-300). Foi essa razão calculista imanente, que intermedia a satisfação das paixões, que permitiu ao providencialismo jansenista reverter a história da metafísica ocidental.
No ensaio De la charité et de l’amour-propre de Pierre Nicole (1999), ao analisar as diferentes maneiras pelas quais é possível amar a si mesmo, o autor afirma que o amor-próprio esclarecido desloca seus objetos de satisfação, desistindo, em razão do medo da morte, de dominar a todos para passar a buscar a comodidade e o prazer de se fazer amar pelos demais. Desse modo, ainda que “o amor-próprio dos outros homens se oponha a todos os desejos do nosso” (Nicole, 1999, p. 382), a tensão social é dirimida porque, para obter o amor alheio, renunciamos externamente à busca de poder e riqueza e realizamos um comércio que envolve satisfazer o amor-próprio dos outros para obter como recompensa a satisfação do nosso. O comércio das paixões fundamenta assim a ideia de que uma sociedade baseada em laços comerciais promoveria a pacificação e a prosperidade. Afinal, esconder o amor-próprio é a melhor maneira de evitar a aversão dos outros e de se fazer amar por eles, garantindo a segurança e a melhoria de vida. Com isto, como afirma Nicole:
“Ainda que não haja nada mais oposto à caridade que remete tudo a Deus do que o amor-próprio que remete tudo a si, não há nada, no entanto, tão parecido aos efeitos da caridade quanto os do amor-próprio. Pois tudo se passa tão da mesma maneira, que praticamente não se saberia demarcar as vias pelas quais a caridade nos deve conduzir daquelas que toma o amor-próprio esclarecido, que sabe reconhecer seus verdadeiros interesses, e que tende pela razão ao fim que ele se propõe” (1999, p. 381).
Tal afirmação conduz Nicole a recomendar uma reversão da regra do amor agostiniana no governo político das paixões, prescrevendo o amor-próprio esclarecido como receita para a ordem social. Nicole propõe então uma nova tarefa para os governantes políticos:
“para reformar inteiramente o mundo – isto é, para banir todos os vícios e todas as desordens grosseiras, e para fazer os homens felizes ainda nesta vida – seria preciso apenas, na falta da caridade, dar a todos um amor-próprio esclarecido, que saiba discernir seus verdadeiros interesses e aí seguir pelas vias que a reta razão lhes demonstrar. Por corrompida que esta sociedade possa ser internamente e aos olhos de Deus, não haverá nada externamente mais regrado, mais civilizado, justo, pacífico, honesto, generoso e mais admirável” (1999, p. 408).
Nicole sugere assim aos governantes reproduzirem no Estado o mesmo modelo divino de governo das paixões proposto pelo providencialismo jansenista. A inspiração é a ideia pascalina de que haveria uma “razão dos efeitos” capaz de “ter retirado da concupiscência uma tão bela ordem” (Pascal, 1992, p. 349). O que se altera, portanto, não é a cópia do governo divino das vontades pelo político, mas a própria concepção do divino, que passa a se expressar por meio de leis geométricas inscritas na natureza. É essa teologia natural que permite, portanto, uma reversão da regra cristã do amor no interior do próprio discurso religioso. Mas, na medida em que se constitui uma ordem humana concupiscente, o cristianismo, com a pregação do amor a Deus e ao próximo, passa a se tornar dispensável e até mesmo prejudicial. Surge então a possibilidade de uma ciência que busca decifrar as leis da natureza aplicadas à sociedade humana (Dufour, 2013; Laval, 2007; Steiner, 2017). Essa ciência substituía a terapêutica estoica por uma física das paixões de inspiração galileana, sendo as paixões o princípio ativo que influenciava decisivamente a vontade e guiava a razão. As paixões convertiam-se assim no motor das condutas humanas (Moreau, 2003, p. 5-9; Hirschman, 2013, p. 16-18).
Pierre Bayle dá um testemunho decisivo das consequências paradoxais para a própria religião desse providencialismo que propõe uma ordem humana concupiscente. Ao questionar se uma sociedade ateia poderia ser virtuosa, Bayle responde positivamente, pois o que interessa não é o que os indivíduos venham a mostrar em matéria de virtude, mas o plano oculto de Deus a respeito deles, que chega até à utilização de seus vícios privados, particularmente do amor-próprio, para satisfazer a virtude pública. Uma sociedade ateia pode assim ser inclusive mais forte e próspera que uma sociedade formada por seguidores dos preceitos cristãos, do que se depreende uma nova diretriz política:
“Se vós quereis que uma nação seja forte o suficiente para resistir a seus vizinhos, deixei as máximas do cristianismo como temas para os predicadores: conservei-as para a teoria e levei a prática sob as leis da natureza que permitem pagar na mesma moeda e que nos excitam a nos elevar acima de nosso estado, a tornar-nos mais ricos e de melhor condição que nossos pais. Conservei da avareza e da ambição toda a vivacidade, defendei-as somente do roubo e da fraude, animei-as pela recompensa: prometei uma pensão àqueles que inventarem novas manufaturas ou novos meios de ampliar o comércio. Enviei por toda parte gente em busca de ouro [...] que nada possa parar a paixão de se enriquecer e vós acumulareis em vosso país as riquezas de muitos outros” (Bayle, 1966, p. 361).
A naturalização do providencialismo jansenista abriu caminho assim para uma ruptura entre o governo político e o religioso das paixões. A nova regra emocional política inverte no espaço de um século a concepção neoestoica de Charron, convertendo em norma o amor-próprio esclarecido que se desdobra na avareza e na ambição, paixões características de uma sociedade comercial.
Do poder pastoral à Economia Política: o comércio como dispositivo emocional
Em Pierre Nicole, a ideia de que o comércio das paixões pode levar a efeitos positivos remete a uma ideia ampla de comércio no sentido de interação entre pessoas. Mas a exemplificação fornecida no texto acaba apontando para um sentido restrito de comércio, que ganhou força progressivamente. Segundo Nicole (1999, p. 408):
“Por exemplo, quando se vai ao interior, há pessoas em quase toda parte que estão prontas a servir os que passam e que têm casas prontas para os receber. Podemos dispor dessas hospedagens como quisermos. Eles recebem ordens e obedecem. Ficam satisfeitos por aceitarem os serviços. Nunca reclamam por prestar a ajuda que lhes é solicitada. O que poderia ser mais admirável do que essas pessoas, se fossem animadas pela caridade? Mas é a cobiça que os faz agir [...]. Que caridade seria construir uma casa inteira para um outro, mobiliá-la, estofá-la, para lhe entregar com a chave na mão? A avareza fá-lo-á alegremente. [...] A avareza faz tudo isso sem nenhuma pena”.
A mediação comercial emerge como capaz de harmonizar os amores-próprios, colocando a satisfação de um a serviço da necessidade dos outros e aumentando o bem-estar material de todos. O mundo mercantil é assim apresentado como sendo semelhante à graça em seus efeitos, produzindo os mesmos comportamentos externos e o bem comum, embora as motivações internas sejam opostas. Pierre Nicole inaugurou uma concepção dos laços comerciais como novo princípio normativo que ao mesmo tempo derivava das e substituía as diretrizes religiosas e pastorais. Essa ideia teológico-política foi posteriormente desenvolvida na nascente Economia Política, sendo a base do raciocínio do predecessor do laissez-faire fisiocrata e considerado o primeiro economista francês, Pierre de Boisguilbert (não por acaso discípulo de Pierre Nicole). Essa ideia também ganhou novas versões na longa linhagem do liberalismo econômico (ou liberalismo radical-utilitarista, nos termos de Foucault, 2004b), passando do registro teológico para o de fábula em Bernard Mandeville, depois para o de metáfora (a famosa “mão invisível”) em Adam Smith e, por fim, para o de hipótese lógico-dedutiva na teoria econômica pura de Léon Walras, quando então adquiriu a roupagem matemática e científica da economia contemporânea.
A versão jansenista da providência e de como ela governa os amores-próprios permite explicar de outra forma a passagem, mencionada por Foucault (2004a), do governo pastoral, baseado no modelo divino, para o governo liberal, baseado na natureza. Não se trata exatamente de um rompimento discursivo, mas de um deslocamento. O que mudou não foi a substituição da referência religiosa pela científico-natural, mas sim o próprio discurso religioso, que adotou uma nova concepção de como o providencialismo opera. Como o governo político permanecia se inspirando no modelo divino, ele assumiu uma nova lógica de ação baseada na teologia natural, que fazia as leis de Deus se inscreverem nas leis da natureza, abrindo caminho para uma visão científica e secularizada de mundo (Steiner, 2018). É assim, pois, que as leis naturais se convertem em um limite para a utilidade das intervenções do governo, como no caso de uma emergente visão idealizada do mercado como guiado por leis inscritas pela divindade na natureza humana. Eis então a construção das paixões como forças morais que operam no âmbito humano, em paralelo com a física newtoniana (Moreau, 2003).
Nesse contexto, o mercado acaba emergindo como um dispositivo emocional de caráter religioso e político que promove a harmonização dos amores-próprios e a satisfação coletiva, uma saída pacificadora e materialmente próspera para as guerras civis e religiosas do início da modernidade europeia. É possível mesmo arriscar a dizer que o mercado idealizado foi o mito fundador (e, por isso mesmo, sempre retomado e atualizado) da modernidade anglo-saxã, já que forneceu uma explicação teológico-natural, ao mesmo tempo neutra do ponto de vista religioso e secular do ponto de vista da Economia Política, que permitiu aos ingleses justificarem o motivo de continuarem vivendo juntos (e moldando a maneira de viverem juntos) a despeito das suas fraturas internas.
Essa valorização do mercado como o dispositivo emocional por excelência, bem como a ideia de que os seres humanos comercializam paixões, acabou por identificar a natureza humana com a profissão de comerciante. Como nota Christian Laval (2007), Jacques Esprit resumiu do seguinte modo uma concepção presente nos moralistas franceses da época: “poucos se dão conta de como todos os homens são comerciantes, todos disponibilizam algo para venda” (Esprit, 1996, p. 309). Sendo todos os homens comerciantes, o amor-próprio foi progressivamente identificado com o seu desdobramento em paixões mercantis, como a avareza e o amor do lucro, e o esclarecimento foi equiparado ao cálculo econômico. Com isso, o amor-próprio esclarecido foi sendo progressivamente igualado e substituído pela concepção de interesse econômico como o princípio geral do qual derivam os comportamentos e as demais paixões. Nesse sentido, diferentemente do que argumenta Hirschman (2013), não foi o interesse como um eufemismo para o amor-próprio e como uma paixão compensatória tida como menos danosa que permitiu a reversão da regra emocional central do Ocidente. Ao contrário, foi a emergência político-religiosa da regra emocional do amor-próprio esclarecido, mediado pelo dispositivo emocional do mercado, que criou as condições para a emergência da racionalidade econômica moderna.
A reversão da regra emocional do amor, com seu deslocamento da religião para a racionalidade política e econômica, foi um acontecimento decisivo para a modernidade, estando na base da nascente governamentalidade liberal. Mas a reversão da regra emocional gerou escândalos e reações que se fizeram sentir tanto na religião quanto na política, com reiteradas tentativas de recuperar o amor benevolente como princípio de organização da sociedade (Andrade, 2016). As disputas em torno da regra do amor se mantiveram assim no centro da política moderna, mas essa discussão já é objeto de outros capítulos da história do poder emocional.
Referências Bibliográficas
ANDRADE, D. P. Governing ‘emotional’ life: Passions, moral sentiments and emotions. International Review of Sociology, 24(1), 110–129, 2014.
ANDRADE, P. Emotional economic man: Power and emotion in the corporate world. Critical Sociology, 44(4–5), 785–805, 2015.
ANDRADE, D. P. O Governo dos Sentimentos Morais no Século XVIII. Dados, 59(1), 233–270, 2016.
ANDRADE, D. P. The emergence of modern emotional power: governing passions in the French Grand Siècle. Theory & Society, 49 (3), 465–491, 2020.
AUERBACH, E. De la Passio aux passions. In Le culte des passions. Essais sur le XVIe siècle français. Paris: Macula, 51–81, 1998.
BAYLE, P. Continuation des pensées diverses sur la comète. In Oeuvres diverses, III, Georg Olms: Verlagbuchhandlung, 1966.
BERMON, E. La théorie des passions selon Saint Agustin. In B. BESNIER, P.-F. MOREAU e L. RENAULT. Les passions antiques et médiévales. Paris: PUF, 173-212, 2003.
CHARRON, P. De la sagesse. Paris: Fayard, 1986.
DIXON, T. From passions to emotions. The creation of a secular psychological category. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.
DUFOUR, D.-R. A cidade perversa: liberalismo e pornografia. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2013.
FOUCAULT, M. História da sexualidade 2: O uso dos prazeres. Rio de Janeiro: Graal, 1984.
FOUCAULT, M. Il faut défendre la société. Cours au Collège de France 1975–1976. Paris: Gallimard/Seuil, 1997.
FOUCAULT, M. Sécurité, territoire, population—Cours au Collège de France (1977–1978). Paris: Seuil/ Gallimard, 2004a.
FOUCAULT, M. Naissance de la biopolitique—Cours au Collège de France (1978–1979). Paris: Seuil/ Gallimard, 2004b.
GOLDMANN, L. Le dieu caché. Paris: Gallimard, 1959.
HIRSCHMAN, A. The passions and the interests. Princeton: Princeton University Press, 2013.
HOCHSCHILD, A. The commercialization of intimate life: Notes from home and work. Berkeley: University of California Press, 2003.
JAMES, S. Passion and action. The emotions in seventeenth-century philosophy. New York: Oxford University Press, 1997.
KLIBANSKY, R., PANOFSKY, E., & SAXL, F. Saturne et la mélancolie. Paris: Gallimar, 1989.
LA ROCHEFOUCAULD, F. Réflexions ou sentences et maximes morales/Réflexions diverses. In LAFFONT, R. (Ed.) Moralistes du XVIIe siècle. De Pibrac à Dufresny. Paris: Éditions Robert Laffont, 1992.
LAVAL, C. L’homme économique. Essai sur les racines du néolibéralisme. Paris: Gallimard, 2007.
LAZZERI, C. Le gouvernement de la raison d’état. In LAZZERI, C. e REYNIÉ, D. Le pouvoir de la raison d’état, Paris, PUF, 1992.
LAZZERI, C. Les moralistes français du XVIIe siècle: la suprématie de l’amour-propre et de l’intérêt. In CAILLÉ, A., LAZZERI, C. e SENELLART, M. Histoire raisonnée de la philosophie morale et politique: le bonheur et l’utile. Paris: La Découverte, 2001.
LEVI, A. French moralists. The theory of the passions 1585 to 1649. Oxford: Oxford University Press, 1964.
LIPSIUS, J. Les politiques—livre IV. Caen: Presse Universitaire de Caen, 1994.
LIPSIUS, J. Sobre la constancia. Cáceres: Universidad de Extremadura, 2010.
MOREAU, P.-F. Les passions: cotinuités et tournants. In BESNIER, B., MOREAU, P.-F. e RENAULT, L. Les passions antiques et médiévales. Paris, PUF., 1-12, 2003.
NICOLE, P. Essais de morale. Paris: PUF, 1999.
OESTREICH, G. Neostoicism and the early modern state. Cambridge: Cambridge University Press, 1982.
QUILLIET, B. L’acharnement théologique: histoire de la grâce en Occident, IIIe-XXIe siècle. Paris: Fayard, 2007.
SAINT AUGUSTIN. De correptione et gratia. In Œuvres. Paris: Desclée de Brouwer, 1962.
SAINT AUGUSTIN. Cité de Dieu. In Œuvres. Paris: Gallimard, tomo II, 2000.
SAINT AUGUSTIN. La grâce et le libre arbitre. In Œuvres. Paris, Gallimard, tomo III, 2002.
SAINT-CYRAN. Maximes extraites de Maximes saintes et chrétiennes. In LAFFONT, R. (Ed.) Moralistes du XVIIe siècle. De Pibrac à Dufresny. Paris: Éditions Robert Laffont, 1992.
SENAULT, J.-F. De l’usage des passions. Paris: Fayard, 1987.
SENELLART, M. Les arts de gouverner. Paris: Seuil, 1995.
STEINER, P. Foucault, Weber: a conduta de vida e o mercado. In JARDIM, F., TEIXEIRA, A., LÓPEZ-RUIZ, O., OLIVA-AUGUSTO, M. Max Weber e Michel Foucault: paralelas e intersecções. São Paulo: Educ/Fapesp/ Fflch, 2018.
TALON-HUGON, C. Les passions rêvées par la raison. Paris: Vrin, 2002.
TERESTCHENKO, M. Amour et désespoir. De François de Sales à Fénelon. Paris: Seuil, 2009.
THUAU, É. Raison d’État et pensée politique à l’époque de Richelieu. Paris: Colin, 1966.
WEBER, M. A ética protestante e o espírito do capitalismo. São Paulo: Companhia das Letras, 2004.
Daniel Andrade
Professor de sociologia da FGV EAESP e pesquisador associado do Laboratoire Sophiapol, doutor e mestre em sociologia pela FFLCH-USP, com estágio doutoral na EHESS-Paris e pós-doutoral na Université Paris Ouest Nanterre La Défense. Autor do livro Nietzsche – experiência de si como transgressão, Annablume, 2007 e de artigos nacionais e internacionais sobre o poder emocional nas sociedades moderna e contemporânea e sobre governamentalidade neoliberal.
Os textos deste artigo foram revisados por terceiros e submetidos para validação do(s) autor(es) antes da publicação