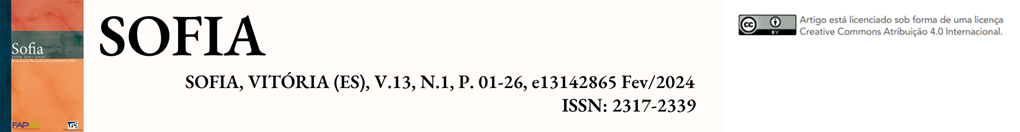
Por uma ‘economia política da natureza’ e do trabalho
For a ‘political economy of nature’ and work
Gustavo Henrique Fontes de Holanda
UFPR – Universidade Federal do Paraná
Recebido: 10/11/2023
Received: 10/11/2023
Aprovado: 24/01/2024
Approved: 24/01/2024
Publicado: 02/02/2024
Published: 02/02/2024
RESUMO
Neste artigo pretendemos investigar a origem e o alcance do conceito de Economia Política da Natureza, quando aplicado à luta indígena pela demarcação de seus territórios, em confronto com a dinâmica dos interesses da mercantilização capitalista da terra e dos chamados 'recursos naturais', através da análise dos fundamentos da economia política, com ênfase na sua conceitualização do trabalho. A seguir faremos um levantamento da leitura histórico-materialista destes fenômenos, para finalmente comparar estas teorias com a perspectiva antropológica do “valor” do trabalho e da divisão social das riquezas em sociedades não articuladas pelo mercado auto-regulado.
Palavras-chave: Filosofia, Antropologia, Economia Política, Trabalho.
ABSTRACT
In this article we intend to investigate the origin and scope of the concept of Political Economy of Nature, when applied to the indigenous struggle for the demarcation of their territories, in confrontation with the dynamics of the interests of the capitalist commodification of land and so-called 'natural resources', through the analysis of the foundations of political economy, with emphasis on its conceptualization of work. Next, we will survey the historical-materialist reading of these phenomena, to finally compare these theories with the anthropological perspective of the “value” of work and the social division of wealth in societies not articulated by the self-regulated market.
Keywords: Philosophy, Anthropology, Political Economy, Work.
Para Mauro W. B. Almeida
Introdução
Neste artigo pretendemos investigar a origem, o alcance e o escopo do conceito de Economia Política da Natureza, a fim de averiguar sua pertinência quando aplicado à luta indígena pela demarcação de seus territórios, relativa ao confronto com a dinâmica predatória e privatista dos interesses da mercantilização capitalista da terra e dos chamados ‘recursos naturais’. Este tema por sua vez, nos convidou ao estudo de como se sedimentaram os alicerces teóricos e práticos da estruturação moderna desta divisão das riquezas, a qual historicamente sempre beneficiou os grandes produtores e proprietários em detrimento dos pequenos proprietários e camponeses, dando mais importância ao fluxo constante de capitais do que aos seres humanos impactados pelas suas práticas produtivas. Através de um modelo que, para se impor plenamente, precisou destruir os modos de vida que antecedem (e resistem) às dinâmicas capitalistas, em diversos locais ao redor do planeta.
Genealogia do conceito
O conceito de ‘Economia Política da Natureza’ surge quando o antropólogo francês Bruce Albert – co-autor do livro A queda do Céu (2015), junto com o xamã Yanomami Davi Kopenawa; busca enfeixar no mesmo raciocínio a elevação da taxa da onça de ouro, “que atingiu um recorde histórico de 850 dólares ($850,00) na bolsa de Londres no começo de 1980” (Albert, 2002, p. 6), com a invasão do garimpo ilegal sobre a Terra Yanomami. Ocorreu que, como consequência desta elevação brutal e abrupta do valor do ouro no mercado mundial, houve uma intensificação da garimpagem na Amazônia que a alçou a “atividade econômica dominante” na região, chegando a ocupar, ainda na década de 1980, cerca de meio milhão de garimpeiros.
Esta ‘corrida do ouro’, segundo Albert, teria “explodido no coração do território yanomami, em Paapuí, um posto indígena da Funai no alto rio Macajaí”, em 1986. Já em meados do ano seguinte, quatro lideranças que resistiam ao avanço extrativista foram assassinadas, e desde então “a invasão maciça começou”. Dezenas de milhares de garimpeiros assolaram a região, com suas ferramentas, armas e doenças (entre as quais aquilo que os yanomami chamaram de ‘febre do ouro canibal’). Não é difícil relacionar estes eventos com o que ficou conhecido como ‘massacre de Haximu’, que vitimou dezesseis yanomami em 1993, no que posteriormente se configurou como o primeiro processo em que cidadãos brasileiros foram julgados e condenados pelo crime de genocídio.
No entanto, o conceito de Economia Política da Natureza, apesar de intuitivo, não é óbvio ou autoexplicativo, isto porque envolve mais de uma ciência, no caso Economia Política e Antropologia, razão pela qual achamos que seria pertinente uma abordagem filosófica. Neste sentido, entendemos que tal conceito exige, para sua utilização precisa, algumas mediações teóricas que não constam na formulação original de Albert. Afinal, Economia Política é um campo de investigação já bem consolidado no pensamento ocidental, cujo surgimento remonta à segunda metade do século XVIII, tendo o francês François Quesnay e o escocês Adam Smith como seus ‘pais fundadores’. E é fato que as ligações destes pensadores com o horizonte da Antropologia ou qualquer pesquisa relacionada aos povos nativos são tão remotas quanto problemáticas.
Fundamentos da Economia Política: O liberalismo de Adam Smith
Adam Smith, tem a singularidade de sua contribuição estreitamente ligada a três aspectos: I) a capacidade de abstração com relação à análise dos fluxos de capital; II) a fundamentação metafísica de todo o sistema a partir do postulado de uma ‘propensão natural à barganha’ e, III) a elegância literária de seu estilo, muito superior à de seu precursor Quesnay, e de seu continuador, David Ricardo.
Este pensador, ao propor uma alternativa à teoria fisiocrata, recupera as contribuições do economista inglês William Petty (1623-1687), cujas ideias, elaboradas um século antes, já propunham que a origem de toda riqueza não estaria nem na terra nem no ouro, mas sim no trabalho. Segundo Paul Singer, “Smith retoma o problema nas linhas em que Petty o colocou, distinguindo o valor de uso e o valor de troca das mercadorias” (Singer, in Smith, 1979, p. X).
Esta mudança de foco na análise da Economia Política, que passa desde aí a investigar prioritariamente a questão do trabalho relacionado a sua produtividade, forneceu as bases para a teoria de que “a riqueza de uma nação é expressa pelo seu produto per capita” (Singer, in Smith, 1979, p. XI). A questão do trabalho em Smith propõe a divisão de toda a sociedade entre, de um lado aqueles que efetuam um trabalho considerado produtivo e, do outro, os improdutivos. O critério fornecido pelo autor para essa classificação é: “há uma espécie de trabalho que acrescenta ao valor do objeto a que é aplicado; e há uma outra que não tem esse efeito. O primeiro, que produz um valor, pode ser designado pelo nome de trabalho produtivo; e o segundo pelo de trabalho improdutivo” (Smith, 1974, p. 209). O que deixa clara a visão ‘materialista’ da riqueza de Smith, ou seja, trabalho produtivo é trabalho que se consolida materialmente em objetos, ou, como diz o autor, “uma quantidade de trabalho que fica armazenada, e que pode, quando necessário, ser novamente utilizada” (Smith, 1974, p. 209).
Smith assim postula de forma categórica que “o trabalho foi o primeiro preço, a primeira moeda de troca que foi paga por todas as coisas” (Smith, 1974, p. 33). De onde deduz que “o trabalho surge como única medida de valor rigorosa e universal, a única que nos permite comparar o valor das diferentes mercadorias em todos os tempos e lugares” (Smith, 1974, p. 37). A partir destas afirmações fica clara a centralidade que o trabalho irá ocupar na teoria do autor, a qual irá impactar toda a produção teórica da Economia Política clássica, ao propor uma análise da riqueza como sendo uma equação constituída basicamente por três elementos: renda da terra, trabalho e lucro.
Mantêm-se o trabalho como categoria central nesta nova matriz analítica, já que este “não mede apenas o valor daquela parte do preço constituída pelo salário do próprio trabalhador, mas também daqueles que são constituídos pela renda e pelos lucros” (Smith, 1974, p. 49). O autor caracteriza da seguinte maneira cada uma destas ‘três fontes originais de todo o rendimento, assim como de todo valor de troca’: “o rendimento derivado do trabalho é denominado salário; o derivado do capital administrado ou aplicado por uma pessoa é chamado lucro; [...] o rendimento que provêm da terra é chamado renda, e pertence ao seu detentor” (Smith, 1974, p.51). Deduz-se que foi então a partir da privatização das terras que a ‘renda da terra’ veio a se configurar como a primeira dedução a recair sobre o produto do trabalho:
Assim que as terras de um qualquer país se tornaram propriedade privada, os detentores de terras, como todos os outros, resolvem colher onde nunca semearam e chegam até a pedir uma renda por aquilo que constituiu um produto natural das suas terras. A madeira das florestas, a erva dos campos e todos os frutos naturais que, quando a terra era comum, só custavam ao trabalhador o esforço de os colher, acabam por ter um preço (Smith, 1974, p. 49).
Temos então que o trabalho enquanto ‘fonte original de toda riqueza’, numa sociedade onde exista a ‘acumulação de mercadoria e a apropriação privada das terras’, terá seu valor para o trabalhador mediado, ou seja, deduzido, pela renda da terra e pelo lucro. Desta estrutura conclui Smith que “o valor que os trabalhadores acrescentam aos materiais divide-se em duas partes, uma das quais paga os seus salários e a outra constitui os lucros” (Smith, 1974, p. 48). Singer aponta que isto acontece no momento histórico em que os meios de subsistência e de produção se tornaram propriedade privada de capitalistas e latifundiários, os quais permitiam aos trabalhadores o acesso a esses meios apenas em troca de uma parte do produto do trabalho, que é precisamente o excedente na forma de lucro e renda da terra (Singer, in Smith, 1974, p. XII).
Quanto às relações de poder nesta nova estrutura social, responsável direta pela divisão social das riquezas, Smith irá nos dizer que “o que nos leva a considerar um homem rico ou pobre é a quantidade de trabalho que ele pode ter à sua disposição ou que pode comprar” (Smith, 1974, p. 33). E a partir daí deduz que “como diz Hobbes, a riqueza é o poder. Mas a pessoa que adquire ou herda uma grande fortuna, não adquire ou herda necessariamente nenhum poder político, civil ou militar”. Do que se depreende que, “o único poder que essa fortuna lhe traz imediatamente é o poder de compra, uma certa autoridade sobre o trabalho, ou sobre todo o produto do trabalho que existe então no mercado” (Smith, 1974, p. 33-34).
O resultado pragmático disso é que no conflito de interesses entre trabalhadores e patrões (que irá ganhar a fórmula canônica de conflito entre capital x trabalho): uma das partes tem claras vantagens nessa disputa, já que “pode forçar a outra a aceitar um contrato nos termos que mais lhe interessam” (Smith, 1974, p. 62). Afinal
um proprietário, um agricultor, industrial ou comerciante [...] podem normalmente viver um ano ou dois anos gastando os capitais já anteriormente adquiridos [ou herdados]. Mas poucos trabalhadores poderiam resistir uma semana, menos ainda um mês, e quase nenhum um ano inteiro sem renovar pelo trabalho os meios de sua subsistência (Smith, 1974, p. 63).
A fundamentação metafísica do individualismo liberal
A questão do individualismo enquanto princípio de conduta, receberá na obra magna de Smith, a fundamentação metafísica de uma ‘tendência para negociar e trocar uma coisa por outra’ que seria ‘comum a todos os homens e não se encontra em qualquer outro tipo de animais’. Para deixar claro o caráter metafísico desta afirmação, temos que o autor chega a propor esta ‘tendência para negociar e trocar’ (a qual chamaremos aqui de ‘propensão à barganha’), como sendo uma consequência necessária das faculdades da razão e da fala (Smith, 1974, p. 19).
E para corroborar a ‘propensão à barganha’ enquanto esse fundamento metafísico da coletividade humana, Smith faz uso de diversos ‘exemplos’ tirados dos povos caçadores e coletores dos quais tinha notícia e que eram então considerados em um estágio de desenvolvimento anterior à civilização. E que por isso serviriam, genericamente, para os propósitos de demonstrar a evolução da sociedade. Sigamos então a argumentação do autor:
Numa tribo de caçadores ou pastores, poderemos encontrar, por exemplo, um indivíduo que faça arcos e flechas mais perfeitos do que qualquer outro. Esse indivíduo trocará frequentemente esses seus produtos com os dos seus companheiros, obtendo assim gado ou caça; com o tempo, apercebe-se que pode conseguir assim mais gado e carne do que se for ele mesmo a matar os animais. É o seu próprio interesse que o leva, portanto, a considerar a manufatura de arcos e flechas como a sua tarefa mais importante, transformando-se assim numa espécie de armeiro (Smith, 1974, p. 20).
Essa perspectiva de olhar um caçador tribal como um ‘empreendedor’, o qual veria na confecção de armas um ‘nicho de mercado’ a ser explorado e a partir do qual ele obteria mais vantagens individuais do que se fosse ele mesmo caçar, está tão equivocada quando prenhe de pré-conceitos capitalistas. Os quais permitiram ao antropólogo estadunidense Marshall Sahlins assinalar que Smith ao equipar “o caçador com impulsos burgueses e ferramentas paleolíticas” (Sahlins, 2005, p. 4), só poderia mesmo considerar sua situação desesperadora. Afinal, e veremos isso melhor quando nos debruçarmos sobre as dimensões antropológicas do trabalho, a produção dos povos originários (ou tribais) não tem absolutamente nada a ver com a lógica capitalista de maximização de resultados ou lucros individuais, já que ali a produção está enraizada em laços sociais de outra natureza.
Voltando a Smith, ele completa o raciocínio acerca dessa ‘propensão à barganha’, alegando o seguinte: “se não existisse em cada homem a tendência para a troca e para a compra, este ver-se-ia obrigado a produzir todas as coisas necessárias e úteis para a sua vida” (Smith, 1974, p. 21). Podemos perceber que estas considerações se apoiam no pressuposto de que os povos caçadores e coletores, nomeados aí de primitivos, “são tão miseravelmente pobres que [...] todos os indivíduos aptos para o trabalho são mais ou menos aplicados em trabalho útil” (Smith, 1974, p. 9). Implícito está aqui o poderoso pré-conceito ligado a ideia da economia de subsistência, a partir da qual se pensou estes povos condenados a uma busca incessante por comida.
Para Sahlins esta questão ganha o seguinte contorno, com o qual abre seu famoso ensaio A sociedade afluente original: “o espectro da fome caça o caçador. Sua incompetência técnica traduz-se num esforço contínuo de trabalho pela sobrevivência, não lhe proporcionando nem descanso, nem excedente, nem mesmo, portanto, ‘lazer’ para ‘constituir cultura’” (Sahlins, 2005, p. 1). Esta seria a sentença por trás do conceito de economia de subsistência, claramente presente no imaginário de Smith acerca dos povos originários (ou tribais).
O argumento se fecha e os princípios material e metafísico se tocam na obra smithiana quando o autor afirma que seria essa ‘propensão para a troca’ que teria originalmente provocado a divisão do trabalho (Smith, 1974, p. 20). O economista político húngaro Karl Polanyi (1886 - 1964) ao se debruçar sobre a obra de Smith, diz com alguma ironia, que ele “introduziu métodos empresariais nas cavernas do homem primitivo, estendendo sua famosa propensão ao comércio e à troca até os jardins do paraíso” (Polany, 2012, p. 50).
Ainda segundo Polanyi, a formulação metafísica de uma ‘propensão à barganha’ feita por Smith deu origem ao ‘homo economicus’, e acrescenta que “nenhuma leitura errada do passado foi tão profética do futuro” (Polanyi, 2002, p. 63). E de fato, o que se seguiu na história da economia foi o triunfo da “visão de mundo economicista” a qual, se representou este triunfo do ‘racionalismo econômico’, também se converteu no ‘eclipse do pensamento político’” (Polanyi, 2012, p. 56-58), ao submeter todas as questões socialmente relevantes, como trabalho, terra e divisão das riquezas, à lógica do mercado.
O eclipse da economia política
A mudança na estrutura teórica da Economia Política a partir da segunda metade do século XIX, como estratégia para tirar o foco da disciplina dessa tensão estrutural representada pela luta de classes, resultou na passagem para a análise do valor não mais a partir do trabalho, mas da satisfação subjetiva do consumidor, através da teoria que ficou conhecida como Marginalismo.
Desde então, os postulados básicos da Economia Política, “baseados nos conceitos de custo real ou de utilidade”, passaram a ser tratados como uma “obsessão em relação a questões éticas e políticas”, e que somente através do “abandono dessa busca ilusória” seria possível para a economia se estabelecer sobre uma base científica (Myrdal, apud Dobb, 1978, p. 10).
Seguindo ainda este tema, seria interessante ouvir o que outro autor clássico da Economia Política, Thomas Malthus – responsável por introduzir o ‘princípio da escassez’ como elemento estrutural desta socio-política; tem a dizer sobre a dimensão propriamente política desta ciência, ao afirmar que: “a ciência da Economia Política assemelha-se mais às ciências éticas que à matemática” (Malthus, 1986, p. 5).
Outra colocação de Malthus de particular clareza quanto a este mesmo objeto, diz o seguinte: “mais proposições de Economia Política passarão pelo teste de cui bono (a quem beneficia) que as de qualquer outra área do conhecimento humano” (Malthus, 1986, p. 8). E devemos confessar que foi a intuição deste aspecto que nos levou a nos debruçar sobre estes teóricos da Economia Política clássica, entendendo tratar-se de um aspecto crucial e estrutural de nossa sociedade, mesmo no tocante a questão indígena. Ou seja, é fundamental buscar entender quais modelos de vida se beneficiam desta estrutura e dinâmica da sociedade capitalista, e quais modelos são interditados ou duramente combatidos pela mesma.
O conceito de trabalho em Marx
O filósofo alemão Karl Marx (1818-1883) fez da Economia Política um dos temas centrais de suas investigações e foi o responsável pela conceitualização filosoficamente mais robusta do trabalho humano, enquanto essa ‘medida universal de valor’ como clamada por William Petty, Adam Smith, David Ricardo etc. Na sua obra, esse tema surge primeiramente em uma série de textos hoje conhecidos como Manuscritos Econômico-filosóficos [ou Manuscritos de Paris], escritos como resposta a uma exortação de Engels, para que o autor lesse os clássicos da Economia Política.
No primeiro volume d’O Capital, encontramos a seguinte formulação:
O trabalho é, antes de tudo, um processo entre o homem e a natureza, processo este em que o homem, por sua própria ação, medeia, regula e controla seu metabolismo com a natureza. Ele se confronta com a matéria natural como com uma potência natural [Naturmacht]. A fim de se apropriar da matéria natural de uma forma útil para sua própria vida, ele põe em movimento as forças naturais pertencentes a sua corporeidade: seus braços e pernas, cabeça e mãos. Agindo sobre a natureza externa e modificando-a por meio desse movimento, ele modifica, ao mesmo tempo, sua própria natureza. Ele desenvolve as potências que nela jazem latentes e submete o jogo de suas forças a seu próprio domínio (Marx, 2017, p. 327-328).
Observa então que os clássicos da Economia Política só haviam analisado o trabalho a partir do momento em que este já é considerado como mais uma mercadoria a ser vendida e comprada, ou seja, dentro de um sistema capitalista de mercado autorregulado. E esta é exatamente a crítica que Kar Polanyi faz a Smith, ao dizer que “o erro consiste em igualar a economia humana em geral com sua forma de mercado”. A falácia, segundo Polanyi, é evidente: “o aspecto físico das necessidades do homem faz parte da condição humana [...] por outro lado, o mecanismo de oferta-procura-preço (que chamamos mercado, em linguagem popular) é uma instituição relativamente moderna e possui uma estrutura específica” (Polanyi, 2012, p. 48).
Para se referir a este mesmo fenômeno da distinção do trabalho, ora como um elemento incontornável da condição humana, ora como ‘medida universal’ em uma sociedade de mercado, Marx faz a seguinte reflexão:
o produto do trabalho é, em todas as condições sociais, objeto de uso, mas o produto do trabalho só é transformado em mercadoria numa época historicamente determinada de desenvolvimento: uma época em que o trabalho despendido na produção de uma coisa útil se apresenta como sua qualidade ‘objetiva’, isto é, como seu valor (Marx, 2017, p. 192).
Com esse ‘passo atrás’ na análise do trabalho, acreditamos que Marx alcança o nível propriamente filosófico da questão, o que nos permite ver com mais clareza quais os mecanismos por trás do mercado formador de preços. O passo adiante em sua análise será então “prover a gênese dessa forma-dinheiro, [e assim] seguir de perto o desenvolvimento da expansão do valor contida na relação de valor das mercadorias” (Marx, 2017, p. 173).
Dito de outra forma: depois de esclarecer que o trabalho é uma dimensão ontológica do ser humano, cuja sobrevivência em todos os tempos e lugares se dá através de “uma interação institucionalizada com o meio natural” (Polanyi, 2012, p. 63); tratava-se agora de analisar como é efetuada a equação trabalho/valor em uma sociedade de mercado autorregulado. É então que Marx propõe o conceito de ‘tempo de trabalho socialmente necessário’, para funcionar como o elemento constante a fim de resolver a supracitada equação, a qual o autor coloca nos seguintes termos: “o valor de uma mercadoria está para o valor de qualquer outra mercadoria assim como o tempo de trabalho necessário para a produção de uma está para o tempo necessário para a produção de outra” (Marx, 2017, p. 163).
Nesse sentido, o ‘tempo de trabalho socialmente necessário’, segundo o filósofo, é
determinado por múltiplas circunstâncias, dentre outras: pelo grau médio de destreza dos trabalhadores [Smith], o grau de desenvolvimento da ciência e de sua aplicabilidade tecnológica [Ricardo], a organização social do processo de produção, o volume e a eficácia dos meios de produção e as condições naturais (Marx, 2017, p. 163).
Temos então que o trabalho, até então vinculado apenas ao valor-de-uso que se lhe impunham os sujeitos, relacionado à “interação homem e o meio e a institucionalização desse processo” (Polanyi, 2012, p. 78), dada pelas mais diversas paisagens e culturas do planeta, só pôde se tornar a ‘medida universal de valor’ quando se abstrai dele o sujeito e o suporte material sobre o qual sua força se emprega. Essa cisão, por sua vez, do
trabalho em coisa útil e coisa de valor só se realiza na prática quando a troca já conquistou um alcance e uma importância suficientes para que se produzam coisas úteis destinadas à troca, e portanto, o caráter de valor das coisas passou a ser considerado no próprio ato de sua produção (Marx, 2017, p. 207-208).
Dessa reflexão deduziu Marx que, “como valores, as mercadorias não são mais do que geleias de trabalho humano” (Marx, 2017, p. 177), ou seja, trabalho abstrato, “indiferente da forma natural que ele possua e, portanto, do objeto no qual ele se incorpora” (Idem, p. 193). É esse o substrato concreto, material, por trás da teoria do valor/trabalho de que se ocuparam os autores clássicos da Economia Política. O último passo ou último elemento da equação marxiana trabalho/valor, que corresponde também ao cume de abstração desse processo, será o dinheiro, cuja função será “desempenhar o papel do equivalente universal no mundo das mercadorias”, pois essa seria “sua função especificamente social e, assim, seu monopólio social” (Marx, 2017, p. 203).
Na sequência de sua teoria, o filósofo inicia a análise do caráter enigmático da mercadoria, enquanto instância suprema do novo modo de vida, a partir daquilo que chamou de ‘fetiche da mercadoria’, enquanto dinâmica que, ao entrar na circulação do mecanismo oferta-procura-preço, se transformou em “coisa sensível-suprassensível [...] muito intrincada, plena de sutilezas metafísicas e melindres teológicos” (Marx, 2017, p. 294-205).
A mercadoria então, segundo Marx, ocupa o lugar central na sociedade capitalista, onde as pessoas passam a existir (econômica e juridicamente) “uma para as outras como representantes da mercadoria e, por conseguinte, como possuidores de mercadorias” (Marx, 2017, p. 219). Assim, essa “relação social determinada entre os próprios homens assume a forma fantasmagórica de uma relação entre coisas” (Marx, 2017, p. 206-207).
No entanto, ao se debruçar sobre o caráter fetichista da mercadoria, Marx faz uma ressalva antropológica deveras importante para os desdobramentos de nossa investigação, quando acena para o contexto de outros modos de produção, outras culturas, e por que não dizer, outros mundos. Nos diz ele: “todo o misticismo do mundo das mercadorias, toda a mágica e a assombração que anuviam os produtos do trabalho na base da produção de mercadorias desaparecem imediatamente, tão logo nos refugiamos em outras formas de produção” (Marx, 2017, p. 212).
Acumulação primitiva de capital
É famosa e faz história no pensamento sociológico a análise de Marx sobre a “assim chamada acumulação primitiva de capital”, que se constitui em nada menos que “o processo histórico de separação entre produtor e meio de produção” (Marx, 2017, p. 961). Esse processo, segue o autor, “na história real”, enquanto ponto de partida da acumulação capitalista, foi “desempenhado pela conquista, subjugação, o assassínio para roubar, em suma, a violência” (Marx, 2017, p. 960). E por tal, “a história dessa expropriação está gravada nos anais da humanidade com traços de sangue e fogo” (Marx, 2017, p. 962).
No texto d’O Capital, a questão da apropriação privada e mercantilização da terra, enquanto objeto principal e icônico desta acumulação primitiva, surge pela primeira vez muitas páginas antes deste famoso capítulo 24, a partir da seguinte formulação:
Frequentemente os homens converteram os próprios homens, na forma de escravos, em matéria monetária original, mas jamais fizeram isso com o solo. Tal ideia só pôde surgir na sociedade burguesa já desenvolvida. Ela data do último terço do século XVII, mas sua implementação em escala nacional só foi tentada um século mais tarde na revolução burguesa dos franceses (Marx, 2017, p. 225).
Este raciocínio ilustra bem a questão da singularidade socioeconômica da sociedade que tornou a Economia Política possível, já que ela tinha como pressuposto a mercantilização do trabalho e da terra, em termos que eram anteriormente impensáveis. E que foi fortemente combatida num primeiro momento. Como salienta Heilbroner:
Ainda no século XIV ou XV, não havia a terra, pelo menos não no sentido moderno de propriedade livremente vendável, fonte de renda. É certo que a terra existia – propriedades, domínios, principados – mas isso não constituía bens de raiz, que se pudessem comprar e vender de acordo com a ocasião. Essas terras formavam o âmago da vida social, a base da situação e do prestígio, e constituíam a base da organização militar, judicial e administrativa da sociedade. Embora a terra fosse vendável sob certas condições (com muitas restrições), geralmente não estava à venda” (Heilbroner, 1969, P. 16).
Trata-se do fato de que ‘a acumulação primitiva de capital’, enquanto esse gesto violento de expropriação, não apenas cria a propriedade privada da terra, mas cria também, simultaneamente, uma enorme massa de produtores rurais despossuídos de seus meios de subsistência, que serão agora obrigados a oferecer sua força de trabalho como operários assalariados. Marx se utiliza do exemplo histórico das ‘leis dos cercamentos inglesa’ (Bills for Inclosure of commmons) como exemplo paradigmático deste processo em que “grandes massas humanas são despojadas súbita e violentamente de seus meios de subsistência e lançadas no mercado de trabalho como proletários absolutamente livres” (Marx, 2017, p. 963).
Acumulação primitiva ou ‘modus operandi’ capitalista: a contribuição de Rosa Luxemburgo
A filósofa e economista polonesa Rosa Luxemburgo, por sua vez, se propõe a pensar a ‘acumulação primitiva’ não como um evento inaugural da era capitalista, mas como seu modus operandi. Nas palavras da autora, dá-se o seguinte fenômeno:
Para existir e poder desenvolver-se o capitalismo necessita de um meio ambiente constituído de formas não capitalistas de produção. [...] Ele necessita de camadas sociais não capitalistas como mercado, para colocar sua mais-valia; delas necessita como fontes de aquisição de seus meios de produção e como reservatório de força de trabalho para seu sistema salarial (Luxemburgo, 1985, P. 253).
Para corroborar esta tese a autora nos dá o exemplo o exemplo paradigmático da indústria algodoeira inglesa, a qual,
na qualidade de primeiro ramo produtivo autenticamente capitalista, teria sido impossível sem o algodão dos Estados do sul dos Estados Unidos, como também sem os milhões de africanos que foram transportados para a América para fornecer a mão-de-obra para as plantações, homens que após a Guerra de Secessão vão constituir o proletariado livre da classe assalariada capitalista (Luxemburgo, 1985, P. 249).
O geógrafo marxista David Harvey, coloca que a problemática aqui apontada se dá por conta do ‘subconsumo’ advindo do processo de produção da mais-valia, ou seja, de sobre-exploração da mão de obra, cujo pagamento aos trabalhadores é, por definição, de menor valor do que aquilo que produzem, cujo resultado seria um “hiato entre oferta e demanda efetiva” (Harvey, 2005, p. 116). O que Luxemburgo propõe, portanto, e o faz buscando captar no emaranhado de interesses individuais, nacionais e violências políticas, ‘as leis férreas do processo econômico’, é que a dinâmica capitalista, segundo suas próprias regras internas de funcionamento, não é capaz de um funcionamento autossuficiente, pois não contêm em si demanda efetiva suficiente (nesse caso, poder aquisitivo dos trabalhadores) para garantir a perenidade de seu funcionamento. E por isso precisa se expandir constantemente em direção ao “comércio com formações sociais não capitalistas” como forma de “proporcionar a única maneira sistemática de estabilizar o sistema” (Harvey, 2005, p. 116). Luxemburgo, com suas próprias palavras, coloca a questão da seguinte maneira:
Uma das condições prévias indispensáveis ao processo de acumulação, no referente a sua elasticidade e sua capacidade súbita de ampliação, é a rápida inclusão de novos territórios de matérias primas, de proporções ilimitadas, a fim de poder enfrentar tanto as vicissitudes e interrupções eventuais no abastecimento de matéria prima por parte dos antigos fornecedores, quanto as ampliações súbitas das necessidades sociais (Luxemburgo, 1985, p. 246).
Concomitante a esta ‘inclusão de novos territórios e matérias primas’, a dinâmica do capital também precisa, neste seu processo de expansão, integrar os seres humanos ocupantes destes territórios como força de trabalho a ser vendida no mercado. Força de trabalho esta que o Capital encontra, como nos diz a autora, “geralmente presa a condições de produção arcaicas, pré-capitalistas, das quais precisa ser previamente ‘libertada’, para que possa engajar-se no exército ativo do capital” (Luxemburgo, 1985, p. 249).
Neste sentido, autora entende que,
esse desmantelamento da força de trabalho de suas relações sociais primitivas e sua absorção pelo sistema assalariado capitalista, seria junto com a referida inclusão de novos territórios e matérias primas, a parte complementar desta dinâmica expansiva do capital, as quais juntas constituiriam as ‘condições históricas indispensáveis do capitalismo’ (Luxemburgo, 1985, p. 249).
Para ela, esta dinâmica expansiva que leva o capitalismo a incluir insaciavelmente novas terras e matérias-primas; e converter – geralmente através da violência, os seres humanos em força de trabalho a ser vendida no mercado, leva a constatação de que, “em função de sua natureza e de sua forma de existência, o capital não admite nenhuma limitação” (Luxemburgo, 1985, p. 245). O que nos remete a uma reflexão do antropólogo francês Pierre Clastres, quando, em um artigo intitulado do Etnocídio, afirma que:
O que a civilização ocidental contém que a torna infinitamente mais etnocida que qualquer outra forma de sociedade? É seu regime de produção econômica, espaço justamente do ilimitado, espaço sem lugares por ser recuo constante do limite, espaço infinito da fuga permanente para diante. O que diferencia o Ocidente é o capitalismo, enquanto impossibilidade de permanecer no aquém de uma fronteira, enquanto passagem para além de toda fronteira; é o capitalismo como sistema de produção para o qual nada é impossível, exceto não ser para si mesmo seu próprio fim: seja ele, aliás, liberal, privado, como na Europa ocidental, ou planificado, de Estado, como na Europa oriental. A sociedade industrial, a mais formidável máquina de produzir, é por isso mesmo a mais terrível máquina de destruir. Raças, sociedades, indivíduos; espaço, natureza, mares, florestas, subsolo: tudo é útil, tudo deve ser utilizado, tudo deve ser produtivo; de uma produtividade levada a seu regime máximo de intensidade (Clastres, P., 2004, p. 62).
Contraposta a esta dinâmica expansiva do Capital estaria aquilo que Luxemburgo chama de ‘economia natural’, para se referir a todas as formas de produção nas quais se estabelece “como base de sua organização econômica a sujeição dos principais meios de produção – terra e força de trabalho – ao direito e à origem” (Luxemburgo, 1985, p. 254). E, como veremos adiante, este raciocínio está muito próximo daquilo que Polanyi irá chamar de ‘defesas tradicionais do direito costumeiro’, as quais, incidindo em todas as economias não capitalistas, impediriam a transformação da terra e do trabalho humano em meras mercadorias.
No entanto, para se realizar enquanto dinâmica expansiva que não admite limitação, o capital é levado a integrar, a incluir, tudo que estiver ao seu alcance. O que de maneira geral se desdobrou historicamente em aguerridas lutas colonialistas. Ao analisar este processo no alvorecer do século XX, Luxemburgo coloca que “essa luta assume a forma de uma política colonial”. E, seguindo de perto a associação feita por Marx entre acumulação primitiva e violência, a autora coloca que, “o capital não conhece outra solução senão a violência, um método constante da acumulação capitalista no processo histórico, não apenas por ocasião de sua gênese, mas até hoje” (Luxemburgo, 1985, p. 255).
A partir deste diagnóstico da dinâmica intrinsecamente expansiva do capital, e das consequentes lutas que esta integração forçada de terras e pessoas gera, Luxemburgo coloca que,
para as sociedades primitivas, no entanto, trata-se, em qualquer caso, de uma luta pela sobrevivência; a resistência à agressão tem o caráter de uma luta de vida ou morte levada até o total esgotamento ou aniquilação. Isso explica a ocupação militar permanente das colônias, as rebeliões dos nativos e as expedições militares para sufocá-las; estes são fenômenos constantes e fazem parte do cotidiano do regime colonial (Luxemburgo, 1985, p. 255).
Pois, “se o capitalismo vive de formas econômicas não capitalistas, vive, a bem dizer, e mais exatamente, da ruína dessas formas” (Luxemburgo, 1985, p. 273). Fenômeno que se dá pelo fato de que
O capitalismo considera de vital importância a apropriação violenta dos principais meios de produção em terras coloniais. Como as organizações sociais primitivas dos nativos constituem os baluartes na defesa dessas sociedades, bem como as bases materiais de sua subsistência, o capital serviu-se, de preferência, do método da destruição e da aniquilação sistemáticas e planejadas dessas organizações sociais não capitalistas, com as quais entra em choque por força da expansão por ele pretendida (Luxemburgo, 1985, p. 254).
Esta reflexão, acerca da sobrevivência do capitalismo a partir das ruínas das formas não capitalistas de vida coletiva [ruínas artificialmente causadas pelas guerras coloniais e de expropriação promovidas pelo próprio capitalismo, em parceria com os Estados nacionais], se encontra presente em uma reflexão contemporânea, realizada pelo antropólogo Eduardo Viveiros de Castro ao tematizar a questão da assimilação do índio pela sociedade nacional (brasileira), presente em seu texto-manifesto Os involuntários da pátria:
Forçados a se descobrirem “índios”, os índios brasileiros descobriram que haviam sido 'unificados' na generalidade por um poder transcendente, unificados para melhor serem des-multiplicados, homogeneizados, abrasileirados. O pobre é, antes de mais nada, alguém de quem se tirou alguma coisa. Para transformar o índio em pobre, o primeiro passo é transformar o Munduruku em índio, depois em índio administrado, depois em índio assistido, depois em índio sem-terra (Viveiros de Castro, 2016, p. 1-2).
Karl Polanyi e a Cosmopolítica do Capital
Por ‘cosmopolítica do capital’ estamos nos referindo a um modelo de sociedade (um mundo) que se formaliza estruturalmente na Europa na primeira metade do século XIX, e rapidamente se alastra em metástase pelo planeta via rotas marítimas e suas atividades coloniais. Estes ‘cosmos’ têm, como vimos anteriormente, a dinâmica intrínseca e estrutural do princípio expansionista, espoliador, que busca homogeneizar, através da violência, todas as outras culturas-mundo em relações reguladas pelo mecanismo da oferta-procura-preço, de forma a submeter todas as relações humanas (e com a natureza) às suas dinâmicas.
Ao se debruçar sobre as origens deste fenômeno histórico, Polanyi faz a seguinte reflexão: “podemos rastrear a moderna ascensão do mercado à condição de força dominante na economia ao observarmos até que ponto a terra e o alimento foram capturados pelo intercâmbio e o trabalho foi transformado em mercadoria a ser comprada no mercado” (Polanyi, 2012, p. 93). Ao situar historicamente o momento exato do que chamou de A grande transformação, para se referir ao período em que o mecanismo de oferta-procura-preço surge como “uma das forças mais poderosas que entraram no cenário humano”, o autor indica que este teria se efetivado em um intervalo muito curto de tempo, “uma geração, digamos – de 1815 a 1845”:
o mercado formador de preços [...] mostrou sua espantosa capacidade de organizar os seres humanos como se fossem simples quantidades de matéria-prima e de combiná-los – junto com a superfície da mãe terra, que agora podia ser livremente comercializada – em unidades industriais comandadas por pessoas privadas, que se dedicaram sobretudo a compra e venda com fins lucrativos (Polanyi, 2012, p. 52).
Acreditamos importante insistir que o que se configura a partir daí, dessa ascensão da sociedade de mercado, enquanto fenômeno extremo a partir do qual “uma sociedade inteira [é] inserida no mecanismo de sua própria economia” (Polanyi, 2012, p. 52), pode ser chamado de ‘cosmopolítica do capital’, não apenas como forma sintética de nos referir ao “mundo das mercadorias” de Marx, no qual é obrigado a viver “o povo da mercadoria” de Kopenawa (2015, p. 407). Mas sobretudo, como conceito a partir do qual é possível traçar um paralelo entre esse modo de vida e o dos povos ameríndios.
Nesta linha, nos parece muito preciso conceitualmente o ‘insight’ do xamã Yanomami Davi Kopenawa, ao chamar de “povo da mercadoria” os habitantes de uma sociedade em que “todas as transações se transformam em transações monetárias […], [e em que] todas as rendas devem derivar da venda de alguma coisa” (Polanyi, 2000, p. 60). Enquanto analista crítico desse processo, mas sem reivindicar nenhum alinhamento com o marxismo ou mesmo com o materialismo histórico, as reflexões de Polanyi são muito valiosas para subsidiar o conceito proposto de ‘cosmopolítica do Capital’, enquanto fundamento filosófico da Economia Política que a partir daí se consolida, cuja base veio a ser o mercado autorregulado, enquanto “fonte motriz deste sistema”, responsável pela “origem de uma civilização específica” (Polanyi, 2000, p. 17).
Neste sentido, ao aliar o fenômeno do surgimento do mecanismo oferta-procura-preço aos efeitos da acumulação primitiva (e por despossessão), percebe este autor que, quando combinados, ambos foram capazes de submeter a motivação humana para a vida (enquanto busca pela sobrevivência e por realizações pessoais), a dois incentivos básicos: “o medo da fome no trabalhador e a esperança de lucro, no capitalista” (Polanyi, 2012, p. 95).
É incontornável nos debruçar mais detidamente sobre este momento em que a “ficção mercantil” aplicada ao trabalho e à terra pôs o destino da humanidade e da natureza nas mãos do mercado autorregulado enquanto um “autômato que opera em seus próprios circuitos e é gerido por suas próprias leis” (Polanyi, 2012, p. 25-54). Responsável pelo surgimento da sociedade de mercado, na qual todas as coisas estão à venda (inclusive terra e trabalho que até então gozavam de uma proteção especial), submetidas à dinâmica do mecanismo oferta-procura-preço. Não é difícil deduzir daí o quão central será o conceito de mercadoria para a cosmopolítica do capital, pois “é com a ajuda do conceito de mercadoria que o mecanismo do mercado se engrena aos vários elementos da vida industrial” (Polanyi, 2000, p. 93).
Ainda segundo Polanyi,
a produção é a interação do homem e da natureza. Se este processo se organizar através de um mecanismo auto-regulador de permuta e troca, então o homem e a natureza têm que ingressar na sua órbita, têm que se sujeitar à oferta e à procura, isto é, eles passam a ser manuseados como mercadorias, como bens produzidos para a venda (Polanyi, 2000, p. 162).
Economia do ponto de vista antropológico
No debate antropológico acerca da questão econômica relativa aos resultados do trabalho e à dinâmica de trocas que materialmente estruturam a coesão social das comunidades nativas, a obra do polonês Bronislaw Malinowski constitui um marco incontornável, tanto pela riqueza dos dados empíricos coletados nas suas experiências de campo, quanto pelo virtuosismo na manipulação teórica dos mesmos.
As duas obras de Malinowski sobre as quais iremos nos debruçar são A lei e a ordem primitivas, que constitui a primeira parte do livro Crime e costume na sociedade selvagem (2003), cujo conteúdo é reputado como “a primeira utilização sistemática da noção de reciprocidade como forma de organização das relações sociais” (Durham, 1986, p. 18); e a segunda é A economia primitiva dos ilhéus trobriandeses, artigo cuja importância substantiva reside na exposição resumida da “relação entre a atividade prática e a magia na organização do trabalho, o significado da propriedade da terra e a imbricação das relações econômicas com as relações políticas na vida tribal” (Durham, 1986, p. 19).
Sendo assim, apesar de nosso olhar estar centrado nas questões materiais relacionadas ao trabalho, à terra e à distribuição social das riquezas, não pretendemos reduzi-las aos termos dialéticos da dicotomia superestrutura e infraestrutura, ligados mais diretamente ao materialismo raso, vinculado por sua vez a um marxismo dogmático. Estamos assim, cientes dos riscos implícitos em nossa abordagem de uma obra que, por sua natureza, se debruça sobre uma realidade multifacetada e inter-relacionada de maneira bastante complexa, como o são, em última instância, todas as sociedades humanas.
Mas o enfoque na abordagem econômica da obra de Malinowski se justifica por diversas razões. A primeira delas é que o próprio autor reconhece ter aí criado um novo campo de investigação teórica, ao qual deu o nome de “economia tribal”, para se referir ao fenômeno social no qual “a produção, a troca e o consumo [todos termos presentes na Economia Política clássica] estão organizados e regulados pelo costume, e onde um sistema especial de valores econômicos tradicionais governa as atividades dos nativos estimulando seus esforços” (Malinowski, 1986, p. 83). Neste recorte analítico realizado pelo próprio autor, os “elementos econômicos permeiam a vida tribal em todos os seus aspectos – social, costumeiro, legal e mágico-religioso –, que por sua vez, controlam os elementos econômicos” (Malinowski, 1986, p. 83).
Segundo Polanyi, o que vamos perceber entre os Trobriandeses como analisados por Malinowski, é a ocorrência tanto da reciprocidade quanto da redistribuição, já que a chefia ali se constitui como uma das instituições mais fortes. No entanto, a reciprocidade tem lugar de proeminência, como podemos perceber pela seguinte observação do antropólogo: “o que talvez seja o mais significativo na natureza legal das relações sociais é que a reciprocidade, o princípio de dar e receber, reina supremo dentro do clã, e, sobretudo, dentro do grupo de parentes mais próximos” (Malinowski, 1986, p. 64). Visto desse modo, a reciprocidade, enquanto a principal dinâmica econômica dos povos nativos,
é o resultado integral da simetria interna de todas as transações sociais, da reciprocidade de serviços, sem a qual nenhuma comunidade ‘primitiva’ poderia existir. [...] desse modo [conclui o autor], a troca estabelece um sistema de laços sociológicos de natureza econômica, frequentemente combinados com outros laços, entre indivíduos, grupos de parentesco, aldeias, distritos etc. (Malinowski, 1986, p. 53-54).
A questão central aqui é perceber que nestas comunidades a economia está circunscrita por uma estrutura social na qual se integram “um sistema definido de divisão de funções e um rígido sistema de obrigações mútuas do qual fazem parte um senso de dever e o conhecimento da necessidade de cooperação, lado a lado com a realização de interesses pessoais, privilégios e benefícios” (Malinowski, 1986, p. 51). Ao expor assim, através de seu trabalho pioneiro com os trobriandeses, que a economia nas comunidades tribais, nativas ou originárias, estava enraizada em uma rede de relações sociais estruturadas a partir do parentesco, mas também submetidas aos comandos da chefia e da magia, põe por terra a ‘falácia liberal’ de que a economia seria essencialmente um fenômeno relativo a indivíduos em busca de ganhos pessoais. Destes dados fornecidos pela obra de Malinowski, conclui Polanyi que “a ideia de que o homem começou por cuidar de si e de sua família deve ser descartada. Quanto mais recuamos na história da sociedade humana, menos encontramos o homem agindo em benefício próprio em assuntos econômicos, cuidando de seu interesse pessoal” (Polanyi, 2012, p. 91).
No entanto, é preciso também combater um outro influente pré-conceito, o qual pressupõe que os sujeitos das comunidades nativas são incapazes de expressar ou realizar seus interesses pessoais, simulacro a partir do qual se pensou os nativos condenados a seguir servilmente o costume e obedecer automaticamente a todas as regras. Afinal, na reflexão de Malinowski, escudada por sua pesquisa de campo, encontramos a seguinte afirmação: “todas as vezes em que o nativo puder fugir de suas obrigações sem perder prestígio ou ganhos futuros, ele o fará”. E acrescenta, com boa dose de ironia, que neste sentido, o nativo age “do mesmo modo que um civilizado homem de negócios” (Malinowski, 1986, p. 56).
A partir destes dados e destas considerações, podemos concluir que em um sistema econômico como o dos povos nativos (tribais, originários), o qual se estrutura a partir da reciprocidade e do parentesco como principais formas de integração humana, “a generosidade é a excelsa virtude e a riqueza, o elemento essencial da influência e da posição social” (Malinowski, 1986, p. 55). Polanyi enfeixa esta problemática com a seguinte reflexão: “o prêmio estipulado para a generosidade é tão importante quando medido em termos de prestígio social, que não compensa ter outro comportamento senão o do esquecimento próprio” (Polanyi, 2000, p. 66). E em seguida sugere uma ressalva crucial, com relação a suposta boa índole como amplamente aceita a partir de uma leitura superficial do bom selvagem de Rousseau:
o caráter pessoal nada tem a ver com o assunto. O homem pode ser tão bom ou mau, sociável ou insociável, avaro ou generoso a respeito de um ou de outro conjunto de valores [...]. [E conclui:] as paixões humanas, boas ou más, são apenas dirigidas para finalidades não econômicas (Polanyi, 2000, p. 66).
Marcel Mauss e a dinâmica econômico-política da dádiva
Qual é a regra de direito e de interesse que, nas sociedades de tipo atrasado ou arcaico, faz que o presente recebido seja obrigatoriamente retribuído? (Mauss, 2003, p. 188).
Ao se propor a estudar a dinâmica da dádiva, o antropólogo francês Marcel Mauss acreditava ter encontrado “uma das rochas humanas sobre as quais são construídas nossas sociedades”. E logo em seguida define o escopo e alcance deste empreendimento dizendo: “poderemos deduzir disso algumas conclusões morais sobre alguns problemas colocados pela crise do nosso direito e de nossa economia, e nos deteremos aí” (Mauss, 2003, p. 188-189). Vejamos logo de início como o autor posiciona a questão:
Nas economias e nos direitos que precederam os nossos, nunca se constatam, por assim dizer, simples trocas de bens, de riquezas e de produtos num mercado estabelecido entre os indivíduos. Em primeiro lugar, não são indivíduos, são coletividades que se obrigam mutuamente, trocam e contratam [...] Ademais, o que eles trocam não são exclusivamente bens e riquezas, bens móveis e imóveis, coisas úteis economicamente. São antes de tudo, amabilidades, banquetes, ritos, serviços militares, mulheres, crianças, danças, festas, feiras, dos quais o mercado é apenas um dos momentos, e nos quais a circulação de riquezas não é senão um dos termos de um contrato bem mais geral e bem mais permanente (Mauss, 2003, p. 191).
Karl Polanyi assim se refere à dinâmica social por trás desse sistema de trocas simbólicas:
a produção e a distribuição de bens materiais estavam enraizadas em relações sociais de natureza não-econômica [...]. Nem o trabalho, nem a maneira de dispor dos objetos, tampouco a distribuição deles realizavam-se por motivos econômicos, por desejo de ganho ou de receber pagamento, ou ainda por medo de passar fome como indivíduo (Polanyi, 2000, p. 190).
Ainda sobre o tema, vejamos a seguinte passagem de Mauro Almeida, importante antropólogo brasileiro, cuja obra se desdobra em grande medida sobre a tensão entre marxismo e antropologia. Nos diz ele:
A ‘forma-dádiva de riqueza’ e a ‘forma-mercadoria’ apresentam uma distinção marcante. Enquanto a segunda ‘não tem memória social’ – pois envolve impessoalidade e relações que acabam após o pagamento –, a primeira ao contrário, nunca esquece: ela deve ser retribuída no futuro, mas tal retribuição apenas recriará uma nova obrigação de retribuição em sentido inverso: a dádiva tem memória. As relações entre coisas podem ignorar os vínculos sociais, entretanto, ‘onde vigora a forma-dádiva, as coisas são meio para acumular relações sociais – isto é, visam diretamente criar vínculos permanentes entre pessoas’ (Almeida, 2003, p. 57).
O cientista político Jean Tible, em sua instigante obra Marx Selvagem (2013) busca traçar, a partir desta reflexão, uma relação entre produção de coisas e de pessoas, buscando colocá-las no mesmo plano. Para isto se serve das considerações do antropólogo norte-americano Roy Wagner, acerca do tema:
de acordo com Roy Wagner, nas sociedades melanésias, produção e trabalho são compreendidos como “qualquer coisa, desde capinar uma roça até participar de uma festa ou gerar uma criança; sua validação deriva do papel que desempenha na interação humana. Produção define, assim, as atividades exercidas (conjuntamente) por mulheres, homens e crianças; produção e atividades da família. Não cabe, neste contexto, separar relações sexuais e de trabalho, pois constituem uma totalidade: a produção de pessoas (Tible, 2013, p. 190).
Seguindo agora diretamente as considerações de Wagner, presentes em seu livro A Invenção da Cultura (2013) vejamos como ele desenvolve a questão da produção:
nesses contextos melanésios, a família é produção. Tal sistema torna o ‘casamento’ e a família uma questão de vida ou morte: uma pessoa que não se casa não pode produzir, e está condenada a uma dependência servil dos outros. E, desse modo, a demanda social não é por produtos, mas por produtores, tendo em vista o papel-chave exercido pela família. O que não pode faltar são as pessoas e ‘são os detalhes dessa substituição, o controle, a troca e a distribuição de pessoas, que os antropólogos entendem como ‘estrutura social’ (Wagner, 2015, p. 59).
Conclui por fim Wagner dizendo que:
O ‘trabalho’ e sua ‘produtividade’ se guiam, nesse sentido, por relações interpessoais e valores humanos, não-abstratos. Tais culturas invertem a ‘nossa tendência a fazer das técnicas produtivas o foco das atenções e a relegar a vida familiar a um papel subsidiário (e subsidiado)’. Como produzimos coisas, nos dedicamos a preservá-las, assim como as técnicas de produção. Ao inverso, na Nova Guiné, ‘são as pessoas, e as experiências e significados a elas associados, que não se quer perder, mais do que ideias e coisas (Wagner, 2015, p. 60).
Observamos assim que nestas tramas da significação social das ações, nestas sociedades mais vale ter honra e fama de generosidade do que gozar das benesses da acumulação individual de bens, quaisquer que sejam eles, já que o nativo “não age para salvaguardar seu interesse individual na posse de bens materiais, mas sim para salvaguardar sua situação social, suas exigências sociais, seu patrimônio social” (Polanyi, 2000, p. 65).
Ao se debruçar sobre esta questão, Marshall Sahlins esclarece que “até o advento da Revolução Industrial”, a quantidade de energia per capita/ano, era a mesma nas economias paleolíticas e neolítica – e regularmente constante na história humana (Sahlins, 2005, p. 5). E afirma ainda que “o neolítico não viu nenhum melhoramento particular sobre o paleolítico na quantidade de tempo, per capita, necessário para a produção de alimentos; provavelmente, com o advento da agricultura, as pessoas tivessem que trabalhar mais” (Sahlins, 2005, p. 25).
Pierre Clastres, ao comentar a obra de Sahlins, propõe que a grande ruptura do neolítico não teria sido tecnológica, mas sim política, ao impor aos coletivos humanos em processo de sedentarização, o embrião do Estado através da imposição da cobrança de tributo, o qual irá subsidiar a dinâmica do mando-obediência que sobre esta base irá se consolidar.
A conclusão de P. Clastres é que a grande transformação capaz de mudar de fato a estrutura social de uma comunidade nativa, não é tecnológica ou econômica, mas política:
a verdadeira revolução, na proto-história da humanidade, não é a do neolítico, uma vez que ela pode muito bem deixar intacta a antiga organização social, mas a revolução política, é essa aparição misteriosa, irreversível, mortal para as sociedades primitivas, o que conhecemos sob o nome de Estado” (Clastres, P., 2013, p. 215).
Voltando à obra de Sahlins, este autor parte então para uma análise do trabalho nas comunidades tribais nos termos de ‘quantum’ de energia investida para a produção de alimentos, como já havia sido consagrado pela Economia Política clássica, mas extraindo daí resultados surpreendentes. O autor propõe um paralelo em termos de tempo médio de trabalho aplicado na garantia da subsistência entre estas sociedades nativas ou tribais e a nossa do capitalismo contemporâneo, atravessada que é pela dinâmica industrial. Conclui a partir daí que “os coletores e caçadores [não apenas] trabalham menos do que nós”, como ainda por cima, se ocupam em uma forma de trabalho que não é contínuo, mas intermitente, nos quais o descanso é abundante e existe maior quantidade de sono no tempo diário per capita/anual (Sahlins, 2005, p. 12).
Movido por este levantamento, Sahlins nos propõe a fantástica cifra de 4 ou 5 horas como tempo médio diário por pessoa usado na apropriação e preparo de comida em uma comunidade nativa, e conclui daí que “que cada trabalhador adulto chega a atingir cerca de dois dias e meio de trabalho por semana” (Sahlins, 2005, p. 15). Esclarecendo de uma vez por todas que o tempo considerado ocioso (tempo valioso na verdade, dedicado às festas, às visitas, à confecção dos adornos e etc.) é muito maior que o de um trabalhador médio de uma sociedade industrializada. E conclui, pleno de ironia, dizendo que, “os caçadores têm horário de bancários, muito menor do que os dos trabalhadores industriais modernos” (Sahlins, 2005, p. 25). E olhe que não estamos nem nos referindo às jornadas de 16 horas do começo da Revolução Industrial, ou às de 10 a 12 horas dos entregadores ou motoristas de aplicativos contemporâneos.
O que pretendemos demonstrar através da análise desta obra de Sahlins, é que a diferença entre escassez e afluência não é uma questão relativa à instrumentação técnica dos coletivos humanos. Afinal, como explicar, por via da potencialidade técnica, a massiva presença da fome no mundo industrializado contemporâneo, no qual incide, entre outras coisas, as técnicas biogenéticas da chamada revolução verde. Esse fenômeno só pode ser explicado pelo que o autor chamou de “movimento contraditório” da sociedade capitalista, no qual está presente o binômio da “apropriação em relação à natureza e expropriação em relação ao homem” (Sahlins, 2005, p. 27). O que, sob o nosso ponto de vista, tem por base e estrutura a apropriação privada da terra.
Enfeixando esta questão, Almeida coloca que
A economia política inclui como capítulo sombrio o processo pelo qual natureza e povos diferentes são destruídos – entes materiais e imateriais, corpos e filosofias – como parte do processo por meio do qual são constituídos pressupostos para o universo das coisas produzidas como mercadorias. A destruição é a primeira regra da economia ontológica industrial, e terra arrasada é a continuação da política de dominação econômica pelo meio da guerra ontológica. A variedade biológica é substituída pela bioindústria, e a variedade de humanos é substituída pela modernidade universal – leia-se, pela generalização do valor-dinheiro como medida de todos os entes (Almeida, 2013, p. 32).
Considerações finais
Neste artigo partimos na busca por uma estruturação teórica filosoficamente mais robusta do conceito de ‘economia política da natureza’, formulado pioneiramente pelo antropólogo francês Bruce Albert, mas não desenvolvido pelo mesmo. Neste sentido, por se tratar de uma conceituação que abarca duas grandes disciplinas das chamadas ‘ciências humanas’: Economia Política e Antropologia, optamos inicialmente por realizar uma reconstituição filosófica dos conceitos clássicos da Economia Política: trabalho, valor do trabalho, da terra e divisão social das riquezas, por entender que seus escopos afetam, atualmente, todos os povos do planeta. Nos debruçamos então sobre a obra do grande pioneiro Adam Smith, analisando seus argumentos políticos e metafísicos, suas principais influências e seus elementos de distinção.
Concluída esta etapa, investigamos como a matriz teórica do materialismo histórico, desenvolvida por Karl Marx, aprofunda o debate filosófico destas categorias, nos permitindo contextualizar a construção teórica da Economia Política clássica, dentro dos marcos da dinâmica daquilo que Karl Polanyi chamou de ‘mercado auto-regulado’ (ou mecanismo de oferta-procura-preço), dentro de uma estrutura em que todas as transações já haviam se transformado em transações monetárias, “[e em que] todas as rendas devem derivar da venda de alguma coisa” (Polanyi, 2000, p. 60). Esta análise de Marx, por sua vez, abre espaço e nos convida a ver os meandros de como as categorias de trabalho e mercadoria se tornaram centrais na estruturação de uma sociedade na qual, pela primeira vez, ‘tudo estava a venda’. Às custas, inclusive, das condições mínimas de subsistência de uma grande massa de camponeses expropriados das terras comuns.
Este ato inaugural de apropriação e expropriação das terras comuns em nome dos interesses de uma elite que necessitava de sua posse privada para produzir em grande escala e atender as demandas de um mercado, desde então, sempre em expansão, (a qual Marx chamou de ‘acumulação primitiva de capital’); nos levou a analisar o impacto e os aspectos desta dinâmica no processo de colonialismo que acompanhou essa expansão abrupta e global da sociedade capitalista europeia.
Nesta seara teórica, a contribuição de Rosa Luxemburgo é incontornável, ao propor que esta dinâmica colonialista de apropriação e expropriação não tenha sido um evento inaugural, mas sim parte do ‘modus operandi’ capitalista. Afinal, concordando com as premissas de sua tese, não é difícil encontrar exemplos contemporâneos desta dinâmica, entre os quais a já aludida explosão da ‘febre do ouro canibal’ no coração do território yanomami no começo da década de 1980 (ou até mesmo crise humanitária também causada pelo garimpo ilegal no mesmo território, agora, 40 anos depois).
Para complementar esta reconstituição teórica dos conceitos que embasariam uma economia política da natureza, fomos levados a analisar as dinâmicas do trabalho, valor da terra, do trabalho e divisão social das riquezas em sociedades nativas, originárias, em suma ‘não capitalistas’, a partir das análises pioneiras de Malinowski sobre aquilo que chamou de ‘economia primitiva’ dos trobriandeses. De seus trabalhos, e dos comentários de Polanyi, Wagner, Sahlins, e das contribuições de Marcel Mauss com a teoria da dádiva, é possível afirmar que em sociedades não organizadas pelo mercado auto-regulado, o trabalho não converge com as fundamentações de interesses individualistas como propostas por Smith e Ricardo. Nestas sociedades, pelo contrário, o trabalho e a ‘natureza’ estão submersos em códigos sociais através dos quais outros valores estão nitidamente acima dos interesses individuais de acumulação. De forma que a dimensão social do trabalho é capaz de abarcar as festas, a confecção de utensílios e a produção de pessoas, sempre tendo os princípios da partilha e da generosidade enquanto seus fundamentos sociais.
Contemporaneamente, podemos pensar estas dinâmicas enquanto cosmopolíticas em conflito: de um lado a do capital, com sua lógica de apropriação, expropriação e destruição da diversidade biológica em caráter de metástase planetária; e do outro, os mundos representados pelos povos indígenas, originários, e as diversas sociedades humanas que não se articulam pelas dinâmicas estritamente capitalistas, e que não por coincidência, são responsáveis pela defesa e proteção de cerca de 80% da biodiversidade do planeta. Trata-se, de fato, daquilo que Bruno Latour chamou de ‘guerra de mundos’ (2015), mas que entendemos mais precisamente, como o desafio da partilha deste mundo que é, na formulação feliz de Marisol de La Cadena “mais que um e menos que muitos” (La Cadena, 2020, p. 295). Afinal, mesmo defendendo enfaticamente a autodeterminação ontológica dos diversos povos originários, e a validade irrevogável de seus mundos, entendemos que o grande desafio é o da partilha, pois como disse Kopenawa: “há apenas um único e mesmo céu acima de nós. Só há um sol, uma lua apenas. Moramos em cima da mesma terra” (Kopenawa, 2015, p. 231).
O antropólogo Mauro Almeida lança luz sobre esta questão ao apontar os limites desta dinâmica predadora ou despossessória do capital, ao comentar o surgimento de estratégias de enfrentamento que se efetivam através de alianças entre entes muito distintos entre si, tais quais: simpatizantes urbanos, antropólogos, pesquisadores, xamãs e povos indígenas, mas também entre onças, caiporas, xapiris, árvores, pedras e tantos outros. Segundo ele,
Essa ontologia do valor, contudo, não é onipotente. Redes aleatórias e expansivas – redes recônditas que vão da floresta a seus aliados urbanos, filamentos que ligam não-humanos a humanos, mensagens orais e fluxos digitais – estão contestando a pretensão moderna de uma ontologia não só dominante como universal, e isso com os próprios recursos tecno-pragmáticos que resultaram da expansão dessa ontologia. E isso aponta talvez para um regime de latente anarquismo ontológico, e onde não cessam de surgir novos entes materiais e imateriais, visíveis e invisíveis, humanos e não-humanos. O encontro com essa proliferação de entes é a tarefa em questão (Almeida, 2013, p. 25).
E nossa grande ambição é contribuir com a articulação destes filamentos, para o fortalecimento destas redes e das alianças que as acompanham, como forma de dar visibilidade a re-existência destes povos frente à pasteurização cosmopolítica operada pelo ‘povo da mercadoria’, e sua sanha etnocida e ecocida.
Referências Bibliográficas
ALBERT, BRUCE. O Ouro Canibal e a Queda do Céu: Uma crítica xamânica a economia política da Natureza. Série Antropologia, 174. Brasília. 1995.
ALBERT, BRUCE; RAMOS, A. R. (Ogs.) Pacificando o branco: Cosmologias do contato no Norte-Amazônico. Ed. UNESP. São Paulo. 2002.
ALMEIDA, Mauro W. B. Marxismo e Antropologia. Marxismo e Ciências Humanas. Boito Jr, Armando; Toledo, Caio N. (Orgs.). Ed. Xamã/FAPESP/CEMARX. São Paulo. 2003.
ALMEIDA, Mauro W. B. Lewis Morgan: 140 anos dos Sistemas de Consanguinidade e Afinidade da Família Humana (1871-2011). Cadernos de Campo (São Paulo-1991), v. 19, n. 19, p. 309-322, 2010.
DE ALMEIDA, Mauro W. Barbosa. Caipora e outros conflitos ontológicos. Revista de Antropologia da UFSCAR, v. 5, n. 1, p. 7-28, 2013.
DE ALMEIDA, Mauro W. Barbosa. Anarquismo ontológico e verdade no Antropoceno. Ilha Revista de Antropologia, v. 23, n. 1, p. 10-29, 2021.
CAPIBERIBE, Artionka; BONILLA, Oiara. A ocupação do Congresso: Contra o quê os índios lutam. Revista Estudos Avançados [online]. V.29 (n.83). p. 293-313. 2015.
CLASTRES, Pierre. A Sociedade contra o Estado. Ed Cosac & Naif. São Paulo. 2013.
CLASTRES, Pierre. Liberdade, Mau Encontro, Inominável. In. Discurso da Servidão Voluntária. Tradução de Laymert Garcia dos Santos. Ed. Brasiliense. São Paulo. 1999.
CLASTRES, Pierre. Arqueologia da violência. Ed. Cosac & Naif. São Paulo. 2004.
FONTES, Gustavo. Cosmopolítica ameríndia como práxis dialética: aspectos filosóficos da luta indígena por seus territórios. Tese de doutoramento. UFPR. Disponível em: https://acervodigital.ufpr.br/xmlui/handle/1884/80787.
FONTES, Gustavo. Direitos indígenas no Brasil: uma reconstituição filosófica. Griot: Revista de Filosofia, [S. l.], v. 23, n. 2, p. 171–194, 2023.
FEDERICI, Silvia. Calibã e a bruxa: mulheres, corpo e acumulação primitiva. Ed. Sycorax. 2004.
IANNI, Otávio. Dialética e capitalismo: ensaio sobre o pensamento de Marx. Ed. Vozes. Petrópolis-RJ. 1982.
KONDER, Leandro. Em torno de Marx. Ed. Boitempo. São Paulo. 2010
KONDER, Leandro. O que é dialética. Ed. Brasiliense. São Paulo. 2008.
KOPENAWA, Davi; ALBERT, Bruce. A Queda do Céu: palavras de um xamã yanomami. Ed. Companhia das Letras. São Paulo. 2015.
KUNTZ, Rolf. François Quesnay e a fundação da economia moderna. In François Quesnay: economia. Ed. Ática. São Paulo. 1984.
LA CADENA, Marisol de. Cosmopolítica indígena en los Andes: reflexiones conceptuales más allá de la «política». Tabula Rasa, n.33. p. 273-311. 2020.
LATOUR, B. Guerre des mondes—offres de paix. (2015). Article preparé pour un volume special de l’UNESCO*. p.61-80. Disponível em: https://spire.sciencespo.fr/hdl:/2441/5l6uh8ogmqildh09h61ao08sg/resources/81-guerremonde-ethnopsy.pdf.
LÖWY, Michael. Prefácio. Marx Selvagem. São Paulo. 2013.
LÖWY, Michael. Por um socialismo indo-americano. Ed. UFRJ. Rio de Janeiro. 2005.
LÖWY, Michael. Imperialismo ocidental versus comunismo primitivo. In, Rosa Luxemburgo ou o preço da liberdade. 2ª ed. Ed. Fund. Rosa Luxemburgo. São Paulo. 2015.
LÖWY, Michael. Ideologias e ciência social: elementos para uma análise marxista. Ed. Cortez. São Paulo. 1998.
LUXEMBURGO, Rosa. A Acumulação do Capital: contribuição ao estudo econômico do Imperialismo. Ed. Abril Cultural. São Paulo. 1985.
LUXEMBURGO, Rosa. Introdução à Economia Política. Ed Martins Fontes. São Paulo. 1972.
MALINOWSKI, B. Argonautas do Pacífico Sul. Ed. Abril Cultural. São Paulo. 1978.
MALINOWSKI, B. Crime e costume na sociedade selvagem. Trad. Maria C. Corrêa Dias. Ed. UNB. Brasília. 2003.
MALINOWSKI, B. Antropologia. Ed. Ática. São Paulo. 1986.
MALTHUS, T. R. Princípios de Economia Política e Ensaio sobre a população. Col. Os Economistas. Ed. Nova Cultural. São Paulo. 1996.
MARX, Karl. O Capital: Crítica da Economia Política. Livro 1: O processo de produção do capital. Trad. Rubens Enderle. Ed. Boitempo. São Paulo. 2013.
MARX, Karl. Os Despossuídos. Trad. Nélio Schneider. 1ª. Ed. Boitempo. São Paulo. 2017.
MARX, Karl. Manuscritos Econômico-Filosóficos. Trad. Jesus Ranieri. Ed. Boitempo. São Paulo. 2008.
MARX, Karl; Engels, F. Manifesto Comunista. Ed. Boitempo. São Paulo. 2005.
MAUSS, Marcel. Sociologia e Antropologia. Trad. Paulo Neves. Ed. Cosac e Naif. São Paulo. 2003.
POLANYI, Karl. A subsistência do Homem. Ed. Contraponto. Rio de Janeiro. 2012.
POLANYI, Karl. A Grande Transformação: as origens da nossa época. Trad. Fanny Wrabel. 2ª ed. Ed. Compus. Rio de Janeiro. 2000.
QUESNAY. Col. Grandes Cientistas Sociais. Kuntz, Rolf. (Org.). Ed. Ática. São Paulo. 1984.
RICARDO, David. Princípios de Economia Política e Tributação. Col. Os Pensadores. Ed. Abril. São Paulo. 1974.
Rocha, Deyvisson F. P. Um panorama da autodemarcação de Terras Indígenas no Brasil. Revista Sures. N. 9 (p. 132-144), 2017.
SAHLLINS, Marshal. A sociedade afluente original. Trad. Betty M. Lafer. Disponível em: https://edisciplinas.usp.br/mod/folder/view.php?id=82213.
SAHLLINS, Marshal. A ilusão ocidental da Natureza Humana. Trad. Peterson Silva. Retirado dos Discursos Tanner de 2005. Palestra apresentada na Universidade de Michigan no dia 4 de novembro de 2005. Disponível em: https://petercast.net/wp-content/uploads/2014/07/western-illusion-translation.pdf.
SAHLLINS, Marshal. Metáforas históricas e realidades míticas: estrutura nos primórdios da história do reino das ilhas Sandwich. Ed. Jorge Zahar Editor. Rio de Janeiro. 2008.
SINGER, Paul. Introdução à Investigação sobre a natureza e as causas da riqueza das nações. Col. Os Pensadores. Ed. Abril. São Paulo. 1974.
SINGER, Paul. Curso de Introdução à Economia Política. Ed. Forense-Universitária. Rio de Janeiro. 1979.
SINGER, Paul. A teoria da Acumulação do Capital em Rosa L. Ed. UNESP. São Paulo. 1991.
SMITH, Adam. Investigação sobre a Natureza e as causas da Riqueza das Nações. Col. Os Pensadores. Ed. Abril. São Paulo. 1974.
TIBLE, Jean. A Antropofagia de Marx, In: Revista Nada, n.18. p. 30-51. 2014.
TIBLE, Jean. Cosmologias contra o capitalismo: Karl Marx e Davi Kopenawa, In: Revista de Antropologia da UFSCar, v.5, n.2, jul.-dez., p. 46-55. São Carlos. 2013.
TIBLE, Jean. Marx selvagem. Editora Annablume. São Paulo. 2013.
VIVEIROS DE CASTRO, E. A inconstância da alma selvagem e outros ensaios de antropologia. São Paulo: Cosac & Naify. 2002.
VIVEIROS DE CASTRO, E. Araweté: os deuses canibais. Ed. Jorge Zahar. Rio de Janeiro. 1986.
VIVEIROS DE CASTRO, E. Transformação da Antropologia, Transformação na Antropologia; In: Revista Mana, vol.18. nº1. Rio de Janeiro. 2012.
VIVEIROS DE CASTRO, E. A propriedade do Conceito. ANPOCS 2001 / ST 23: Uma notável reviravolta: antropologia (brasileira) e filosofia (indígena). 2001.
WAGNER, Roy. A Invenção da Cultura. Trad. Marcela Coelho de Souza e Alexandre Morales. Ed. Cosac & Naif. São Paulo. 2012.
Gustavo Henrique Fontes de Holanda
Graduado em Filosofia pela UFPE. Mestre e Doutor pela UFPR.
Os textos deste artigo foram revisados por terceiros e submetidos para validação do(s) autor(es) antes da publicação