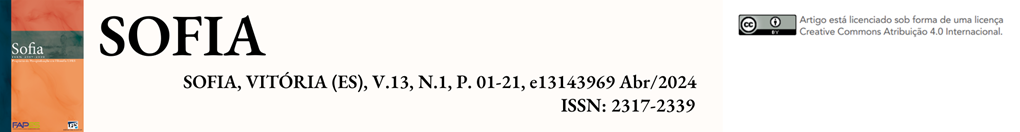
O mínimo eu numa sala de espelhos
The
minimal self in a room of mirrors
Gustavo Moura de Cavalcanti Mello
UFES - Universidade Federal do Espírito Santo
Recebido: 02/03/2024
Received: 02/03/2024
Aprovado:10/04/2024
Approved: 10/04/2024
Publicado: 23/04/2024
Published: 23/04/2024
RESUMO
O texto busca refletir criticamente sobre alguns fenômenos sociais contemporâneos, fortemente imbricados, notadamente as tendências contemporâneas de entrincheiramento e achatamento do eu; o reforço da iconomania e da compulsiva produção de avatares de si, em meio a bolhas narcísicas digitais, franqueadas pelas recentes tecnologias de informação e comunicação; e a virtual destruição da intimidade e da privacidade, diante da emergência de panópticos digitais e da vigilância algorítmica. Para tanto, toma-se como ponto de partida proposições apresentadas por Christopher Lasch em sua obra The Minimal Self: Psychic Survival in Troubled Times, publicada originalmente em 1984, em particular a própria noção de mínimo eu, as quais são, então, entretecidas com argumentos de Christophe Dejours, Günther Anders, Theodor Adorno, Hebert Marcuse, Jonathan Crary, entre outros. Em acréscimo, busca-se salientar a ancoragem desses processos à hodierna dinâmica de acumulação de capital, a partir da crítica da economia política, perspectiva que atravessa todo o texto, bem como assinalar a atualidade do pensamento de Lasch.
Palavras-chave: Mínimo eu, Tecnologias de comunicação e informação, Crise, Capitalismo contemporâneo.
ABSTRACT
The text seeks to critically reflect on some
contemporary social phenomena, strongly intertwined, notably the contemporary
trends of entrenchment and flattening of the self; the reinforcement of
iconomania and the compulsive production of self-avatars, amid digital
narcissistic bubbles, created by recent information and communication
technologies; and the virtual destruction of intimacy and privacy, given the
emergence of digital panopticons and algorithmic surveillance. To this end, we
take as a starting point propositions presented by Christopher Lasch in his
work “The Minimal Self: Psychic Survival in Troubled Times”, originally
published in 1984, in particular the very notion of minimal self, which are
then intertwined with arguments from Christophe Dejours, Günther Anders,
Theodor Adorno, Hebert Marcuse, Jonathan Crary, among others. In addition, we
seek to highlight the anchoring of these processes in today's dynamics of
capital accumulation, based on the critique of political economy, a perspective
that runs throughout the text, as well as highlighting the relevance of Lasch's
thinking.
Keywords: Minimum self, Communication and information technologies, Crisis, Contemporary capitalism.
Introdução: o achatamento do eu nos escombros de uma terra arrasada
Há décadas foi constatado que a crescente precarização da existência e a destruição de estruturas sociais protetivas, junto com a afirmação da concorrência desmedida como fundamento último da existência, teria dado azo a uma produção em massa da indiferença e da banalização da injustiça social (Dejours, 2006), processo que teria como fulcro o asselvajamento das condições de trabalho. Ao que tudo indica, tratava-se da consolidação daquilo que Loïc Wacquant (2003) apontou como um regime de Workfare, em que os indivíduos se esfalfam em busca do direito de serem explorados, realizando o trabalho sujo da acumulação de capital que se lhes afigura como dádiva, atravessado por políticas assistenciais que estigmatizam, vigiam e coagem, e por vastos aparatos estatais e privados de repressão e terrorismo, que incluem encarceramento em massa e extermínio (Arantes, 2011). Tais aparatos, de outro lado, parecem fundir o Workfare com o Warfare State, teorizado por Fred Cook (1964), em que as economias e os Estados nos países capitalistas centrais se confundem com os complexos industriais-militares, cada vez mais transnacionais, em meio à militarização e à milicianização da sociedade, que reforçam o “estado de exceção permanente” e a “guerra civil mundial” (Kurz, 1992 e 2019).
Tais tendências talvez justifiquem a conclusão de Lasch em O Mínimo Eu (1986, p. 187-8) de que
em um mundo imprevisível e em rápida transformação, um mundo de mobilidade social para baixo, rebelião social e crônica crise econômica, política e militar, as autoridades deixaram de servir efetivamente como modelos e guardiães. As suas ordens perderam a persuasão. O lado pedagógico, protetor e benevolente da autoridade social e paterna não mais tempera a sua face punitiva.
Desse modo, Lasch busca analisar a recém-inaugurada “era das emergências” (Arantes, 2014), em que o horizonte de expectativas colapsou em uma perspectiva catastrófica, e em que o espaço de experiência foi avassalado pela produção industrial do esquecimento, desorganizando a experiência histórica e produzindo o efeito de uma vertiginosa aceleração, “o eu se contrai num núcleo defensivo, em guarda diante da adversidade. O equilíbrio emocional exige um eu mínimo, não o eu soberano do passado” (Lasch, 1986, p. 9), no interior da jaula presentista de um cotidiano que se afigura como uma incessante luta pela sobrevivência[1]. As formações sociais contemporâneas, que se afiguram como sistemas de controle total, exigem de seus membros “a apatia seletiva, o descompromisso emocional frente aos outros, a renúncia ao passado e ao futuro, a determinação de viver um dia de cada vez” (Lasch, 1986, p. 47-8).
Insinua-se aqui a tendência de redução da política à mera gestão, pois em um contexto de acirramento dos antagonismos sociais e de produção de barbárie em escala ampliada, consolidado no rescaldo de lutas sociais malogradas, as forças políticas ditas progressistas em grande medida assumiram o papel de administração de urgências e de reparações. Com isso, recusam-se a pôr em causa as atuais injunções da acumulação de capital, e assumem que não há alternativa, talvez inadvertidamente.
São muitos os fatores aventados por Lasch para justificar tais posturas e concepções, dos quais poder-se-ia destacar a autonomização da tecnologia como força social que se afigura incontrolável, mas da qual se têm uma dependência visceral, o que engendraria um “sentimento generalizado de impotência e vitimação” (Lasch, 1986, p. 34). Tal autonomização estaria implicada ainda na substituição da força viva de trabalho por máquinas e na simplificação das atividades realizadas pelo grosso da população trabalhadora, fontes de insegurança e de sofrimento social. Ademais, em meio a essas tendências, o sistema educacional perderia qualquer função formativa e se limitaria a discriminar e a classificar as pessoas em diferentes tipos de mão de obra – desde as que serão mobilizadas nas mais precarizadas das ocupações até as que desempenharão funções de gestão. Todos esses elementos tendem a “incentivar a dependência, a passividade e o estado de espírito do espectador, tanto no trabalho como no lazer” (Lasch, 1986, p. 19).
Também teria importância a sempre crescente universalização da forma mercadoria como nexo social, a qual, “em vez de oferecer um ‘espaço potencial entre o indivíduo e o meio ambiente’ (que é como Winnicott descreve o mundo dos objetos transicionais), esmaga o indivíduo” (Lasch, 1986, p. 179-80). Longe de franquear qualquer transicionalidade, as mercadorias mantêm-se apartadas do eu; mais do que isso, fazem às vezes de um espelho, “um cortejo estonteante de imagens, onde podemos ver tudo o que desejarmos. Em lugar de estender uma ponte sobre o vazio entre o eu e o seu meio circundante, ele apaga a diferença entre estes” (Ibid.).
Nesse contexto, “o indivíduo não apenas aprende a avaliar-se face aos outros mas a ver a si próprio através dos olhos alheios; aprende que a autoimagem projetada conta mais que a experiência e as habilidades adquiridas” (Lasch, 1986, p. 21). Absorvido por uma “visão teatral de sua própria performance” (Lasch, 1986, p. 21), nos distintos âmbitos da vida social, e dedicado à produção de “imagens e impressões superficiais”, continua Lasch (1986, p. 21), “o eu torna-se quase indistinguível de sua superfície”. Dessa forma, cria-se “um mundo de espelhos, de imagens insubstanciais, de ilusões cada vez mais indistinguíveis da realidade”, cujo efeito especular tanto reduz o sujeito à condição de objeto, quanto apresenta os objetos como mera projeção do eu. Nesse contexto, “o consumidor vive rodeado não apenas por coisas como por fantasias. Vive num mundo que não dispõe de existência objetiva ou independente e que parece existir somente para gratificar ou contrariar seus desejos (Lasch, 1986, p. 22).
Tornadas “frágeis e dependentes”, as pessoas tenderiam a se refugiar no narcisismo, que implica em “uma perda da individualidade e não a autoafirmação; refere-se a um eu ameaçado com a desintegração e por um sentido de vazio interior” (Lasch, 1986, p. 47-8). Afinal, como numa sala de espelho, a reiteração das imagens até o infinito faz parte de uma ilusão: à medida que a luz é refletida, uma parte se desvia ou é absorvida, e com isso as imagens que se formam progressivamente perdem qualidade até desaparecerem em um ponto escuro. Ao projetar no mundo apenas uma imagem de si mesmo, aquilo que o indivíduo recebe de volta é apenas uma imagem cada vez mais degradada. Afinal, como argumentaram Adorno e Horkheimer (2014, p. 155) em meio a seus estudos sobre o antissemitismo, ainda na década de 1940,
a profundidade interna do sujeito não consiste em nada mais senão a delicadeza e a riqueza do mundo da percepção externa. Quando o entrelaçamento é rompido, o ego se petrifica. Quando ele se esgota, no registro positivista de dados, sem nada dar ele próprio, se reduz a um simples ponto; e se ele, idealisticamente, projeta o mundo a partir da origem insondável de si mesmo, se esgota numa obstinada repetição. Nos dois casos, ele sacrifica o espírito.
Ao pouco ou nada entregar ao mundo, rebaixando-o a mero espelho de si, o indivíduo entrincheirado nada dele recebe de volta, e sua própria existência se achata, perde em substância e espessura. Ele tende a se reduzir, assim, à frágil imagem que lança sobre o mundo, e a isso reage mobilizando um conjunto de estratégias e de comportamentos que compõe uma verdadeira “cultura do sobrevivencialismo” (Lasch, 1986, p. 47). Emerge daí uma ideologia apocalíptica ou catastrofista, bem fundada na realidade efetiva, que converte a noção de crise permanente em um mantra empregado para justificar a crescente voracidade do capital.
Até aqui, à guisa de introdução, pouco se fez além de glosar algumas proposições de Lasch. Na sessão seguinte a atenção se voltará para o mencionado animismo contemporâneo redivivo, sobretudo a partir de proposições de Günther Anders e de Robert Kurz. Na terceira sessão a ênfase recai sobre o colapso da esfera da intimidade diante de um aparato tecnológico de cunho totalitário que unifica, coloniza, esquadrinha e gere minuciosamente, em tempo integral, a partir de uma estrutura e dispositivos comuns, os processos de trabalho e de lazer, a produção e o consumo, os espaços produtivo, doméstico, e público. Por fim, na última sessão, são tecidas algumas considerações voltadas mais especificamente para a dimensão econômica desses fenômenos, a partir da perspectiva teórica da crítica da economia política.
Não obstante, convém enfatizar, de antemão, a importância de situar as análises que seguem em uma caracterização mais geral do capitalismo contemporâneo, dimensão essa que resta secundarizada na obra de Lasch, para tomá-la como exemplo. Nesse sentido, por um lado, conforme indicado, parece relevante considerar o indivíduo como estofo subjetivo – reificado – da dinâmica de acumulação de capital, que condiciona de modo decisivo o processo de reprodução social, de modo a superar o horizonte da análise do indivíduo enquanto consumidor por meio da consideração do indivíduo como força de trabalho. Aqui, diga-se de passagem, o imperativo da performance flagrado por Lasch, como se viu há pouco, ecoa em discussões como a da “nova razão do mundo”, de Dardot e Laval (2013), associada à já mencionada afirmação da concorrência como princípio e finalidade última da existência, ao curto-circuito entre empresa e indivíduo, e a ideologia do empreendedorismo.
Por outro lado, há de se insistir que as ameaças que medram e pesam sobre o indivíduo sitiado – de cataclismos econômico, ambiental, bélico, nuclear, pandêmico etc. – podem ser analisadas à luz de contradições inerentes à dinâmica de acumulação de capital. Nas últimas décadas, a transnacionalização produtiva, a escalada da automação, e a consequente tendência ao aumento da composição orgânica – numa palavra, a relação entre meios de produção e força viva de trabalho –, motivada pela extração de mais-valia relativa e pela autonomização fetichista do capital em relação à sua substância – o trabalho abstrato –, que se expressa ainda na proeminência da dimensão fictícia da acumulação, tudo isso competiu para engendrar uma crise crônica de sobreacumulação, diante da relativa escassez de espaços potencialmente lucrativos para o investimento produtivo (Smith, 2019). O resultado é a intensificação da busca por se açambarcar a riqueza social por meio da centralização de capitais, das múltiplas formas de renda, e sobretudo da espoliação do trabalho e da natureza (Mello, 2023). Com isso, generaliza-se o uso da violência direta como forma de mediação social, intensifica-se os conflitos geopolíticos e os mecanismos de dominação social e de contrainsurgência, e se retroalimenta o caráter autofágico do capital (Jappe, 2019), que se expressa nas referidas ameaças de cunho econômico, bélico, ambiental e assim por diante. Eis o pano de fundo dos fenômenos ora em vista.
Iconomania e estética da mercadoria
Ainda que Lasch não tenha presenciado o gesto, hoje banal, da produção compulsiva de imagens de si por meio de “selfies” e de “stories”, com o que o mundo, as paisagens, as obras de arte, os encontros, tudo é rebaixado a mero pano de fundo, a mero cenário destinado a dar relevo aos avatares que habitam o universo das plataformas e redes sociais, parece prolífica sua análise dos mecanismos que competiam, à sua época, para o esvaziamento do eu, para sua imersão em um mundo de espelhos, e para consequente perda da individualidade. Graças à disseminação de smartphones os indivíduos passaram a carregar em seus bolsos suas salas de espelho particulares. Trata-se de um verdadeiro culto ao eu, que junto com o acirramento do consumismo, Achille Mbembe (2021, p. 33) identificara como uma brutal vivificação do animismo. E mais, trata-se de um eu estereotipado, padronizado: são os mesmos sorrisos, ou a mesma posição dos lábios, os mesmos gestos e a mesma expressão corporal, numa produção serial que faria inveja aos próceres da “administração científica”. Para melhor compreendê-lo, convém agregar às proposições de Lasch outras de Theodor Adorno, Robert Kurz e sobretudo Günther Anders, ainda que de modo bastante sumário.
Segundo este último, desde os primórdios da modernidade afirmou-se uma forma de sociabilidade em que se “define a pessoa como proprietária, como animal habens”: “habeo ergo sum” (Anders, 2011b, p. 241), possuo logo existo. Nesse frenesi de apossamento e de devoração, o ser é sacrificado no altar do ter, porém em nome do ser. Essa tendência se desdobra no culto à imagem, na produção e devoração de imagens, em um contexto no qual “o valor de uso da mercadoria se tornou questionável, sendo suplantado pela gratificação secundária do prestígio, do estar na moda, e, finalmente, pelo próprio caráter da mercadoria, numa paródia da aparência estética” (Adorno, apud Oliveira, 2009, p. 126). Ao que convém acrescentar, com Günther Anders (2011b, p. 237), que “toda moda vive de assegurar à pessoa a aparência e, ao mesmo tempo, a conformidade”.
De fato, Anders também havia identificado essa tendência criticada por Adorno, ao concluir que, para a humanidade, “não valem mais o ‘mundo’ e a experiência do mundo, mas apenas o fantasma do mundo e o consumo de fantasmas” (Anders, 2011a, p. 19). Uma humanidade aprisionada à “iconomania”, o “vício em imagens”, “a chave para qualquer teoria de nossa época” (Anders, 2016, p. 56). Para compreender sua emergência, é preciso ter presente a tese do autor acerca da vergonha prometeica e da crescente insignificância da humanidade diante dos poderes sociais que ela pôs em movimento, mas que se autonomizaram na forma de uma segunda natureza incontrolável e insondável.
Mais especificamente, a “produção hipertrófica de imagens” simularia a reprodutibilidade técnica, própria às máquinas, e desmentiria a “insuportável singularidade” individual: “pelo menos nas efígies eles também podem atingir uma existência múltipla, às vezes mesmo uma existência de mil vezes” (Anders, 2016, p. 56), buscando equiparar-se às máquinas e esquivar-se de sua vergonhosa condição humana. Almeja-se assim a dignidade oriunda da fungibilidade, a afirmação do império do valor sobre o valor de uso. No entanto, a despeito do empenho na “atividade iconomaníaca”, essa devoração canibalesca de imagens, em um mundo rigorosamente fantasmagórico, a tênue satisfação assim produzida “é somente um sucedâneo” (Anders, 2011a, p. 71)[2].
Consolida-se, então, uma “estética da mercadoria” (Kurz, 2002), o “‘design’ da abstração econômica”, que é “uma estética do particularismo”, em que “contextos e relações são desconsiderados”. É também “uma estética da arbitrariedade”, em que “a forma e o conteúdo deixam de guardar relação entre si, porque o conteúdo é definido como forma”, em que pouco importa o que se produz, “desde que se apresente vendável e apto à encenação midiática”. Por fim, ela é “estética da simulação”, que “tenta construir um mundo paralelo, virtual e desmaterializado, no qual o capitalismo não mais enfrenta barreiras naturais e sociais, e no qual o crescimento da ‘economia desvinculada’ pode prosseguir sem fim” (Kurz, 2002).
Se for permitida uma digressão, à guisa de exemplo, uma recente manifestação desse espírito de época diz respeito à consolidação de um mercado virtual de arte baseado em NFTs (non-fungible tokens), ativos digitais que, no caso que interessa aqui, reproduzem obras de arte consagradas. Por meio de criptografia e da tecnologia de blockchain, tais ativos tornam-se escassos, ou mesmo únicos, convertendo-se em uma espécie de mercadoria-digital (Rotta e Paraná, 2022). Não convém discutir a natureza e a forma de operação desse mercado - uma das manifestações dos cercamentos contemporâneos –, mas apenas chamar a atenção para um fenômeno curioso, com base numa anedota. Em um vídeo do Youtube, intitulado “Queimando uma pintura de Frida Kahlo de US$ 10 milhões” (Youtube, 2022), uma espécie de teaser comercial, vê-se uma festa em uma mansão luxuosa de Miami, repleta de mercadorias horrendas que fazem referência a obras de Frida Kahlo. Dentre as imagens que se sucedem rapidamente, é possível distinguir modelos femininos desfilando, uma apresentação de um grupo musical em trajes tradicionais mexicanos, uma malabarista, a fartura de comes e bebes, culminando num discurso do anfitrião, um tal Martin Mobarak, apresentado como “CEO da Frida.nft”. Depois de apelar ao caráter caritativo da iniciativa, devidamente auxiliado por empregados, o dito CEO aparece retirando um quadro de uma moldura, e queimando-a dentro de uma taça de bebida colorida, ao som de urros dos convivas. Na descrição do vídeo, que serve de merchandising para “esseslimitados NFTs”, afirma-se o caráter “histórico” do evento, que teria revolucionado o “setor de arte”, por meio de um “ato profundo [...] feito para que crianças infelizes e doentes, mulheres espancadas e outros menos afortunados em todo o mundo possam ter esperança”. Nas palavras do revolucionário CEO, “tenho orgulho de dizer que este evento resolverá alguns dos maiores problemas do mundo em homenagem a Frida Kahlo”.
Dessa bizarra pantomima, que não deixa de evocar a sinistra imagem de uma queima de bruxas em praça pública, em nome da purgação de pecados, destaque-se a concatenação do desejo açambarcador, do aleijão arrivista e especulador e da primazia da dita esfera virtual, em cujo altar o mundo não virtual deve ser sacrificado, sempre em nome da sede desmedida por acumulação. Para ampliar seu interesse comercial, a mercadoria digital precisa eliminar a obra física. Assim como os fantasmas precisam canibalizar os viventes, e o trabalho morto, o capital, precisa se vivificar vampirizando o trabalho vivo.
No caso em vista, mobiliza-se um sofisticado aparato tecnológico com o propósito de produzir uma espécie de aura fictícia para o objeto artístico, que, no entanto, não responde aos velhos princípios da autoridade e do “aqui e agora” da obra de arte, redundante da dialética entre o valor de culto e de exposição que vigorava antes do desenvolvimento da reprodutibilidade técnica, conforme teorizado por Benjamin (1996a). Ao contrário, trata-se de uma aura espúria, que responde apenas a um ímpeto imperialista, espoliador, à custa do enorme potencial de socialização dos meios de produção e de fruição dos objetos artísticos que as novas tecnologias carregam.
O triunfo totalitário sobre a esfera da intimidade
Com a difusão do arcabouço tecnológico produzido pela revolução microeletrônica, e que se desdobra mais recentemente na datificação, na inteligência artificial e congêneres, diversas tendências de produção do mínimo eu, analisadas por Lasch, foram potencializadas, como a automação produtiva e a transnacionalização de redes de produção e de consumo, diante das quais o indivíduo aparece ínfimo e impotente. Pela primeira vez, constata João Bernardo (2014), um mesmo arcabouço tecnológico exerce comando sobre os trabalhadores tanto no espaço produtivo, quando no tempo de não-trabalho – nas ruas, nas praças, nas casas – a partir de um sistema de vigilância e de estímulos em tempo integral[3]. Trata-se de um grande panóptico tecnológico que busca condicionar o comportamento dos indivíduos no âmbito da produção e do consumo, por meio da mobilização e da repressão.
Emerge daí um novo modelo de vigilância, a “vigilância algorítmica”, em que a “ênfase recai na relação entre os indivíduos”. Nele, o controle se dá “a partir das interações pessoais, e o rastreamento passa a depender da extroversão da intimidade pessoal do sujeito em rede” (Beiguelman, 2022). Algo semelhante é identificado por Letícia Cesarino (2022), quando conclui que as “infraestruturas cibernéticas propiciam vieses organizacionais que, embora embutidos no design, só emergem plenamente na relação com grupos e atores concretos (incluindo aí os próprios algoritmos)”, cujos critérios não são fixos, “mas recursivos e emergentes a partir dos próprios dados”. Em acréscimo, cumpre destacar aquilo que Beiguelman (2022) considera o “mais desconcertante paradoxo da política das imagens na contemporaneidade”, a saber, que “somos vistos (supervisionados) a partir daquilo que vemos (as imagens que produzimos e os lugares em que estamos). Ou seja: os grandes olhos que nos monitoram veem pelos nossos olhos”. E isso a partir de algoritmos cuja arquitetura e cujos parâmetros são inescrutáveis.
Ao lado dos serviços oferecidos pelas plataformas, como os de armazenamento, busca, tradução, mapas, entre outros, e das fugazes compensações obtidas pelos “likes” recebidos ou pelos “seguidores” acumulados, esse sistema total, com sua sede insaciável por dados, nutre-se do temor decorrente da perspectiva “de não sermos visíveis e desaparecermos”. Diante dele, com tanto mais afinco os “usuários” se engajam em devassar suas “intimidades” e em construir seus avatares virtuais[4]. Nesse contexto, a vigilância ter-se-ia tornado o “horizonte estético da cultura urbana contemporânea” (Beiguelman, 2022), e a cidade emerge como a “interface privilegiada das novas tecnologias de imagem” (Beiguelman, 2022).
Ocorre, ainda, que por detrás dessas imagens engendradas digitalmente existem “uma série de camadas e informações que são legíveis apenas por máquinas”, e é justamente essa opacidade inerente, que as tornam inacessíveis à percepção, à intelecção e à linguagem humana, que lhes confere
o poder de interferir no cotidiano, determinando o acesso a lugares, por meio de reconhecimento facial ou mapas de calor, na obtenção de um emprego, por meio de leitura da íris, e na prevenção da probabilidade de um delito, através do sensoriamento dos seus movimentos e informações dispersas em incontáveis bancos de dados. É isso que Virilio chamou de “estado de claustrofobia de massa” (Beiguelman, 2022).
Contra uma visão fatalista ou paranoica sobre esses processos, poder-se-ia recordar que “cada meio aspira a, e trabalha para, tornar-se um fim. A vigilância controla a si mesma e conspira contra si mesma” (Debord, 2017, p. 257), pondo em movimento uma “tendência a rendimentos decrescentes do controle” (Debord, 2017, p. 257). Seja porque até hoje nenhum sistema de controle provou-se plenamente inexpugnável, seja porque, assim como à época de Guy Debord, uma parte importante dos dados coletados seguem sem análise ou são precariamente processados, ou ainda, porque “a conduta da vigilância e da manipulação não é unificada” (Debord, 2017, p. 254). Com isso, argumenta Jonathan Crary (2022), os aparatos de vigilância tendem a conformar “uma colcha de retalhos de sistemas e componentes concorrentes e incompatíveis, resultando em defeitos, quebras e ineficiências”, pela própria natureza da concorrência intercapitalista e interestatal. Dessa maneira,
a lógica capitalista de disrupção contínua pela obsolescência programada, pela complexidade técnica cada vez maior, pelo corte de custos e pela introdução apressada de atualizações desnecessárias conflita com a estabilidade demandada para o funcionamento eficiente do controle autoritário (Crary, 2022).
Não obstante, a situação não deixa de ser periclitante. Como contraface do mencionado achatamento do eu, a atual onda iconomaníaca, franqueada pela proliferação de computadores portáteis, smartphones à frente, produz uma exacerbação visual do eu, uma exacerbação do individual, que implica ideologicamente na dissolução do social (Bernardo, 2014, p. 10). Procura-se catapultar e açambarcar aquilo que Freud designava “pulsão do ver” ou “pulsão escópica”. Segundo Freud (apud Lemos, 2018, p. 173),
a vida sexual infantil, apesar da dominação preponderante das zonas erógenas, exibe componentes que desde o início envolvem outras pessoas como objetos sexuais. Dessa natureza são as pulsões do prazer de olhar e de exibir, bem como a de crueldade, que aparecem com certa independência das zonas erógenas e só mais tarde entram em relações estreitas com a vida genital.
Nessa acepção, a pulsão escópica poderia ser dividida em três tempos, coetâneos, o autoerotismo – momento em que o investimento libidinal é todo direcionado ao sujeito em constituição, associado ao narcisismo primário –, o voyeurismo – em que o interesse libidinal se volta para o mundo objetal, e se goza direcionando o olhar ao outro – e o exibicionismo – em que a finalidade ativa de ver é suplantada pela passiva, de ser visto (Lemos, 2018, p. 174), e as redes sociais parecem alimentar essas três expressões, elevando-as a um patamar inaudito. Nelas, “o espelho no qual o sujeito se vê é o Outro e, certamente, são as respostas desse Outro – enquanto ideal do eu, que dão a forma do eu ideal que se pode ver refletida nos ‘perfis’ do ciberespaço” (Lemos, 2018, p. 177). Mais do que isso, “nas transmissões eletrônicas eu só consigo visibilidade expondo-me, apelando para formas extremas de atração do outro, tornando-me o stripteaser da minha vida e da minha mente, radicalizando a exposição, entregando tudo” (Marcondes Fiho apud Lemos, 2018, p. 178). O alcance dessa atitude conduz autores como Passando da Quinet (apud Lemos, 2018, p. 188) a propor que as sociedades contemporâneas se tornaram sociedades escópicas, nas quais
é o olhar, excluído da simbolização efetuada pela cultura sobre a natureza, que retorna sobre a civilização, trazendo o gozo do espetáculo e o imperativo do supereu de um empuxo-a-gozar escópico: um comando de dar-a-ver, seja mostrar-se inocente, seja tornar-se visível [...]. O Outro me vê, logo eu existo.
Ao mesmo tempo em que o eu é visualmente exacerbado, produz-se a destruição da privacidade, que é um espaço fundamental de individuação, e se revela, por caminhos tortuosos, um pressuposto para a emergência do inconformismo e da organização política[5]. Assim, “enquanto a sociedade é ideologicamente desestruturada pelo estímulo à concentração da pessoa nela própria”, conclui Bernardo (2014, p. 10), “as fronteiras protetoras do indivíduo são eliminadas porque ele expõe publicamente todos os seus gestos a todos os olhares”. Ademais, aceita-se, por parte das “instâncias do conformismo”, a desqualificação do segredo e da privacidade como “algo mal, pois o mal acontece secretamente eo ipso” (Anders, 2011b, p. 237). Buscando exercer um controle total, tais instâncias ocupam-se de execrar qualquer tipo de reserva, ao mesmo tempo em que elogiam e recompensam “toda a autoexposição voluntária como se fosse um ato de lealdade e saúde, e até mesmo como uma fonte de felicidade” (Anders, 2011b, p. 238). A sociedade capitalista realiza, desse modo, sem alardes e enfrentando pouca resistência, um feito totalitário, esse de devassar o âmbito da intimidade e da privacidade. Dessa perspectiva,
o indivíduo deve desbloquear e entregar ao poder total o “espaço interior” que ele havia tomado e reservado para si enquanto ser isolado e “discreto”. Este “expansionismo interior” do Estado total é um processo que corresponde ao expansionismo imperialista. Sempre que o totalitarismo aparece, o indivíduo é a primeira “região ocupada”: Expansionism begins at home [o expansionismo começa em casa] (Anders, 2011b, p. 223).
De fato, como lembra Marcuse (1998b, p. 83), “um dos empreendimentos mais ousados do Nacional-Socialismo é a luta contra esses tabus sobre privacidade”. Outrora, esse empreendimento mobilizava críticas ao individualismo burguês e a apoteose do Estado, buscando “‘nacionalizar’ a privacidade sagrada da satisfação individual”, ainda conforme a argumentação de Marcuse (1998b, p. 90), com o quê “o nacional-socialismo conquistou a última posição que o homem ainda mantinha contra uma ordem pública repressiva, o último domínio em que ele poderia viver de acordo com suas potencialidades e desejos”.
Essa tendência, diga-se de passagem, expressava-se em sonhos reunidos por Charlotte Beradt na Alemanha nazista, entre 1933 e 1939. Em um deles, de 1934, um homem de 45 anos volta para casa depois de um dia de trabalho, e ao sentar para ler em sua sala, vê desaparecer as paredes do apartamento. Aturdido, escuta ressoar um alto-falante: “De acordo com o edital de eliminação de paredes, datado do dia 17 deste mês...” (Beradt, 2017, p. 44). Noutro sonho, agora de uma jovem mulher, registrado em 1933, as placas de ruas são proibidas, e em seu lugar são colocados quadros negros contendo vinte palavras cuja pronúncia estaria vedada, escritas em branco. O mais curioso é que lembra apenas de duas palavras, a primeira e a última, que ela lê em inglês, em atendimento à interdição do sonho (“por precaução”, segundo ela). As palavras em questão eram “Deus” (em inglês, Lord), e “Eu” (maiúsculo). À perda da orientação e das referências históricas contidas nos nomes das ruas, soma-se, na interpretação de Beradt, a perda de Deus e da individualidade, ao mesmo tempo em que se afirma, de certa forma, o princípio de autoridade expresso no “primeiro mandamento” comunicado a Moisés, que proíbe evocar o nome de Deus em vão (Beradt, 2017, p. 46). Ainda em 1933 outra mulher sonha, também por “precaução”, que fala russo enquanto dorme, “para que eu mesma não me compreenda e, assim, ninguém me entenderá caso eu diga algo sobre o Estado, pois isso é proibido e precisa ser denunciado” (Beradt, 2017, p. 70).
Esses escrúpulos, que calam fundo no íntimo de inimigos e súditos do Estado, ao ponto de se inscreverem em seus inconscientes, são bastante justificáveis. É próprio ao poder estatal a ambição de esquadrinhar e controlar plenamente suas populações – por meio de repressões, condicionamentos e compensações diretas e indiretas –, o que levou ao desenvolvimento de estratégias e dispositivos cada vez mais sofisticados (Mello, 2024).
Nessa seara, o caso soviético é igualmente elucidativo, porém aqui não se fará mais do que ilustrá-lo. Acossado pelo stalinismo e conhecendo na pele seus mecanismos de vigilância e de punição, Victor Serge reconstituiu suas origens e comparou-os aos que foram mobilizados ainda sob o regime czarista tardio. Entre seus achados, encontra-se um complexo sistema de classificação produzido pela Okhrana, a polícia secreta imperial, baseado na construção de um mapa que apresentava o conjunto de intrincadas relações pessoais diretas e indiretas dos suspeitos ou dos inimigos do regime. Nesse mapa discriminava-se vínculos familiares, de amizade, de trabalho etc., e dava especial destaque àqueles de caráter político. Noutro quadro também se registrava a data e a hora de cada encontro, de modo a estabelecer um monitoramento rigoroso de cada pessoa ou de cada organização (cf. Bernardo, 2018, p. 279-80). Baseada nessa descrição, porém sem citar Victor Serge, Hannah Arendt (apud Bernardo, 2018, p. 280) concluirá que tal sistema potencialmente abrangeria o conjunto da população, e seria “precisamente este o objetivo utópico da polícia secreta totalitária”.
Ora, emenda Bernardo, “é precisamente esta também a meta — não ideal, mas muito real — da vigilância informatizada”, que remonta aos cartões perfurados da IBM – tão úteis aos nazistas para levarem adiante sua política racial e o extermínio em massa. Com o aperfeiçoamento e a generalização dos dispositivos informatizados e da internet, teria ocorrido assim a “democratização do totalitarismo”, que, convém insistir, “progrediu e atingiu uma dimensão universal quando cada pessoa, através das redes sociais, tomou a iniciativa de tornar públicas as suas opiniões a respeito de tudo e de todos e as suas filiações e relações” (Bernardo, 2018, p. 280)[6].
Dissimulação e ressurgências de conflitos sociais
Atualmente essa devassa totalitária é feita em nome do individualismo, e é o próprio indivíduo que sacrifica voluntariamente sua privacidade, por meio de um duplo movimento de “secundarizar tudo perante a imagem do eu e, simultaneamente, destruir o valor do eu mediante a banalização dos seus gestos e percursos” (Bernardo, 2014, p. 11)[7]. Com isso, dá-se a “generalização da futilidade”, por meio da “conjugação da frivolidade e insignificância” (Bernardo, 2014, p. 11), numa espiral de embotamento e embrutecimento. Afinal, como há tempos constatara Anders (2011a, p. 21),
as imagens, principalmente quando sufocam o mundo com sua proliferação, muitas vezes carregam o perigo de se tornarem dispositivos de emburrecimento, pois, enquanto imagens e diferentemente dos textos, no fundo não revelam nenhum contexto, mas sempre apenas fragmentos de mundo desgastados, ou seja, mostrando o mundo, elas o velam.
Uma evidente expressão dessa tendência é a pletora de figuras, “gifs”, “emojis” e outras imagens que cada vez mais atravessam as mensagens e as interações mediadas por plataformas digitais, que junto com os “likes”, “dislikes”, e congêneres substituem palavras e suplantam a escrita. Produz-se assim a imagem de um “capitalismo fofinho, um regime que celebra, por meio de ícones gordinhos e arredondados, um mundo cor-de-rosa e azul-celeste” (Beiguelman, 2022).
Tal imagem também é propalada no espaço da produção. Ainda na primeira metade da década de 1980, Lasch (1986, p. 38) identificara a emergência de um novo estilo de controle autoritário, que tratava o trabalhador “como sócio na empresa e procurava dar a ele um sentido de pertencer àquela”. A clivagem entre proprietários dos meios de produção e produtores diretos, as clivagens de classe, teriam se esfumaçado diante da miragem de que o universo empresarial seria formado por uma pletora de “colaboradores”, de igual estatuto e irmanados na suposta valorização compulsiva de seu capital humano – essa fantasmagoria fetichista. Nessa narrativa não haveria espaço para a conflitividade social constitutiva das modernas relações de trabalho, expressões da contradição fundamental entre capital e trabalho (Müller, 1982). Essa positivação teria de recobrir também os processos de trabalho, que passam a se caracterizar pela imbecilidade própria ao tempo de “lazer”, o que se expressa nas aviltantes dinâmicas avaliativas e em sua dita “gameficação”.
Nesse sentido, somos contemporâneos de Adorno, quando ele constata que a estrutura do trabalho e do divertimento tendiam a se assemelhar, já que “de ambos foram expulsos, na mesma proporção, o prazer e o espírito. Lá como cá imperam a seriedade sem humor e a pseudo-atividade” (Adorno, 1993, p. 114). Ao refletir sobre o “tempo livre”, Adorno chamara a atenção para o fato de que, sob a égide do fordismo, a indústria cultural teria colonizado o âmbito doméstico da reprodução social, não apenas para dominar e mercantilizar o espaço da reprodução da população trabalhadora, mas também para garantir um melhor desempenho dessa população no tempo de trabalho. Entretanto, naquele contexto, isso exigia que, fora da jornada de trabalho, as atividades não deveriam “lembrar em nada o trabalho. Esta é a razão da imbecilidade de muitas ocupações do tempo livre. Por baixo do pano, porém, são introduzidas, de contrabando, formas de comportamento próprias do trabalho, o qual não dá folga às pessoas” (Adorno, 1995, p. 73). Ao contrário, o que hoje se vê, nesse corrente esforço de positivação do trabalho, é a tentativa de fazê-lo absorver determinações do “tempo livre”, justamente em favor do conformismo e da entrega desmedida às diretrizes empresariais.
Como contraface ou como verdade oculta por trás dessa patética fachada, vê-se a consolidação de uma verdadeira pandemia de depressão e de ansiedade, entre outras expressões do sofrimento psíquico indissociáveis da precarização e da intensificação do trabalho, e dos imperativos da performance e da concorrência desenfreada (Safatle et al., 2021). Nesse contexto, de afirmação da população trabalhadora como “capital humano”, “empreendedores” e “colaboradores”, os antagonismos sociais e a própria sociedade são obliterados diante de um individualismo radical, e com isso os sujeitos assujeitados são espoliados até mesmo da consciência de sua reificação ou do estranhamento que tal condição engendra. Assim, as vicissitudes, as frustrações, as violências inerentes a uma sociedade desigual e assentada sobre toda sorte de exploração e opressão, são internalizadas e traduzidas ora como impotência e inadequação individual – pretensa incapacidade de vestir a camisa da empresa e insuficiente resiliência e disposição ao sacrifício, que afundam o sujeito em quadros depressivos –; ora como ameaças difusas e cambiantes – postiças –, que causam ansiedade e eventualmente quadros como o da síndrome do pânico; ora paranoicamente personificadas em um Outro que obstaculiza ou não reconhece a performance almejada, e que se torna objeto de ódio e hostilidade.
Essa tendência é particularmente visível nas plataformas e redes sociais, em que, abrindo espaço entre os gifs e os ícones fofinhos, ganha força a cultura dos trolls e dos haters, os amoucos de toda ordem, que fazem multiplicar fóruns e redes sociais em que se destilam misoginia, racismo, xenofobia, intolerância religiosa e política, homofobia e toda sorte de preconceitos e de discriminação. De modo cada vez mais frequente, como era de se esperar, esse ódio se desdobra em ato, na forma de ataques armados e assassinatos em massa, bem como no fortalecimento de forças políticas de extrema-direita e neofascistas, particularmente hábeis em mobilizar as novas tecnologias de comunicação e informação como meio de mobilização e de constituição de massas virtuais e reais, a serem manipuladas tanto como meio de monetização quanto como força política (Cesarino, 2022).
Afinal, “para a maioria da população da Terra a quem foi imposto”, argumenta (Crary, 2022), “o complexo da internet é o motor implacável do vício, da solidão, das falsas esperanças, da crueldade, da psicose, do endividamento, da vida desperdiçada, da corrosão da memória e da desintegração social”. No caso dos jovens, destaca ainda o autor,
eles estão sendo negados a possibilidade da extasiante descoberta de sua própria singularidade e do despertar do amor próprio como base para a iniciação no mundo por meio de amizades, sexualidade e criatividade. O vulnerável mundo sensorial das crianças e adolescentes que habitam o complexo da internet é agora predominantemente o da estimulação viciante e da homogeneidade eletroluminescente (Crary, 2022).
Serão os cada vez mais recorrentes ataques armados às escolas no Brasil, em parte, um sintoma desse fenômeno?[8] Ora, a afirmação de lógicas binárias e o esvaziamento da linguagem, restringindo a capacidade de intelecção, de simbolização e de comunicação, não apenas torna o mínimo eu mais vulnerável às manipulações, mas também, ao confiná-lo e massacrá-lo, torna-o mais propenso a reações violentas. Mais uma vez, realiza-se assim um desiderato comum aos regimes totalitários de rebaixamento da linguagem e de produção de uma novilíngua e de um duplipensamento – conforme descrito por Orwell em 1984 –, que engendra, no limite, uma verdadeira afasia.
Duas notas de crítica da economia política
O uso desmedido das plataformas digitais, que produz a ilusão de agência e de autonomia, tende a ocultar o dado elementar de que “as ferramentas e serviços digitais usados por pessoas em todos os lugares estão subordinados ao poder de corporações transnacionais, agências de inteligência, cartéis criminosos e uma elite bilionária sociopata” (Crary, 2022). Diante disso, convém lembrar que, junto com a ampliação do domínio do capital sobre a população trabalhadora tanto na condição de força de trabalho quanto na de consumidores – cada vez mais endividados –, as últimas revoluções tecnocientíficas competiram para ensejar um campo privilegiado para a apropriação de riqueza abstrata, em consonância com a tendência extrativista e espoliadora que caracteriza a atual dinâmica de acumulação de capital. Numa palavra, trata-se da captura de dados durante o uso dos mais diversos aplicativos e dos buscadores da internet – praticamente em tempo integral, no caso dos smartphones –; do emprego de objetos conectados em rede – a dita internet das coisas –; das operações bancárias, virtuais ou não; da contratação de toda sorte de serviços, e assim por diante[9].
Logo, em sua voracidade rentista, as empresas supracitadas convertem aquele ponto escuro ao fundo do espelho infinito, mencionado anteriormente, em um vórtice, uma espécie de buraco negro. Conforme a análise de Eugênio Bucci (2020) sobre a Superindústria do imaginário, “pelo atrator desse vórtice, o olhar não é mais convidado ou guiado, mas sugado brutalmente para o fundo das lentes e das telas, para o encantamento dos espelhos narcísicos”[10].
Noutras palavras, os sistemas de vigilância e de processamento de dados, cada vez mais onipresentes e totais, são fonte de informações que serão usadas para construir perfis dos usuários, para antecipar e mesmo condicionar comportamentos de forma controlada, interferindo de maneira decisiva na produção de necessidades, na manipulação do desejo e no processo de realização de mercadorias[11]. Os dados brutos ou já processados constituem uma forma de mercadoria virtual, a mercadoria-conhecimento (cf. Rotta e Teixeira, 2019), que pode ser vendida pelas grandes corporações que monopolizam a produção da tecnologia empregada em sistemas operacionais, plataformas e redes sociais – as ditas big techs –, diretamente aos seus clientes ou a “brokers” de dados. Ao mesmo tempo, elas vendem espaços publicitários em suas plataformas e redes sociais, que lhes garantem receitas astronômicas. Em suma, a crescente capacidade que a indústria cultural possui de vigiar, de produzir necessidades e subjetividades, de disciplinar e de condicionar comportamentos, num nível de aprofundamento e numa escala inauditos, confere a essas empresas um enorme poder de “capitalização” desse domínio.
Não é à toa que em meados de 2023, das 10 maiores corporações em termos de capitalização de mercado, 8 eram empresas produtoras de tecnologia – Apple (1ª), Microsoft (2ª), Alphabet (4ª), Amazon (5ª), NVIDIA (6ª), Tesla (7ª), a Meta (8ª), e a Taiwan Semiconductor (10ª), somando cerca de US$ 11,5 trilhões (Investopedia, 2023). Por exemplo, a Meta (antiga Facebook), retira mais de 95% de sua receita anual da publicidade que vendem (Dowbor, 2022). Via de regra, são os consumidores finais que, no limite, irão arcar com os custos com o marketing; não obstante, da ótica das big techs, trata-se de uma apropriação de riqueza social produzida alhures, que elas em nada contribuíram para produzir.
Além de combinar a vigilância algorítmica, o extrativismo de dados, a captura do olhar e o controle dos comportamentos, as grandes corporações competem para produzir uma aceleração vertiginosa da produção e consumo de informações, com o que se engendra a ilusão de que apenas o imediato, apenas o que acaba de aparecer na tela do smartphone, pode reivindicar estatuto de realidade (Cesarino, 2022). Esse imediatismo virtualmente absoluto reforça à tendência presentista apontada por Lasch, como se viu. Não obstante, a crítica da economia política fornece ainda outra ancoragem a tal tendência. Diante da necrofilia do capital – o trabalho morto que se vivifica ao mortificar o trabalho vivo – e de seu caráter desmedido, poder-se-ia destacar que a importância assumida pelas formas fictícias do capital e pela apropriação da riqueza social na forma de juros, dividendos, ganhos de capital e das distintas modalidades da renda, está em linha e serve de fundamento para o cárcere do “eterno presente” descarnado.
Para os operadores e investidores nos mercados financeiros, como já constatara Benjamin em sua obra das Passagens, o presente é vivido “na pura expectativa de ganhos em um futuro incerto” (Benjamin, apud Grespan, 2009), futuro este que se lhes afigura como mera projeção do presente. Com isso reforça-se o culto ao imediato e, portanto, o colapso do passado e do futuro no presente. Afinal, trata-se da temporalidade dos fluxos transnacionais de capital por meio de suas formas de capital portador de juros e de capital fictícia, a temporalidade dos mercados financeiros e suas pletoras de títulos que dão origem a outros títulos, e em que parte importantes das transações se dão de forma automatizada, em meio a um processo concorrencial que se trava em um plano infinitesimal (Paraná, 2016). Novamente, trata-se de um tempo morto, que não é outro senão o mundo das fantasmagorias.
Considerações finais
Parece ocioso insistir que o mínimo eu teorizado por Christopher Lasch sente-se em casa num mundo em que vastas extensões de terras habitadas ardem em chama enquanto outras são inundadas, causando milhares de mortos e dezenas de milhares de migrantes forçados, anualmente. Em que pululam guerras que vivificam as ameaças atômicas, que nada possuem de retórica; em que crises econômicas de alcance mundial se sucedem, devastadoras, salvo para ínfimas parcelas da humanidade que não cessam de açambarcar crescentes parcelas da riqueza social mundial. Por fim, em um mundo em que, de um lado, bilionários adquirem bunkers e sonham com uma fuga para outras galáxias, enquanto igrejas e grupos políticos de extrema-direita propalam suas mensagens escatológicas.
O esmagamento do eu foi reforçado nos últimos anos por fenômenos e tecnologias que em muitos casos mal se podia antever à época de escrita da obra de Lasch aqui visada. O que justificou as considerações sobre a nova febre iconomaníaca e a virtual destruição da esfera da intimidade, à luz da radicalização do fetichismo do capital e dos avanços da indústria cultural em tempos de inteligência artificial, big data, redes sociais e congêneres. Em acréscimo, indicou-se, ainda que em linhas gerais, a possibilidade de ancorar tais análises em aspectos fundamentais da crítica da economia política, pressuposto, salvo engano, de um esforço crítico de atualização das análises de autores supracitados, em particular Lasch e Anders, com o que, modesta e introdutoriamente, este texto busca contribuir.
Referências Bibliográficas
ADORNO, T. Tempo livre. In: Palavras e Sinais. Modelos críticos 2. Petrópolis: Vozes, 1995.
ADORNO. Minima Moralia. Lisboa: Edições 70, 1993.
ADORNO, T.; HORKHEIMER, M. Dialética do Esclarecimento [Recurso Digital]. São Paulo: Zahar, 2014.
ANDERS, G. Teses para a Era Atômica. Sopro, n.87, 2013. Disponível em: http://culturaebarbarie.org/sopro/outros/anders.html#.XyWskOdv_IU.
ANDERS, G. La obsolescencia del hombre (vol. I). Sobre el alma en la época de la segunda revolución industrial. Valência: Pré-Textos, 2011a.
ANDERS, G. La obsolescencia del hombre (vol. II). Sobre la destrucción de la vida en la época de la tercera revolución industrial. Valência: Pré-Textos, 2011b.
ARANTES, P. E. O novo tempo do mundo. In: O novo tempo do mundo. São Paulo: Boitempo, 2014.
ARANTES, P. E. Sale Boulot, uma janela para o maior trabalho sujo da história. Tempo Social (USP. Impresso), v. 23, p. 31-60, 2011.
BEIGUELMAN, G. Políticas da imagem: vigilância e resistências na dadosfera. [Recurso Digital]. São Paulo: UBU, 2022.
BERADT, C. Sonhos do Terceiro Reich. São Paulo: Fósforo, 2022.
BERNARDO, J. Arte e Espelho. Passa Palavra, 2021. Disponível em: https://archive.org/details/arte-e-espelho/page/15/mode/2up.
BERNARDO, J. Labirintos do Fascismo [recurso digital], 2018. Disponível em: https://bityli.com/AkAr3. Acesso em: 05/05/2022.
BERNARDO, J. A complexa arquitectura da futilidade. IN: TAVARES, R.H.; GOMES, S.S (orgs.). Sociedade, educação e redes: desafios à formação crítica. Araraquara, SP: Junqueira & Marin, 2014. pp. 57-77.
BUCCI, E. O convite ao fascismo. A Terra é Redonda, 2020. Disponível em: https://aterraeredonda.com.br/o-convite-ao-fascismo/ . Acesso em: 03/09/2023.
CAMUS, A. A inteligência e o cadafalso. Rio de Janeiro: Record, 2020b.
CESARINO, L. O mundo do avesso – Verdade e política na era digital. [Recurso Digital]. São Paulo: UBU, 2022.
COOK, Fred. The Warfare State. The Annals of the American Academy of Political and Social Science, Vol. 351, 1964, pp. 102-109.
CRARY, J. Scorched Earth. Beyond the Digital Age to a Post-Capitalist World. [Recurso Digital] Londres/Nova Iorque: Verso Books, 2022.
DARDOT, P.; LAVAL, C. A nova razão do mundo. São Paulo: Boitempo, 2013.
DEBORD, G. A sociedade do espetáculo. Rio de Janeiro: Contraponto, 2017.
DEJOURS, C. A banalização da injustiça social. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2006.
DOWBOR, L. Resgatar a função social da economia [recurso eletrônico]. São Paulo: Elefante, 2022.
FOLHA DE SÃO PAULO. Adolescente com suástica no braço é detido após ataque a bombas a escola de Monte Mor (SP). Folha de São Paulo, 2023. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2023/02/jovem-com-suastica-no-braco-e-detido-apos-ataque-a-bombas-em-escola-de-monte-mor-sp.shtml. Acesso em: 15/02/2023.
GRESPAN, J. L. Fetiche e alegoria. III Seminário Internacional Políticas de la Memoria. Recordando a Walter Benjamin. Buenos Aires, 2009.
INVESTOPIDIA. 10 Biggest Companies in the World, 2023. Disponível em: https://www.investopedia.com/articles/active-trading/111115/why-all-worlds-top-10-companies-are-american.asp. Acesso em: 19/09/2023.
JAPPE, A. A Sociedade Autofágica– capitalismo, desmesura e autodestruição. Lisboa: Antígona, 2019.
KURZ, R. As guerras de ordenamento mundial [Recurso eletrônico]. OBECO-Online, 2019. Disponível em: http://www.obeco-online.org/a_guerra_de_ordenamento_mundial_robert_kurz.pdf. Acesso em: 02/02/2022.
KURZ, R. A Estética da Modernização. Da cisão à integração negativa da arte. OBECO-Online, 2002. Disponível em: http://www.obeco-online.org/rkurz76.htm. Acesso em: 02/02/2022.
KURZ, R. Guerra Civil Mundial em vez de Paz Eterna. Folha de São Paulo (03/12/1992), Caderno Mais, 1992.
LASCH, C. O Mínimo Eu: Sobrevivência psíquica em tempos difíceis. São Paulo: Brasiliense, 1986.
LEMOS, P.F. Entre olho e olhar: o gozo escópico no Facebook. Revista Affectio Societatis, v.15, n.28, 2018.
MARCUSE, H. State and individual under National Socialism. IN: Technology, war, and fascism. Londres/Nova Iorque: Routledge, 1998.
MARCUSE, H. A ideologia da sociedade industrial: o homem unidimensional. Rio de Janeiro: Zahar, 1973.
MBEMBE, A. Brutalismo. São Paulo: N-1 Edições, 2021.
MELLO, G.M.C. O Estado moderno entre o capital e a guerra. Revista Direito e Práxis, no prelo.
MELLO, G. M. C. Nas entranhas do capital: sobre o moderno barbarismo. Revista Estudos do Sul Global (RESG), v. 2, p. 10-34, 2023.
PARANÁ, E. A Finança Digitalizada: capitalismo financeiro e revolução informacional. São Paulo: Insular, 2016.
PASOLINI, P. Escritos corsários. São Paulo: Editora 34, 2020.
PRADO, M. Tempestade ideológica: Bolsonarismo, a alt-right e o populismo iliberal no Brash. [Recurso Digital] São Paulo: Ed. Lux, 2021.
ROTTA, T.; PARANÁ, E. Bitcoin as a Digital Commodity. New Political Economy, v.27, n.6, 2022.
SMITH, M.E.G. Invisible Leviathan: Marx’s Law of Value in the Twilight of Capitalism. Boston: Brill, 2019.
YOUTUBE. Queimando uma pintura de Frida Kahlo de US$ 10 milhões [Recurso Audiovisual]. Youtube, 2022. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=_M23F73G0Jc&t=147s. Acesso em 11/11/2022.
WACQUANT, L. Punir os pobres: a nova gestão da miséria nos Estados Unidos. Rio de Janeiro: Revan, 2003.
Gustavo Moura de Cavalcanti Mello
Graduado em Economia, Mestre e Doutor em Sociologia e Pós-Doutor em Economia pela Universidade de São Paulo (USP) e Pós-Doutor em Sociologia pela Universidade de Campinas (UNICAMP). Atualmente é Professor do Departamento de Economia e do Programa de Pós-Graduação em Política Social da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), e Pesquisador do CNPq.
Os textos deste artigo foram revisados por terceiros e submetidos para validação do(s) autor(es) antes da publicação
[1] Afinal, “o possível colapso de toda a nossa civilização gerou uma sensação generalizada de crise, e a retórica da crise agora permeia a discussão das relações raciais, reforma prisional, cultura de massa, gestão fiscal e ‘sobrevivência’ pessoal cotidiana” (Lasch, 1986, p. 63).
[2] Muito antes das redes sociais, dos smartphones e dos aplicativos de encontros amorosos, nos quais os usuários como que se oferecem como opções disponíveis num imenso cardápio, Anders (2011b, p. 215) constatara que “dos bens que nos são fornecidos tomam parte, portanto, também e inclusive em primeira linha, nossos semelhantes: todos nós somos agora virtualmente comensais e comida canibal de outros. Nesse sentido, a situação é canibal. Ninguém que não tenha em mente esses dois processos canibais ao mesmo tempo, ou seja, comer e ser comido, pode fazer uma imagem completa de nossa existência atual [...]. Em suma: o espectador se transformou em um canibal de fantasmas, que agora come as imagens de seus semelhantes, caídos na armadilha do aparelho de filmagem, e fica nervoso, até se sente enganado, se por qualquer razão ocorra de alguma vez o horário normal dessas refeições atrasar ou faltar”.
[3] “Não bastam os muros de cimento e as barreiras legais. Pela primeira vez na história da humanidade, a aplicação extensiva da eletrônica aos processos de trabalho permitiu que os meios de produção fossem simultaneamente meios de fiscalização. Quer os simples computadores quer as máquinas com componentes eletrônicos registram o desempenho do trabalhador ao mesmo tempo que ele trabalha. E como as pessoas passam hoje a esmagadora maioria dos lazeres manipulando computadores, as horas de ócio são tão monitorizadas como as horas de trabalho “(Bernardo, 2018, p. 259-60).
[4] Beiguelman (2022) observa a naturalidade com que se difundem, no vocabulário das plataformas digitais, termos carregados de um sentido policialesco, como “seguir” ou “seguidores”, ou mesmo “usuários”. Tais termos, obviamente, denunciam duas dimensões fundamentais desses sistemas: a vigilância e a produção sub-reptícia de adição.
[5] Nesse sentido Anders (2011b, p. 22) identificava na individuação um “fato metafísico que opõe à resistência à pretensão totalitária”, um “fato ontológico”, que garante uma singularidade que faz do indivíduo uma espécie de “ilha blindada por muros, e assim obstrui a pretensão de onipresença e onipotência do Estado total”. Noutros termos, continua ele, em certa medida “embora o Estado total inclua em si os seres individuais, eles permanecem fora, permanecem lagoas em seu continuum, manchas brancas em seu mapa: continuam inacessíveis e inatingíveis para ele” (Anders, 2011b, p. 22). Entretanto, ele é forçado a reconhecer que “a verdade é, então, que nós, pessoas reais, a partir do momento em que há reproduções nossas disponíveis para os outros, caímos verdadeiramente no poder discricionário desses outros e que somos realmente entregues (por exemplo, podemos ser pressionados privada, empresarial ou política). Os resultados da empresa dedicada aos fantasmas são novas realidades” (Anders, 2011b, p. 217).
[6] Aliás, é bom lembrar, a internet foi um subproduto da Guerra Fria e da política de “destruição mútua assegurada”, de tal modo que sua precursora, a ARPANET, “foi concebida na década de 1960 como uma rede de comando e controle ‘distribuída’, destinada a sobreviver a um ataque nuclear total” (Crary, 2022). Ou seja, sobretudo para preservar a capacidade de retaliar um ataque nuclear massivo e garantir a produção definitiva da nadeidade, fruto da definitiva autodestruição da humanidade (Anders, 2013).
[7] “Nada apetece mais o totalitarismo suave do que deixar às suas vítimas a ilusão de autonomia ou mesmo produzir essa ilusão nelas” (Anders, 2011b, p. 239).
[8] Longe de ser um apanágio norte-americano, nos últimos anos, como se sabe, tais ataques têm se multiplicado no Brasil, muitas vezes sendo planejados e divulgados em fóruns da deep web por incels e outros fanáticos de extrema-direita (Prado, 2021). Em dois casos recentes os assassinos ostentavam braçadeiras nazistas (Folha de São Paulo, 2023).
[9] “Dispositivos móveis como tablets e smartphones propiciaram aos sistemas algorítmicos uma capilaridade inédita na relação com os usuários humanos, enquanto as application programming interfaces (APIs) permitiram o fluxo e o compartilhamento dos dados extraídos entre as plataformas e terceiros” (Cesarino, 2022).
[10] “Na Superindústria, o olhar escorre para a sombra invisível de um sumidouro e, caindo lá dentro, vira alimento para a substância fria do capital, cuja epiderme luminescente ondula sensual, colorida, incorpórea, fatal e vã” (Bucci, 2020). Essa “substância fria do corpo do capital leva silício, mas também cádmio, chumbo, berílio, além de cobalto extraído por braços frágeis que escalavram colinas e infâncias – e nós continuamos a dar a tudo isso o nome angelical, levitante e fagueiro de ‘nuvem’” (Bucci, 2020).
[11] “Esta indústria, que deve equilibrar a fome que as mercadorias têm de serem consumidas, e nossa fome delas mesmas, chama-se publicidade” (Debord, 2000, p. 22), a qual, “para ser eficaz, não se destina à razão, mas aos desejos; não atua através do nível consciente, mas do inconsciente ou mesmo subliminar. Ela é, por definição, pérfida” (Bernardo, 2021, p. 102).