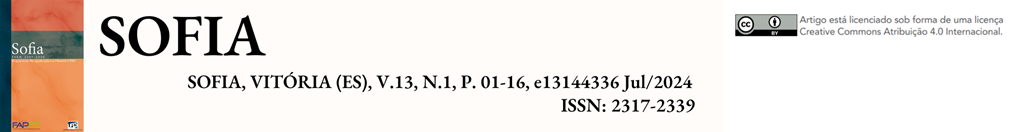
Literatura e Filosofia em Maurice Blanchot: o vitalismo obscuro da escrita
Literature and Philosophy in Maurice Blanchot: the obscure vitalism of writing
Adriano Henrique de Souza Ferraz
UNIFESP – Universidade Federal de São Paulo
Recebido: 17/04/2024
Received: 17/04/2024
Aprovado:19/06/2024
Approved: 19/06/2024
Publicado: 01/07/2024
Published: 01/07/2024
RESUMO
O presente trabalho busca reconstituir os momentos nos quais a primeira obra literária de Blanchot se abre para o pensamento filosófico. Em Thomás, L´Obscur, os temas de um vitalismo a contrapelo, que segue de perto os problemas colocados pela morte imanente à vida, se transpõem numa caracterização importante do que compreende como espaço literário. Tentamos mostrar como sua criação se estende para além do campo literário, dando a ver uma ontologia da linguagem e uma experiência intensiva do real. Apesar de serem incorporados criticamente alguns conceitos bergsonianos (ao invés de vida, duração e memória, o que se passa em Blanchot é morte, instante e esquecimento), não se trata propriamente de ir numa contramão. Tal inversão é ambígua, pois não se falseia propriamente o tipo de realidade para a qual o bergsonismo apontava, mas sim para aprofundá-la.
Palavras-chave: Blanchot, literatura, diferença, real, vitalismo.
ABSTRACT
This work seeks to reconstruct the moments in which Blanchot's first literary work opens to philosophical thought. In Thomás, L'Obscur, the themes of a vitalism against the grain that closely follows the problems posed by death immanent in life, are transposed into an important characterization of what is understood as literary space. We try to show how his creation extends beyond the literary field, revealing an ontology of language and an intensive experience of reality. Although some Bergsonian concepts are critically incorporated (instead of life, duration and memory, what happens in Blanchot is death, instant and oblivion) it is not exactly about going against the grain. Such an inversion is ambiguous, as it does not exactly falsify the type of reality to which Bergsonism pointed, but rather deepens it.
Keywords: Blanchot, literature, difference, real, vitalism.
Introdução
Jean Starobinski salientou, em artigo da edição 229 da Revue Critique, em 1966 (mesma edição em que aparece “La pensée du dehors” de Michel Foucault), a importância de Thomas L´Obscur no pensamento de Maurice Blanchot. Segundo Starobinski, o primeiro capítulo de Thomas intui o movimento geral de suas obras: “Reconhecemos nele o traçado antecipado de uma obra em progresso, a exposição por sua vez literal e figurada dos temas que o autor não cessou de interrogar”[1]. O romance começa com uma cena de insidiosa simplicidade: “Thomas sentou-se e olhou o mar”[2]. Para Starobinski esta primeira frase já traz em si o núcleo da relação de Blanchot com a narrativa. Não há ali um retrato de Thomas que nos revele sua biografia ou sua psicologia, existe apenas “um homem e um horizonte ligados por um ato de olhar”. E, logo em seguida, algo exterior o lançará em movimento: “uma onda mais forte o atingiu, ele desceu a encosta de areia e mergulhou entre os redemoinhos”[3]. Thomas não é apenas a “consciência espectral” da narrativa, um espectador do que virá. Segundo Starobinski, o narrador não sabe de antemão quais são as intenções do herói. “O ato de descer para o mar não é consecutivo de uma deliberação interna: ele se segue imediatamente a um acontecimento que vem de fora, uma onda mais forte que o atingira”[4]. Uma onda invisível que age como um impulso o leva a mergulhar entre os redemoinhos, como se a imobilidade lhe parecesse intolerável. Para o autor de Jean-Jacques Rousseau: a transparência e o obstáculo, o que há de mais importante em toda a cena inicial é o ato de passagem. Os limites, as fronteiras ultrapassadas que anunciam tantos outros atos de ultrapassamento ainda por vir em sua obra: a entrada na noite, a entrada na literatura, a entrada na casa, e, sobretudo a entrada na desrazão. Starobinski constata que as supressões feitas por Blanchot entre a primeira e a segunda versão de Thomas estão de acordo com uma exigência das próprias imagens narradas, pois “não foram oferecidas a não ser para desaparecer”:
[...] todo o sentido que elas nos oferecem de modo simbólico, todas as figuras da ausência de relação (nadador que não responde, barco vazio) se reduzirão e se unificarão em algo de mais literal, o imaginário se torna por sua vez mais simples e mais forte; a ficção recusa a prolixidade inventiva para não ser mais que um traço pictórico de um movimento necessário do pensamento.[5]
O mar, segundo Starobinski, figura fundamental e irredutível, evoca o perigo, a necessidade de luta e vigilância constante a fim de permanecermos vivos. Ele traz a figura do enfrentamento com o fora. No entanto, não se trata de uma leitura alegórica, pois não há o que simbolizar, não há um pensamento ou imagens anteriores ao que o mar esteja se referindo, a não ser a exterioridade radical. O que se passa é um certo ‘bordejamento’ de um núcleo de experiência no limite irrepresentável. As imagens em Blanchot oferecem apenas o “mínimo de corpo necessário para que o pensamento se perceba como pensamento”[6]. Não há estofo metafísico no mar. Ele é material, físico. Mas de uma “matéria cega e hostil do mundo”[7]. Starobinski lembra de um trecho de Moby Dick que traduz esta fórmula do inaudito: “o obstáculo fundamental de sua vida, o adversário gigante, o reflexo de uma vontade terminal que o assombra”[8]. Estas primeiras páginas do texto de Starobinski sobre a obra inaugural de Blanchot mostram, por meio não propriamente de articulações conceituais, mas de um certo tipo de imagens-experiência, que a literatura impele o leitor a um deslinde filosófico que não diz respeito à aquisição de um conhecimento, pelo contrário. ‘Mínimo de corpo necessário ao pensamento’, ‘matéria cega e hostil do mundo’, ‘exterioridade’, ‘desaparecimento’. Afinal de contas, o que significam estas expressões que Starobinski coleta em Maurice Blanchot?
Abordar o pensamento de Blanchot do ponto de vista do pensamento especulativo implica um risco. Em Blanchot não se trata de figurar conceitos por meio das imagens literárias para esclarecer algo já concebido ou concebível, tornando a literatura apenas um momento da representação do pensamento filosófico. Há algo de completamente outro que se passa na experiência da escrita que nos coloca num lugar intersticial entre filosofia e literatura. Lá onde escrever é desrealizar a existência e simultaneamente realizar a inexistência surge uma experiência de soterramento, de a-fundamento (effondement), de desaparecimento “vibratório” do ser[9]. Experimentamos um outro tempo que já não é mais tempo e uma outra morte que não é simples desaparecimento, mas aparecimento de um não-ser. É neste lugar hiante, onde a escrita se encontra com o desaparecimento do ser, que a literatura transduz[10] em matéria de expressão o vazio de uma certa experiência do neutro em seu limiar propriamente inexprimível e incognoscível, a transformação misteriosa própria ao não-ser. Ela faz levantar da tumba, segundo Blanchot (1949), o “único e verdadeiro Lázaro”[11], este irreal trazido à vida, presentificado pela escrita. O pensamento blanchotiano nos demanda, portanto, um transcurso por tal experiência febril da linguagem que o discurso da razão moderna não pôde tocar sem desnaturar.
No centro do primeiro paradoxo blanchotiano[12] está a tentativa de dar forma e continuidade para algo que se manifesta justamente pelo disforme e pelo descontínuo, aquilo que, por ser neutro, fala autenticamente pelo inverossímil e pela equivocidade de um não-saber, posto ser irreconhecível, logo incapturável pelo conhecimento racional. É por um certo ato de esvanecimento do ser que a linguagem se encontra com a abertura, com a falha, a fissura (béance) que acomete o sentido e o ato representativo. E a literatura, por mais imperceptível que tal movimento pareça ser, alcança um lugar em que se pode arriscar ou ensaiar uma forma, surpreendentemente, ao disforme, dar um ser de linguagem a um não-ser, algo do fora, um desconhecido. Trazer à vida, à existência, o fluxo da composição no acaso de uma linguagem diferida dentro da própria língua: voz menor, voz marginal da qual o escritor que se faz ouvinte torna-se o intérprete, o mediador[13].
No cap. 4 de Thomas, O Obscuro[14], vemos abrir-se tal campo de escuta e intensidade da sua escrita num ato de criação visceral. Comecemos por este momento em que Thomas se encontra no quarto do hotel. Thomas lia com os olhos semiabertos, mas era o livro quem o encarava, era o livro ‘quem’ o lia. E sendo lido pelo livro, era ele o ser devorado pelas palavras, aniquilado por elas. Thomas está imobilizado, absorto pela potência de abismo que lhe encara de volta com um olhar “excessivo e vivo”. As palavras se concretizam na narrativa e começam a se transformar em coisas.
[...] percebera toda a estranheza que havia em ser observado por uma palavra ou por um ser vivo, e não somente por uma palavra, mas por todas as palavras que se encontravam nessa palavra, por todos aqueles que o acompanhavam e que por sua vez continham neles mesmos outras palavras como uma sequência de anjos se abrindo ao infinito até o olho absoluto. De um texto tanto quanto proibitivo, longe de se afastar, ele pôs toda sua força em possuí-lo, recusando obstinadamente a retirar seu olhar, acreditando ser ainda um leitor profundo, quando as palavras já o dominavam e começavam a lê-lo. Ele fora tomado, petrificado por mãos inteligíveis, mordido por um dente pleno de seiva; ele entrara com seu corpo vivo nas formas anônimas das palavras, lhes doando a sua substância, formando suas relações, oferecendo à palavra ser o seu ser. Durante algumas horas, ele se mantivera imóvel com, ao invés dos olhos, cada vez mais a palavra olhos: ele estava inerte, fascinado e desvelado. E mesmo mais tarde, quando, abandonado e olhando seu livro, se reconhecera com desgosto sob a forma do texto que lia, ele guardara o pensamento em sua pessoa já privada de sentido, tanto que, elevada sobre as costas, a palavra Ele e a palavra Eu começariam sua carnificina, permaneceriam falas obscuras, almas desencarnadas e anjos de palavras, que profundamente o exploravam.[15]
Blanchot põe em cena a ideia de que a linguagem ganha matéria, ganha substância. Esta temática aparecerá desdobrada de maneira minuciosa em A literatura e o direito à morte, parte final do livro de 1949, A Parte do Fogo. Blanchot nos descreve dois momentos da estranheza da linguagem. O primeiro estranhamento é aquele que diz respeito à linguagem representativa, onde aquilo que a palavra designa desaparece como coisa para sua ausência se presentificar pela linguagem e pelas palavras que, por sua vez, já nascem mortas. Como se pudessem contaminar de morte tudo aquilo que são capazes de nomear. A fala cotidiana é portadora deste primeiro mistério, dessa hecatombe que presentifica a morte e a noite no seio do dia. Mas, para Blanchot, há uma segunda fala ainda mais insólita que nos leva a uma segunda noite, uma fala portadora de uma concretude obscura, portadora da materialidade de uma matéria outra como numa outra noite ou numa outra morte. Nesta outra fala, da palavra essencial, reside uma substância estranha, mesma substância do Lázaro morto há três dias que se levanta, não obstante, através da palavra. O que está sendo narrado no 4º capítulo de Thomas, l´Obscur é este novo regime de coisas, a nova matéria das palavras. Como se Thomas entregasse a elas, estas palavras que lhe encaram de volta como o abismo nietzschiano, sua própria substância como um ritual que exigisse a si próprio como sacrifício, o holocausto de seu ser. Thomas é vampirizado pelo livro, sua vida esmaecida, seu ser desaparecido, espectralizado, contaminado pela mordida do “dente pleno de seiva”.
Estava preso a qualquer coisa de inacessível, de estrangeiro, algo do qual poderia dizer: isto não existe, e que todavia o preenchia de terror e que sentia vagar no ar de sua solidão. Toda noite, todo o dia, tendo velado com esse ser, assim que procurava o repouso, bruscamente era advertido que um outro tinha substituído o primeiro, também inacessível, também obscuro e, entretanto, diferente. Era uma modulação naquilo que não existia, uma maneira diferente de estar ausente, um outro vazio no qual ele se animava.[16]
Blanchot cria aqui um setting para o “drama da linguagem”, termo empregado por Benedito Nunes ao abordar o pensamento de Clarice Lispector. As próprias palavras tornam-se sujeitos, personagens da narrativa, para entregar ao leitor o que há de mais radical no domínio da linguagem. Escrever, narrar, criar uma ficção. Tal drama, tão fascinante quanto horripilante, funda-se no processo de desidentificação do eu, que se transfigura numa 4ª pessoa do singular, um ele, um on. “Quando se reconheceu no texto que lia, sua pessoa privou-se de sentido”[17]. A operação de leitura tem aqui várias dimensões. Thomas, lê o livro que está em suas mãos, mas é o livro em sua exterioridade quem o lê de fato.
Algo deste espanto poderia não parecer de todo estranho. Também sentimos diante de uma leitura fascinante algum grau de introjeção em nós do exterior, e projetamos nosso eu para um outro fora de nós. Coincidimos nosso eu com o eu do personagem numa narrativa literária e compartilhamos a mesma fruição, o mesmo devir. Lemos Stendhal, Flaubert, Proust, Dostoiévski, mas, paralelamente, o que lemos é cada experiência de nossa vida ou de nosso desejo projetadas ao lado das palavras, no sentido que construímos ao ler o texto ao mesmo tempo em que encarnamos imaginariamente as desventuras dos personagens. Blanchot, contudo, parece apontar para um outro limite, não mais o da identificação literária, mas o do encontro com o monstruoso, com o desidêntico, aquilo ainda não conhecido. Thomas se torna ele próprio o livro que lê. Quando ele se lança ao corredor, hesita em desespero diante do que o persegue, se esconde atrás da porta, na poeira debaixo da cama, e, no entanto, ainda está catatonizado na cama olhando o livro em suas mãos, projetando no imaginário a cena horripilante:
Sentia-se sempre mais próximo de uma ausência cada vez mais monstruosa à qual o encontro pedia o infinito do tempo. Ele a sentia a cada instante mais próxima dele e avançava de uma parte íntima, mas irredutível, da duração. Ele a via, ser aterrorizador, que no espaço já se comprimia contra ele e, existindo fora do tempo, restava infimamente distanciado. Espera e angústia tão insuportáveis que elas se descolavam de si próprio. Uma espécie de Thomas saia de seu corpo, e ia a frente da ameaça que se escamoteava. Seus olhos tentaram olhar não na extensão, mas na duração e num ponto do tempo que não existia ainda. Suas mãos procuravam tocar num corpo impalpável e irreal. Era um esforço tão penoso que essa coisa que se distanciava dele e, se distanciando, tentava o atrair, lhe pareceu a mesma que aquela que indizivelmente se aproximava [...].[18]
Nesta cena as coisas inorgânicas ganham vida, mas logo fenecem no transcorrer da duração[19]. Como se ressuscitassem do mundo dos mortos e nem por isso estivessem novamente vivas. Permanecem em um estado de incerteza, em uma zona de indeterminação: “o livro apodrecia”[20]. Thomas se encontra num espaço do qual é figura passiva. É arrastado por ele como tal como a onda que o invadira no início. Thomas se desencarna como herói para se tornar assim “uma modulação sobre o que não existe”, “uma maneira diferente de estar ausente”[21]. E segue a narrativa deste Thomas espectral, prestes a desaparecer por inteiro:
Ele caíra no chão. Tinha o sentimento de estar coberto de impurezas. Cada parte de seu corpo sofria de uma agonia. Sua cabeça era obrigada a tocar o mal, seus pulmões a respirá-lo. Ele estava lá, sobre o assoalho, se contorcendo, em seguida entrando nele mesmo e depois saindo, rastejava pesadamente, pouco diferente da serpente que ele mesmo quis tornar-se para acreditar no veneno que tinha em sua boca. Metera sua cabeça sob o leito em um canto cheio de poeira e se deitou sobre os dejetos como num lugar refrescante onde ele se via mais limpo que nele mesmo. Era nesse estado que se sentia aficionado ou estupefato. Ele não podia saber pelo que lhe parecera ser uma palavra, mas que se assemelhava antes a um rato gigantesco, com olhos perfuradores, com dentes puros, e que era uma besta todo-poderosa. Vendo-a há alguns palmos de seu rosto, ele não pode escapar ao desejo de a devorar, de levar a intimidade mais profunda consigo. Ele se lançara sobre ela, lhe fincando suas unhas nas entranhas, procurando fazê-la sua.[22]
A palavra tornou-se coisa, mas não coisa qualquer. Tornou-se matéria viva, carne de rato, seiva maligna, algo grotesco que apavora e repugna. Algo de impalpável e bruto do verbo cujo toque é, paradoxalmente, a causa de todo mal-estar. Disso que não se pode respirar sem sentir um envenenamento, uma asfixia. E Thomas não consegue escapar do desejo de devorar este rato gigantesco que é a palavra, consubstanciar-se à hecatombe, ao desastre. Dilacerou sua carne com as unhas, expôs suas entranhas, arrancou os olhos da besta. Mas ao devorar a palavra-rato era então o outro quem o devorava, “levando-o ao fundo de seu ser”[23]. Começa o regime do outro, a segunda noite, a outra morte. A noite mudou de forma, tornou-se noite da noite. Este é o quinto capítulo: Thomas torna-se algo como um felino que vê e ouve as vozes dos espíritos.
[...] agora sou um ser sem visão. Eu escuto uma voz monstruosa pela qual digo o que digo sem que eu saiba uma só palavra. Eu penso e meus pensamentos me são tão inúteis como o seriam as vibrações de pelos e os toques nas orelhas das espécies estranhas das quais eu dependo. Só o horror me penetra. Eu me viro e reviro fazendo entender o lamento de uma besta abominável. Eu me sinto, praga terrível, um rosto tão grande quanto aquele de um espírito, com uma língua lisa e opaca, língua de cego, um nariz disforme, incapaz de pressentimento, com enormes olhos, sem esta chama escrupulosa que nos permite ver as coisas em nós. [...] Eu sou a noite da noite.
[...] Eu digo eu, guiado por um instinto cego, porque desde que perdi meu rabo, que me servia de direção no mundo, eu não sou, manifestamente, mais eu mesmo. Esta cabeça que aumenta sem parar e, em lugar de uma cabeça, parece ser apenas um olhar, o que é exatamente afinal? Eu não a vejo sem incômodo. Ela mexe, ela se reaproxima. Ela está justamente voltada para mim e, todo olhar que ela é, me dá a impressão terrível de não me perceber. Esta sensação é insuportável. [...] Mas, em meu estado, não tenho meios de provar que eu sinto. Eu estou morto, morto.[24]
Esta outra morte pela qual passa Thomas revela o movimento diferencial que se realiza pela escrita. Movimento que suspende o tempo e a ordem das coisas. Suspende a causalidade e a lógica dos sentidos da vida. Thomas adentra o universo da escrita. E tendo feito corpo com a palavra numa alquimia, num feitiço de transubstanciação[25].
[...] Ele se pôs então a falar, e sua voz parecia sair do fundo do meu coração. Eu penso, disse ele, eu reunia tudo o que era luz sem calor, raios sem brilho, produtos não refinados, eu os embaralho e conjugo e, numa primeira ausência de mim mesmo, eu me descubro no seio da mais viva intensidade como uma unidade perfeita. Eu penso, diz ele, eu sou sujeito e objeto de uma irradiação todo-poderosa; sol que emprega toda sua energia tanto a se fazer noite quanto a se fazer dia. Eu penso: aí onde o pensamento se junta a mim, eu, eu posso me subtrair de ser, sem diminuição nem transformação, por uma metamorfose que me conserva a mim mesmo fora de todo abrigo onde me refugiar. É a propriedade meu pensamento, não de me assegurar de minha existência, como todas as coisas, como a pedra, mas de me assegurar de ser no próprio nada e de me incitar a não ser para me fazer então sentir minha admirável ausência. Eu penso, diz Thomas, e este Thomas invisível, inexprimível, inexistente que eu me torno, faz que de agora em diante eu não esteja nunca aí onde eu estava, e que não haja aí nada de misterioso. Minha existência torna-se inteira aquela de um ausente que, a cada ato que eu cumprisse, se produzia o mesmo ato aí não se cumprindo.[26]
Sabemos que a exigência fragmentária imanta a obra de Blanchot e que assumirá, após L´Attente, L´Oubli (1962), a forma fragmentária. Porém, não é necessário haver forma fragmentária para que haja aí a exigência e escrita fragmentária. Os romances e as narrativas de Blanchot anunciam de antemão, ao menos desde Thomas, a fragmentação do sentido e da experiência antes do surgimento da forma fragmentária propriamente dita. Tal exigência é a presença da latência na obra, do murmúrio, do silêncio que é princípio de desaparecimento e que irrompe no coração da escrita para inventar uma outra língua, uma outra linguagem dentro das relações linguísticas das quais somos sujeitos. Cumprir a exigência fragmentária é fazer falar a fragmentação universal do neutro no subsolo do mundo-texto. É, por fim, abandonar o eu para fazer falar um desconhecido ele do fora.
Compreender Blanchot e a possibilidade de escrever sobre e sob a diferença, entre a materialidade expressa da linguagem e a matéria inexpressa do real, passa, portanto, pela experimentação dos fluxos e devires da escrita, pela adesão ao movimento neutro e fragmentário, ao “élan de descontinuidade”[27], por meio do qual obtém um certo conhecimento intuitivo desta experiência. Tal escrita faz vazar a ‘‘matéria neutra’’, nem subjetiva nem objetiva, nem positiva nem negativa, nem viva nem morta, nem masculina nem feminina. Neutro aqui é aquilo que fala por debaixo de toda palavra e erode a linguagem representativa do eu sou/eu existo. Não se trata simplesmente da afirmação dos fluxos e devires que transformam a existência, mas do lugar fora do espaço e do tempo sem o qual o próprio devir não aconteceria, o vazio primordial e intempestivo[28].
Na virada dos anos 50 para os anos 60, mais precisamente a partir de L´Attente, L´Oubli, o estilo de Blanchot encontrou, talvez, mais do que uma forma, uma força de fragmentação, consequência da exigência em sua obra daquilo que Foucault reiteradamente nomeia de “murmúrio incessante da linguagem”[29]. Como leitor da conjunção dos pensamentos de Nietzsche e Mallarmé, Blanchot não cessa de encarar tal murmúrio, não cessa de escavar e perseguir um fundo de indeterminação do vazio produtor, que é fonte de uma criação impessoal e obscura da linguagem. Blanchot caracteriza este fundo neutro na escrita (este irrepresentável pleno de nomes impróprios, pois nunca suficientes, como desastre, silêncio, deserto, murmúrio, mar aberto...) semelhantemente ao real lacaniano; é muito distinto da realidade representada ou do vivido fenomenológico construído abstratamente pela subjetividade como continuidade ou conjunto semiótico por meio da qual atribuímos sentido às coisas ao nosso redor. Eis a diferença destes dois níveis de experiência: de um lado, a argamassa do sentido na superfície das coisas que as liga num fio tênue que chamamos de existência; e de outro, a fratura exposta por onde extravasa a profundidade neutra e impessoal do real, que não subsiste senão na descontinuidade, na fratura do sentido, na parcialidade dos objetos intensos ao mesmo tempo exteriores e interiores aos nossos corpos através dos desligamentos, disjunções, esfacelamentos fragmentários, no desastre, no horror, no espanto, enfim, nas mil faces da morte. Não da morte própria que cessa e se opõe à vida, mas sim a morte diferencial, impessoal, uma morte que acompanha a vida como sombra e é infinitamente mais terrível que a morte pessoal, porque vazia, fazendo da vida também uma experiência obscura. Morte que é princípio de esvaziamento, de desaparição, de deslocamento, de esquecimento.
Como vazio para o qual a escrita olha e não pode parar de olhar, porque preenchido pelo dessemelhante, de cuja voz oracular e enigmática exige uma sustentação da descontinuidade no próprio tecido contínuo da realidade. Fender, rachar, fissurar. Abrir uma fresta na tessitura das palavras para vislumbrar, como em ‘‘vertiginoso relance’’[30] o real, o neutro, a fragmentação universal. Eis a questão que se coloca para quem escreve: como o romance pode fazer emergir das imagens comuns do vivido a apreciação desta outra dimensão, da inexistência viva e perambulante, de vivacidade colorida e cadavérica tal qual a flor ausente de Mallarmé?
Ensaiamos uma resposta: é como campo de experimentação, como laboratório de produção de pensamentos e imagens que imantam nossas retinas metafísicas com o vislumbre deste outro, desta alteridade presente, deste único e verdadeiro Lázaro monstruoso ressuscitado que, enfim, é a literatura ela mesma. Para Blanchot o mais espantoso não era que houvesse a obscuridade terrível e potente do real, mas que fosse possível retornar da meia-noite do delírio cosmo-caótico com o olhar estupefato da luz do meio-dia. Que a desrazão da noite não fosse simplesmente irrompida pelo clarão da aurora da razão, mas, pelo contrário, que houvesse na mais profunda noite, no âmago da escuridão, uma insônia. Que olhos sem pálpebras pudessem olhar para ela sem parar de vê-la, encontrando aí a voz que escuta como leitor do neutro.
Por trás de quem escuta a revelação do Eterno Retorno, e escutando de forma mais primária, está a consciência dividida pela Loucura. Mas esta divisão tem um caráter de desmistificação interna: liberta a verdade dos impulsos, única realidade. E o saber-se uma reunião de impulsos liberta a consciência para a sua anulação: a inconsciência. Os impulsos destroem a identidade e o caminho está livre: o pensamento (vida) enquanto ocasião para o advento do pathos que (se) expressa. Mas não é propriamente o pathos que se (se) expressa: “la pensée des pensées” se expressa no pathos.[31]
A primeira tarefa do escritor, lei inamovível da escrita, seria, portanto, nunca interferir em sua própria voz narrativa[32]. Um pacto ambíguo onde o escritor, ao encontrar este espaço neutro, intersticial, de hiância e de errância, mas sobretudo de limiar de indeterminação e não-sentido, que, ao ouvir a voz que dele emerge, cede passagem à superfície da linguagem tornando-se a si próprio um leitor da universalidade vazia, neutra e fragmentaria do real. Encontra-se aí a razão da máxima blanchotiana sobre o surrealismo: a escrita automática, no fim das contas, nada mais é do que a própria escrita ela mesma[33].
Isto posto, como pensar a relação da narrativa com a intempestividade que ela evoca e produz? Alguns escritos bergsonianos, por exemplo, associam a fruição do artista nas experiências literárias à coincidência do eu com a duração universal e ao método intuitivo. Mas como saber se, na literatura, estamos no reino vivo da memória ou no abismo real do esquecimento do qual os fala Blanchot? Bergson compreende uma experiência original do tempo na continuidade perpétua das imagens em fluxo na consciência que é a duração[34]. Porém, exclui deste élan a possibilidade de uma experiência autêntica da linguagem no âmago do tempo puro, pois as palavras estariam, segundo ele, separadas da duração por um defeito original: são representações simbólicas que “especializam” o tempo profundo, logo experiências superficiais, inautênticas e reificadoras e não podem acessar a natureza mesma da duração, que é a transformação indissolvível do devir.
A despeito de um profundo sentimento de legitimidade da arte e da literatura na intuição do movimento real, a estética bergsoniana só encontra um estatuto ontológico ao recusar no caráter simbólico da linguagem e na função representativa do discurso seu acesso à duração. Ou seja, não haveria em Bergson a possibilidade de uma experiência original e imediata da linguagem e da literatura, pois estas apenas teriam a oferecer algo depreciado em relação ao movimento criador ele mesmo (eis porque, para Blanchot, Bergson se afasta de uma filiação à vague simbolista[35]). O acesso possível da literatura à duração seria o de intuir a experiência do devir na consciência por meio de uma sugestão metafórica ou alegórica, numa violentação da rigidez de seus sentidos. As palavras elas mesmas não entram em relação direta com a duração. Logo, tal simultaneidade seria tão somente privilégio do sujeito que vislumbra a duração pelo seu mergulho psicológico no eu profundo. Todavia, Bergson parece já intuir, ainda que hesitante, um segundo nível da experiência da linguagem na “essência intemporal do tempo”, “eternidade de morte já esvaziada da mobilidade que era sua vida”.
Essa unidade [da linguagem], à medida que eu lhe aprofundar a essência, aparecer-me-á portanto como um substrato imóvel do movente, como não sei que essência intemporal do tempo: é o que eu chamarei de eternidade – eternidade de morte, uma vez que não é nada além do movimento já esvaziado da mobilidade que era sua vida.[36]
Dois anos após a aparição de O Possível e o Real e O Pensamento e o Movente apareceram as primeiras críticas de Gastón Bachelard em A Intuição do Instante (1932) e A Dialética da Duração (1936). A crítica à Bergson aparece quando Bachelard interroga a constituição da experiência da duração e sua continuidade[37]. Por meio de uma análise fenomenológica, ele encontra em Bergson a admissão de uma maior dificuldade para explicar a constituição contínua da duração do que, por exemplo, a explicação do nada. De modo que as lacunas, o descontínuo e o vazio são mais fáceis de se demonstrar nos interstícios experimentados pelo vivido do que a própria duração. A descontinuidade, que para Bergson não passaria de um psicologismo, atravessa a todo momento a experiência do tempo que Bachelard consideraria também autêntica. Seria preciso elaborar positivamente um nada, que se acrescenta ao ser, uma aniquilação positiva que funcionaria como “compensação ontológica” para a descontinuidade negativa e para a fragmentação da experiência. Diz Bachelard:
[...] a ideia do nada é afinal, mais rica que a ideia do ser, pela simples razão de que a ideia do nada só interviria e se esclareceria ao acrescentar uma função suplementar de aniquilação às diversas funções pelas quais expomos e descrevemos o ser [...] Desse modo, nenhuma substância poderia, face ao conhecimento que temos dela, ter um vazio, nenhuma melodia poderia ser cortada por um silêncio absoluto.[38]
Há aqui um dilema quanto à experiência ontológica: ela é duração metafísica contínua do devir no engendramento sucessivo das formas pelo movimento de atualização da memória no presente ou é fragmentação intempestiva da elisão das imagens de realidade que se chocam com o irreal e abrem espaços intersticiais, hiâncias, rachaduras, que produzem as experiências de vazio e de falta? Ou seria ainda um misto de duas dimensões?
Neste mesmo campo da crítica ao continuísmo bergsonista, Blanchot tomou uma posição que procurou mostrar onde os sentidos da escrita se conjugam à experiência do tempo em sua diferença interna. O seu pensamento do tempo cria um certo espectro negativo do bergsonismo, de certa maneira revertendo-o e incorporando-o criticamente, aprofundando linhas de força que Bergson vislumbrou mas não desenvolveu. Ao invés de uma experiência da interioridade, uma exterioridade. Ao contrário da duração e do tempo, o instante e o espaço. Ao invés de um élan vital, a presença sombria de uma morte criadora, de um tempo fora do tempo, uma vitalidade obscura, fora da vida e da morte. Espaço do desconhecido e do neutro que é, por conseguinte, aberto pela linguagem literária.
Mas que tempo é esse, que duração é essa que se constitui paradoxalmente no espaço da linguagem? Blanchot o dirá: tempo morto, mortificado, mas de uma morte sem morte. Tempo diferido pela escrita. Tempo fora do tempo. Intempestividade que se oferece à criação. O tempo para, retorna, faz o relógio derreter, diluir, se fragmentar. Desenha novos tempos, novos contornos, novos traçados, encontra os meios por onde “o tempo se torna tempo”. Na literatura podemos, portanto, “experimentar o tempo como espaço”[39]. Não impropriamente, mas de modo a dar ao tempo uma experiência de simultaneidade com a morte. A duração que, suspendida, paralisada pelo instante irrepresentável pelo abismo, proliferará toda uma série de fantasmagorias. A morte como este acontecimento superveniente ao tempo, que inaugura um corte intempestivo na duração e faz saltar à superfície o mundo dos simulacros, a potência própria de um gênio maligno. “Lá onde o pensamento se junta a mim, eu, posso me subtrair ao ser, sem diminuição, nem mudança, por uma metamorfose que me conserva a mim mesmo fora de toda reparação onde me insiro”[40].
Para concluir a explicitação do vitalismo sui generis que buscamos evidenciar em Maurice Blanchot e sua relação com o ato de escrever, gostaríamos de trazer um movimento análogo em Clarice Lispector. Frequentemente, as leituras de Thomas, l´Obscur, são associadas às de A Paixão segundo GH (1964), sobretudo quanto às imagens epifânicas e despersonalizantes de matiz nietzschiana. Contudo, ao tratarmos do ato de criação na escrita literária, há uma passagem de A Maçã no Escuro (1959) onde Martim, minimamente reorganizado como homem, como testemunha do desmoronamento em curso de si mesmo, acaba por se deter diante da tarefa malograda da escrita. Mesmo no ato mais banal de escrever uma lista de tarefas, Martim continua “descortinando”, oferecendo seu mínimo de corpo para “Aquilo” que lhe ultrapassa:
Ele mais parecia estar esperando que alguma coisa lhe fosse dada do que do que dele próprio fosse sair alguma coisa, e então penosamente esperava [...] Em torno dele soprava o vazio em que um homem se encontra quando vai criar. Desolado, ele provocara a grande solidão. [...] era o ato mais desamparado que ele jamais fizera. E de tal modo ele não podia, que o não poder tomara a grandeza de uma Proibição. E só de pensar em quebrar a Proibição, ele recuava, de novo, opondo a imaterial resistência de um duro instinto, de novo cauteloso como se houvesse uma palavra que se um homem dissesse... Essa palavra ausente que no entanto o sustentava. Que no entanto era ele. Que no entanto era aquela coisa que só morria porque o homem morria. Que no entanto era a sua própria energia e o modo como ele respirava. Essa palavra que era a ação e a intenção de um homem. E que não somente ele não sabia sequer balbuciar, como parecia profundamente não querer...[41]
Eis o surgimento das letras no espaço da criação, também em Clarice Lispector, apontando para um ser dado num espaço que ultrapassa o mero psicologismo. Fruir a si mesmo por meio das palavras, neste lugar de ambiguidades e paradoxos entre a experiência imediata do ser e sua incomunicabilidade direta, sua “Proibição”, cuja falta e impotência se traduzem em condição de possibilidade da criação. Eis o modo como Blanchot e Clarice parecem estar a um só passo muito próximos e muito distantes do bergsonismo.
Mas que se sabe do que se passa numa pessoa?... Mas como chamar de sofrimento o fato dele estar passando pela verdade da Proibição como pelo Buraco de uma agulha. Como poderia ele sequer revoltar-se com a verdade. Ele era a sua própria impossibilidade. Ele era ele. A esse ponto de grande angústia tranquila ele chegou: aquele homem era sua própria Proibição.
Sofrimento? Pensou com o rosto irreparavelmente ofendido a encarar o papel branco. Mas como não amar mesmo a Proibição? se ela o empurrara até onde ele podia ir? se o empurrara até aquela resistência última onde… Onde a única solução irrazoável era o grande amor [...] Um homem afinal se media pela sua carência. E tocar na grande falta era talvez a aspiração de uma pessoa. Tocar na falta seria a arte? Aquele homem gozava sua impotência assim como um homem se reconhece. Estava espantadamente fruindo o que ele era. Pois pela primeira vez na vida sabia quanto era. O que doía como a raiz de um dente[42].
Referências Bibliográficas
BACHELARD, G. A Intuição do Instante. Trad. Antônio Danesi. Campinas: Verus, 2010.
BACHELARD, G. A Dialética da Duração. Trad. Marcelo Coelho. São Paulo: Ática, 1994.
BERGSON, H. O Pensamento e o Movente. Trad. Bento Prado Neto. São Paulo: Martins Fontes, 2006.
BLANHCOT, M. Thomas, L´Obscur. Paris: Gallimard, 1950. Tradução de Rogério Confortin. In: Teatralidade e Gestualidade em Clarice Lispector e Maurice Blanchot. Florianópolis: UFSC, 2009, p. 460.
BLANHCOT, M. A Parte do Fogo. Trad. Ana Maria Scherer. Rio de Janeiro: Rocco, 2011.
BLANHCOT, M. O Livro Por Vir. Trad. Leyla Perrone-Moisés. São Paulo: Martins Fontes, 2005.
BLANHCOT, M. L´Attente, L´Oubli. Paris: Gallimard, 1962.
CONFORTIN, R. S. Teatralidade e Gestualidade em Clarice Lispector e Maurice Blanchot. Tese de Doutorado. Florianópolis: UFSC, 2009.
COOLS, A. L´instant de la mort dans Thomas L´Obscur. Le temps du renversement et la question de l´origine. In: L´Éprouve du temps chez Maurice Blanchot. Paris: Editions Complicités, 2006.
COOLS, A. Reflexions sur l´exigence fragmentaire. In: Cahier de l´Herne; Maurice Blanchot. Paris: Editions de L´Herne, 2014.
FERRAZ, A. H. S. Para uma Estética do Desaparecimento em Maurice Blanchot. Tese de doutorado. Guarulhos: Unifesp, 2018.
FERRAZ, A. H. S. De um bergsonismo sem duração, sem memória, sem élan. In: Dissertatio. Nº 58. Pelotas: Ufpel, 2024, p. 198-217.
FOUCAULT, M. La Pensée du dehors. In: Critique; Maurice Blanchot. Vol. XXII. Núm. 229. Paris: Editions de Minuit, 1966.
HOPPENOT, E. Blanchot et l´écriture fragmentaire: “Le temps de l´absence de temps”. In: L´Éprouve du temps chez Maurice Blanchot. Paris: Editions Complicités, 2006.
LACOUE-LABARTHE, P. La contestation de la mort. In: Cahier de l´Herne; Maurice Blanchot. Paris: Editions de L´Herne, 2014.
LISPECTOR, Clarice. A Maçã no Escuro. Rio de Janeiro: Rocco, 2020.
MILON, A. La fabrication de l´écriture à l´éprouve du temps. In: L´Éprouve du temps chez Maurice Blanchot. Paris: Editions Complicités, 2006.
STAROBINSKI, J. Thomas L´Obscur. In: Critique; Maurice Blanchot. Vol. XXII. Núm. 229. Paris: Editions de Minuit, 1966.
Adriano Henrique de Souza Ferraz
Mestre e Doutor em Filosofia pela UNIFESP. Entre agosto e dezembro de 2017 realizou estágio PDSE\CAPES na Université de Paris\Sorbonne-IV sob a orientação de Eric Hoppenot. Em dezembro de 2018 defendeu a tese: “Para uma estética do desaparecimento em Maurice Blanchot: a diferença interna da morte, a forma vazia do tempo e como Gilles Deleuze empregou estes conceitos”. Após o doutoramento, dedicou-se à docência na rede estadual de ensino público de São Paulo e foi tutor no curso de especialização lato sensu de “Ensino de Filosofia no Ensino Médio” da Universidade Aberta do Brasil - UAB\UNIFESP. Ingressou em janeiro de 2024 no programa de Pós Doutorado da UFSCar com pesquisa acerca da relação entre Clarice Lispector e Maurice Blanchot. É membro do Grupo de Pesquisa sobre a Filosofia da Diferença (GPFD\UNIFESP), do Núcleo de Filosofias da Criação (NFC\UFRJ) e do Grupo de Pesquisa Constituição e Crítica da Subjetividade na História da Filosofia (UFSCar).
Os textos deste artigo foram revisados por terceiros e submetidos para validação do(s) autor(es) antes da publicação