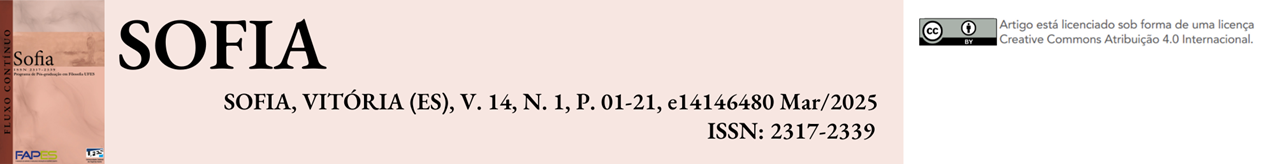
O DEBATE TAYLOR-KUHN SOBRE A DISTINÇÃO ENTRE AS CIÊNCIAS NATURAIS E SOCIAIS
The Taylor-Kuhn debate on the distinction between natural and social sciences
Bismarck Bório de Medeiros
UFSM – Universidade Federal de Santa Maria
Recebido: 21/10/2024
Received: 21/10/2024
Aprovado:06/03/2025
Approved: 06/03/2025
Publicado: 08/03/2025
Published: 08/03/2025
Resumo
Este artigo tem por objetivo esclarecer os pontos relevantes no debate contemporâneo da distinção entre as ciências naturais e ciências humanas realizado por Charles Taylor e Thomas S. Kuhn. Inicialmente, procuramos elucidar relações entre a Antropologia Filosófica e o esforço de definição das denominadas Ciências da Natureza e Ciências do Espírito desenvolvidas na obra de Wilhelm Dilthey, base para Taylor em seu artigo Interpretation and the Sciences of Man. Assim, Kuhn discutirá o capítulo de Taylor em As ciências naturais e as ciências humanas que envolvem críticas sobre a natureza e objetivo das ciências incluindo a participação do sujeito, da comunidade científica e da hermenêutica estabelecida dentro do paradigma de tal área na constituição de sua interpretação. São feitos esclarecimentos de caráter filosófico e genealógico destas obras, bem como a análise sobre pontos convergentes e divergentes na distinção entre os tipos de ciências. Ao final, comentários críticos por parte de Hugh Lacey dos tópicos abordados no debate são implementados, em conjunto com interpretações de escritos tardios do próprio Kuhn, ampliando a discussão a partir de sua própria filosofia e dos valores epistêmicos presentes no empreendimento científico atual.
Palavras-chave: Charles Taylor. Ciência Normal. Hermenêutica. Thomas S. Kuhn. Valores Epistêmicos.
Abstract
This paper aims to clarify the points considered relevant in the contemporary debate on the distinction between natural and human sciences carried out by Charles Taylor and Thomas S. Kuhn. Initially, we seek to elucidate relationships between Philosophical Anthropology and the effort to define the so-called Sciences of Nature and Sciences of the Spirit developed in the work of Wilhelm Dilthey – basis for Taylor in his paper Interpretation and the Sciences of Man. Thus, Kuhn will discuss Taylor's chapter in The natural sciences and the human sciences, which involves criticism of the nature and objective of the sciences including the participation of the subject, the scientific community and the hermeneutics established within the paradigm of such an area in the constitution of its interpretation. Philosophical and genealogical clarifications of their work are made, as well as analysis of convergent and divergent points in the distinction between types of science. In the end, critical comments by Hugh Lacey on the topics covered in the debate are implemented together with interpretations of Kuhn's late writings, expanding the discussion based on his own philosophy and the epistemic values present in the current scientific endeavor.
Keywords: Charles Taylor. Epistemic Values. Hermeneutics. Normal Science. Thomas S. Kuhn.
As ciências da natureza e as ciências do espírito
O ser humano é a única espécie conhecida que tem a capacidade de imaginar e produzir sistemas e estruturas de elaboração e descrição sobre os fenômenos que os rodeiam. Tais desenvolvimentos possibilitam a criação de instrumentos e experimentos, sejam eles teóricos ou práticos, que nos trazem maiores explicações e entendimento de como o mundo em suas partes físicas constituintes funciona. Este mundo, com suas leis subjacentes e conjunto de objetos que existem independentemente de qualquer artifício que os mensure e identifique, compõem o que chamamos de mundo natural, e os empreendimentos humanos que o investigam são denominados de ciências naturais ou ciências da natureza (Naturwissenschaften).
Porém, devido as suas próprias características de elaboração, reflexão e atribuição simbólica, a sociedade, tendo como base suas ações e comportamentos para com uns aos outros, desenvolvem regras, ritos, concepções e instrumentos dentro de suas práticas sociais. Além de nos propiciar e possibilitar a convivência em sociedade, estes fenômenos se modificam e se alteram em seu cerne ao longo do tempo, dependendo das interações e novos fenômenos de caráter social são agregados ao corpo de experiências da comunidade, seja isto realizado de maneira intencional ou não. Esta dinâmica – por integrar e se constituir dependentes das próprias capacidades criativas do ser humano – aparenta ter natureza ou status ontológico distinto das ciências naturais, prima facie independentes das práticas sociais e determinações conceituais. Esta vertente é denominada na tradição filosófica de ciências sociais/humanas ou Ciências do Espírito (Geisteswissenschaften).
As ciências, sejam naturais ou sociais, tratam-se de empreendimentos que nos levam a certos questionamentos mais fundamentais acerca da compreensão de sua própria natureza e seus processos. E como toda atividade humana, além de explicações próprias de sua área de investigação, há uma carência de elaborações de âmbito filosófico que proporcionem o entendimento deste tipo de atividade. Sendo assim, em qual área de investigação filosófica tal atividade se encontra? Dentro dos panoramas correntes, temos a vertente da Antropologia Filosófica, preocupada com a concepção e a investigação do que seria o ser humano (antrophos). As tentativas de significação e explicação do humano integram diferentes aspectos de análise filosófica, de cunho ontológico (a constituição e modos de ser do humano), epistêmico, metodológico (os modos de investigação e conhecimento do humano, suas propriedades, relações) e histórico (as visões do humano em variadas épocas).
Mesmo estes aspectos inter-relacionados e dificilmente dissociados – sendo tais relações dependentes até da própria abordagem filosófica acerca do tema – há a possibilidade de um destaque específico e próprio à análise. É o que buscam fazer investigações que apontam o estatuto epistêmico antropológico. De acordo com o filósofo Henrique C. de Lima Vaz em (Lima Vaz, 1991, pp. 9-10) busca-se entender como se dá tal distinção dentro das abordagens naturalista – mais redutiva do ser humano ao mundo natural e seus métodos científico-metodológicos – e culturalista – que reivindica uma distinção mais fundamental entre a cultura e a natureza nos estudos humanos. É nesta última conjuntura antropológica que surge o debate acerca da distinção entre tipos de ciências e sua fundamentação, temos o filósofo alemão Wilhelm Dilthey como precursor de distinção de caráter hermenêutico.
Dilthey, em seu livro Introdução as Ciências do Espírito (Dilthey, 1986) procura afirmar porque as Ciências do Espírito são um campo investigativo independente das Ciências da Natureza. Por serem de natureza histórico-social, elas não têm por objetivos o explanans (Erklären) e o domínio da realidade subjacente, mas sim de compreensão (Verstehen) da mesma, evocando sua independência:
(...) na profundidade e totalidade da autoconsciência humana. Intactas ainda pelas investigações sobre a origem do espiritual, encontra o homem nesta autoconsciência uma soberania da vontade, responsabilidade por seus atos, uma faculdade de submeter tudo ao pensamento e resistir a todo tipo de encarceramento a liberdade de sua pessoa, que o distingue de toda a natureza. Encontra-se nesta natureza, efetivamente, usando uma expressão espinozana, como imperium in imperio (Dilthey, 1986, p. 41, tradução nossa).
Realizando uma retomada ontológico-histórica para entender os conceitos filosóficos envolvidos na distinção da vida natural para a vida espiritual, Dilthey chega a oposição entre os fenômenos do mundo exterior experienciados pelas sensações, e a apreensão de suas próprias atividades psíquicas, que se dá pela reflexão – esta última encontrando limitações para ser tratada empiricamente – tendo sua constituição autônoma na dinâmica entre os componentes material e espiritual nesta “esfera interior”. Assim, mesmo se constatando uma incompatibilidade residindo na dicotomia que envolve regularidade, quantidade e divisibilidade da matéria nos fenômenos físicos e a espontaneidade da vontade e unidade da consciência nos fenômenos mentais, ela tem como consequência kantiana não conseguirmos suprimir os limites da experiência, bem como não podermos descartar a vida espiritual com base na mesma.
Porém, como Dilthey defende uma independência das ciências do espírito, o filósofo destaca uma mútua dependência dos fatos do espírito (que visam fins, valores e bens) e da natureza (estruturas e leis físicas subjacentes) que por se enlaçarem e se integrarem em conjunto com o pano de fundo da realidade histórico-social existente faz com que dentro das ciências do espírito se consiga elaborar uma articulação compreensiva por meio do que ele chama de espírito sintético do investigador (Dilthey, 1986, p. 67), constituindo assim o trabalho da ciência que trata de compreender as regularidades abstratas de uma realidade histórico-social particular. Embasado por estas ciências particulares baseadas na compreensão de vivências externas e internas em um contexto histórico-social estabelecidos individualmente, somado ao componente dos sujeitos compartilharem experiências e realizarem ações tendo certas motivações, sentimentos e desejos em interação com outros sujeitos que leva a uma extensão destas regularidades abstratas, pode-se investigar as estruturas representativas dos elementos que constituem a consciência destes indivíduos localizados histórico culturalmente: estas estruturas são o objeto de investigação da antropologia e da psicologia, determinando sua regularidade e constantemente em movimento, por meio das ações e atividades impulsionadas pelas vontades e valores do meio social serem tanto constituídas quanto constituintes das investigações histórico-sociais. É assentado nesta análise tradicional fornecida por Dilthey que Charles Taylor procura investigar o estatuto das ciências humanas.
Taylor e o círculo hermenêutico
Ao tratar do debate sobre a natureza das ciências humanas e sua distinção das ciências naturais entre Charles Taylor e Thomas Kuhn, teremos como base inicial o artigo que deu início a discussão, intitulado Interpretation and the Sciences of Man[1]. Taylor busca neste artigo explicitar a relevância e primazia da interpretação dentro do contexto das ciências humanas para explicação dos fenômenos que o pesquisador se propõe analisar. Para Taylor, a interpretação procura trazer clareza e coerência a um objeto de estudo que se encontra subjacente. Portanto, temos que primeiro estabelecer um campo de objetos, distinguir os significantes e expressões deste campo de objetos de seus significados – admitindo que este último pode ser denotado por várias expressões[2], e que tal dinâmica se dá por ou voltado a uma área de investigação ou tópico (subject).
Taylor destaca implicitamente nesta parte do texto que há distinções entre expressões utilizadas nas ciências naturais – como amostras de rocha e cristais de neve – e as contidas nas ciências humanas interpretativas, pois conseguimos falar sobre as primeiras sem perder o sentido e a coerência mesmo se não levarmos em conta a área de investigação, enquanto que nas últimas não podemos fazer isso, pois precisamos elucidar o significado das expressões dos textos investigados, necessitando assim de uma abordagem contextual para deixá-lo coerente. Portanto, o objeto de uma ciência interpretativa deve ter sentido – distinguindo-o das expressões utilizadas – por ou voltado a um tópico.
Assim, Taylor introduz um novo problema a ser esclarecido, envolvendo aspectos epistemológicos e ontológicos concernentes à investigação: qual seria o critério judicativo em uma ciência interpretativa? Ele admite que mesmo com a necessidade de um contexto para a separação entre o sentido e a expressão que o denota, isso por vezes pode não ser o suficiente, devido a possibilidade de não conseguirmos capturar as nuances do contexto por completo. Porém, expressando o significado do texto de um outro modo lhe esclarecendo e fazendo com que outros entendam o que antes era desconjuntado, opaco e contraditório, não implica que que sentido para todos. Alguns podem desconsiderar este outro modo de expressar o sentido do que está sendo abordado, incidindo em releituras e outras interpretações à que fora feita, em um processo denominado de círculo hermenêutico.
De acordo com o filósofo canadense, o processo também pode ser trabalhado como relações parte-todo: procura-se dar sentido ao todo e atém-se nas leituras e interpretações de partes do assunto a ser analisado, sendo que só compreendemos o significado analisando as relações das expressões no todo, e assim sucessivamente. Além da posição de ter que prezar pelo convencimento do interlocutor e compartilhar seu entendimento (por vezes até despertar as intuições utilizadas para a análise) no tópico com ele (observado por Taylor como uma maneira forense de abordar a situação), quem realiza a análise hermenêutica também deve submeter seu próprio julgamento a esta posição, sendo que a melhor solução para este problema epistemológico é admitir uma parcela de incerteza na análise. Contudo esta não é a única resposta ao problema.
Duas teses podem ser destacadas na questão metodológica: uma é a tese hegeliana “racionalista” que a compreensão do todo se dá dentro de uma necessidade interna ao pensamento na qual não haveria como conceber o que se pensa de outra maneira, portanto não haveria nenhum grau maior de certeza a se alcançar, chegando-se ao Absoluto e rompendo a infinidade do círculo; a outra é chamada “empiricista”, no qual não há nenhum nível de interpretação a ser considerado. Assim, busca-se ir além e evitar tal círculo movido pela subjetividade, por levar em conta os denominados dados sensíveis como “blocos fundamentais” do conhecimento e a análise dos dados brutos como unidades mínimas de informação. Tais dados não estão submetidos nenhum julgamento ou interpretação prévia, e não sendo invalidada por qualquer outra leitura a ser feita deste.
Para isso, os positivistas lógicos buscaram agregar à verificação empírica dos dados brutos aspectos lógicos e matemáticos, tornando o processo indutivo mais passível de certeza e necessidade. Todavia, Taylor considera esta última epistemologia estéril na tentativa de explicar os mais variados aspectos e dimensões da vida humana, no qual a noção de interpretação pode lograr êxito em explicitar tais nuances e significados intersubjetivos. Agora, cabe a Taylor defender mais conclusivamente porque o método hermenêutico seria mais adequado às ciências humanas, e dentro de sua justificação irá trabalhar com uma noção de significado considerada por ele mais extensa que a de significado linguístico[3].
Significado experiencial e auto interpretação
Desta maneira, o filósofo estabelece que o significado deve ter um substrato – ou seja, ele deve ser acerca de alguma coisa – em um campo semântico (semantic field), pois nenhum significado se estabelece sem estar relacionado a outros significados que lhe proporcionam forma, descrevendo-o invocando-o, adquirindo seu lugar dentro das categorias e na rede de conceitos estabelecida. Porém, conforme introduz-se um novo conceito neste campo, há uma alteração no delineamento dos conceitos adjacentes que o constituem. Devido a integração do termo se dar nessa interação e uso entre e por outros termos, seu significado é fixado pelo que é denominado de campos de contraste dentro dos jogos de linguagem das práticas em seus usos em uma comunidade e suas estruturas políticas, econômicas e sociais. Então, neste momento há a diferenciação entre o significado linguístico e o que ele está buscando esclarecer aqui, denominando-o de significado experiencial (experiential meaning), sendo este último com três dimensões que o compõem. Trata-se do sentido para um tópico, de algo em um campo de contrastes, distinguindo-se do significado linguístico, que contém mais um componente: o chamado mundo de referentes (world of referents) aos termos integrantes do campo considerado.
Assim, Taylor destaca que as ciências humanas contêm termos que descrevem a realização de ações, comportamentos, procedimentos e emoções dentro de seu contexto social, e é aqui que se faz a necessidade do círculo hermenêutico: significados experienciais só podem ser entendidos dentro de um contexto no qual temos experiências vivenciadas em conjunto com o uso de tais termos e seus contrastes adjacentes. Desta forma, podemos fazer algo (exaltar, elogiar, repreender, desculpar) por meio da linguagem comum a todos, e devido a estas interações dentro de uma comunidade agregamos mais significantes sociais aos termos, que são contextualizados dentro de um modo de vida que não temos como conceber sem vivenciar ou ao menos imaginar-se nestas práticas sociais significativas concernentes a comunidade linguística que tal termo é utilizado, não havendo tradução ou explicação possível do termo sem esta condição. Desta forma, quando vamos tomar por exemplo uma ação realizada, ao buscar entendê-la, também buscamos coerência e sentido por parte do agente, mesmo que aparentemente ela seja irracional ou contraditória. Dentro de um contexto, realizar uma leitura das atitudes e ações de indivíduos ou grupos de uma comunidade que faça sentido e trazer à luz uma compreensão da conjuntura analisada, ou seja, um tópico, enquadra-se necessariamente dentro de uma das condições do que uma hermenêutica tem como objetivo fazer, que é trazer sentido.
Contudo, encontra-se um impasse na análise quando vamos pontuar a próxima condição ao deixar coerente e trazer sentido algo, que é a distinção entre o significado e o substrato envolvido. O significado pode realizar-se em outros substratos, sejam eles ações, atitudes ou tratos de comportamento. Porém, podemos ter um substrato que seu significado experiencial só é expresso de uma determinada maneira dentro da linguagem que ele integra. Sendo assim, realizar interpretações de um texto-análogo temos como resultado outro texto-análogo, pois há maneiras possíveis de expressar o significado de diferentes formas, mas como poderíamos realizar uma interpretação clara deste tipo de termos que denotam significados experienciais para um outro texto, sendo que eles seriam completamente distintos comparativamente? Isto é esclarecido observando-se que campos de contraste e campos semânticos não são independentes um do outro, portanto as variações e nuances dos termos adjacentes – como certos desejos, julgamentos e sentimentos – que definem um campo de contraste de um significado experiencial a nível cultural e social não estão dissociados do campo semântico que caracteriza tais significados.
Temos também que considerar, quando falamos sobre o significado experiencial, qual o tipo de relação entre estes aspectos qualitativos do sujeito e seu vocabulário, seja ele descritivo ou expressivo. Poderíamos definir primeiramente que o vocabulário sentimental basear-se-ia em sentimentos pré-existentes, aos quais são empregadas suas palavras correspondentes. Porém, este modelo não se sustenta, pois de acordo com Taylor, há circunstâncias em que o próprio relato mais sofisticado ao qual estamos sujeitos de emoções e sentimentos faz a nossa própria vida afetiva mais sofisticada, portanto o nosso vocabulário sobre estados emocionais e afetivos podem influenciar em nossa própria consciência, percepção e pensamento acerca dos mesmos. Consideremos um segundo modelo, no qual corrobora-se tudo o que foi dito neste parágrafo e conclui que o “pensar sobre” nos faz ter tais estados emocionais. Este também seria insustentável, pois não temos prima facie como saber se fornecendo descrições ou definições mais bem delineadas o sujeito não pode estar enganado, equivocado ou tê-las atribuído de má-fé quando utilizá-las em certas circunstâncias.
Desta maneira, as relações por correspondência ou arbitrárias do vocabulário utilizado as emoções, sentimentos, intenções e outros estados mentais não são isoladamente aceitáveis, mas ambos os modelos são justificados. Para mostrar isso, Taylor se atém em duas crenças em certas qualidades acerca do sujeito interpretante que favorecem ou desfavorecem o emprego de um vocabulário adequado; a lucidez própria e autoengano. Aponta-se que há neles ambas as faces das relações de envolvidas, pois quando há lucidez sobre si e seus próprios pensamentos, podem haver por meio dos mesmos alguma mudança. Já quando há um erro na maneira de pensar e dar sentido a algo, podemos corresponder a isso uma forma de inautenticidade, ilusão e má fé. Com a observação da interdependência entre os dois modelos e uma dialética estabelecida entre as duas formas de relação até nos próprios estados mentais do sujeito que analisa, é visto que tal dinâmica implica que o ser humano seja um animal auto interpretativo. Portanto, não há interpretação humana que não envolva auto interpretação penetrada, impregnada por um fluxo de ações. Estas interpretações de segunda ordem dos significados experienciais integram e compõem estes significados.
Assim, a segunda condição para uma ciência da interpretação provém na correspondência e dialética entre as ações e os comportamentos com o significado experiencial, que se constitui quando há a incorporação da explicação destes movimentos na sua auto interpretação ao explicans. E mesmo que estas descrições de ações ou comportamentos sejam expressas diferentemente por meio de outros termos, tais descrições buscam denotar o mesmo significado de modo mais claro. Logo, o significado experiencial proporciona um padrão explanatório que faz sentido e torna o corpo de ações e comportamentos envolvidos mais coerente (sendo o fato de “fazer sentido” um oferecimento da interpretação). Então, podemos buscar expressar o explicandum de outra maneira, pois atrelamos tal interpretação e seus significados ao nosso agenciamento, este se modifica e, quando nos voltamos ao fluxo comportamental no qual estes significados ganham vida, eles são reinterpretados, atingindo um dos objetivos de uma ciência hermenêutica.
Ergo, para demonstrar a terceira condição de uma ciência hermenêutica no capítulo – que seria voltar-se a uma área de investigação – Taylor dá exemplos de como certos conceitos econômicos e políticos – como “negociação” e “equidade” – são dependentes de todo um contexto intersubjetivo que envolvem ações, comportamentos intencionais dos integrantes da comunidade que utiliza tais conceitos, mostrando que a abordagem hermenêutica é necessária para elucidar as relações e a significação da temática em questão, e com isso a área de investigação concernente ao campo semântico interpretado, tendo por base os significados experienciais associados, que necessitam deste círculo hermenêutico para estabelecer tal campo semântico, que pode ser sempre reinterpretado.
Há discussões acerca de um ponto envolvendo a noção de regras institucionais (institutional rules): constituintes e por vezes constituidoras, moldando o que denomina-se de realidade social, no qual temos seu significado assentado nesta estrutura semântica intersubjetiva entre os agentes envolvidos socialmente. Tais regras são subjacentes aos comportamentos e ações destes agentes, que acabam por meio das crenças e intenções ligadas a tais comportamentos modificando ou reforçando a própria estrutura semântica. Com isso, altera-se a própria realidade social, aparentemente impossibilitando ainda mais uma análise empirista, uma vez que esta procederia sua investigação científica por meio de dados brutos identificáveis (brute data identifiable).
O aprofundamento sobre o fenômeno acima, chamado de efeito laço (looping effect), é escrito pelo filósofo canadense Ian Hacking inicialmente em (Hacking, 2009). Proveniente de leituras acerca da obra de Kuhn e do projeto de Foucault de estabelecermos uma “ontologia histórica de nós mesmos”. Hacking descreve neste contexto a reestruturação característica das nossas formas de conceitualizar, categorizar e delimitar particulares através de universais, sendo que no processos de nomeação e instanciação envolvido ocorre a manifestação de outras propriedades e disposições associadas a tais processos, sendo esta forma de conceito denominada de tipos ou espécies interativas (interative kinds). Este tópico foi mais aprofundado e discutido por outros filósofos[4], porém o próprio Hacking não deu continuidade a abordagem devido a problemas que ele considerou indissolúveis para estabelecer uma definição clara e distinta de tipos interativos[5], mas adentrar neste tema, mesmo fecundo, fugiria ao tema deste artigo.
A filosofia kuhniana e as ciências humanas
Thomas S. Kuhn irá discutir diretamente o capítulo de Taylor em seu artigo intitulado As ciências naturais e as ciências humanas[6], mesmo dissertando sobre alguns assuntos en passant ou tomando-os como subentendidos. Ele inicia realizando uma passagem autobiográfica sobre sua própria trajetória acadêmica em comum com as linhas hermenêuticas acerca das ciências sociais, mesmo não tendo muito domínio do material, destacando a leitura de textos de Max Weber e Ernst Cassirer[7], mostrando-se apreço e semelhança de suas noções e ideias sobre como se procede e entende a pesquisa científica nas ciências. Porém, quase como faces da mesma moeda, pois enquanto tais autores destacam a investigação nas ciências sociais ou humanas de maneira mais interpretativa e com um pano de fundo historicista, o relato das ciências naturais por Kuhn se dá de modo semelhante. A base deste relato serve para introduzir uma crítica direta a concepção que a tradição tem das ciências naturais – a maneira que descrevem e reproduzem o modo que ela é vista por cientistas e filósofos da ciência – aos moldes positivistas e empiristas, e seu aspecto objetivo, levando em consideração o dado bruto e a total independência das entidades naturais de qualquer sujeito ou comunidade linguística para sua fundamentação. Kuhn demonstra sua visão historicista em seu livro-ensaio A Estrutura das Revoluções Científicas (doravante Estrutura) no qual temos que entender alguns de seus termos e principais insights em conjunto com outros artigos para entender o que ele vem a defender com base no capítulo de Taylor.
Na Estrutura, Kuhn destaca uma ciência com base historiográfica e completamente distinta da forma relatada nos livros didáticos, que prezava aspectos o método hipotético dedutivo, cumulatividade e unidade metodológica. A ciência é relatada na Estrutura estabelecendo suas entidades, métodos, valores e práticas dentro de sua comunidade em um panorama histórico necessário – devido aos seus movimentos bem definidos – e de periodicidade bem identificados, formando uma estrutura que se inicia anteriormente a qualquer tipo de corpo científico e comunidade de investigação definidos, com vários grupos disputando a hegemonia teórica e prática da explicação de fenômenos naturais de certo tipo. Este período é dito como pré- paradigmático. Com o sucesso de “(...) algum corpo implícito de crenças metodológicas e teóricas interligadas que permita seleção, avaliação e crítica” (Kuhn, 2013, p. 79), temos o que Kuhn chama de ciência normal. Neste período a comunidade científica encontra-se em consenso, porém incompleta, se caracterizando por atividades como a solução de quebra-cabeças (puzzles), matematização das teorias aceitas, aplicação tecnológica, mensuração de constantes e realização de experimentos para maior clarificação conceitual e dar mais densidade ao campo semântico utilizado pela comunidade científica. Tudo isso tendo como base o paradigma estabelecido. O termo paradigma, mesmo sendo comprovadamente amplo e controverso[8] Kuhn focou em seus dois aspectos que foram considerados fundamentais: do paradigma enquanto realização concreta, que envolve o sucesso da utilização e operação dos conceitos para solução dos problemas existentes no contexto do próprio corpo teórico aceito pela comunidade, e paradigma enquanto conjunto de valores compartilhados. Com relação ao segundo, Ian Hacking destaca que:
Determinado grupo possui um conjunto comum de métodos, padrões e pressuposições básicas, os quais são passados aos estudantes, incluídos nos manuais, utilizados nas decisões a respeito de quais pesquisas devem receber apoio, ou de que problemas devem ser considerados importantes, que soluções são admissíveis, quem deve ser promovido, quem julga os artigos, quem se publica e quem desaparece. Isso é um paradigma, como um conjunto de valores compartilhados (Hacking, 2012, pp. 70-71).
Porém, a ciência normal se mantém estável tanto tempo quanto seu paradigma não entra em dissonância preditiva com os experimentos feitos. Quando o esquema conceitual levado em conta pela comunidade começa a não dar conta de certos fenômenos, necessitar de argumentos ad hoc para explicá-los e dar resultados fora de seu escopo preditivo, é observada uma anomalia no paradigma. Quando o paradigma traz luz a muitas complicações para as quais não havia respostas para os cientistas e eles a consideram potencialmente frutífera, muitas vezes a comunidade consegue lidar – ou ao menos renegar bem – uma quantidade de anomalias que não interfira no processo da ciência normal. Porém, quando estas inconsistências acumulam e o próprio paradigma – que fornece a base para a solução de quebra-cabeças – começa a não dar instrumentos conceituais suficientes para suas soluções, mas a tornar-se ele mesmo problemático nas atividades da comunidade científica, a comunidade entra em crise. Não há mais a crença segura de que o paradigma irá dar conta dos problemas que se apresentam. Os cientistas encaram os seus compromissos teóricos como falhos, e assim alguns membros da comunidade podem encarar a situação por outra perspectiva: tais problemas não são mais quebra-cabeças a serem solucionados, mas contraexemplos ao paradigma.
Consequentemente, começa a demanda pela comunidade[9] por mudanças significativas, passando a considerar outras linhas de pesquisa extraordinárias (no sentido de serem heterodoxas) tendo por base outros princípios e definições conceituais e até valores, gerando assim a possibilidade de realizar-se outros experimentos a partir de outra concepção de mundo. Insurge uma maneira distinta de interpretar os fenômenos, as experimentações e práticas que coordenam e guiam o grupo de pesquisadores “convertidos”, além de serem constituídos pelos mesmos, dando origem a um novo paradigma. Este período é chamado de ciência extraordinária, estabelecendo uma revolução que modifica e reorienta o modo de ver o mundo. Podemos dizer que vemos aqui uma concepção de ciência e da natureza do fazer científico essencialmente histórica, interdependente de valores e compromissos de comunidades que detêm uma interpretação e práticas associadas aos fenômenos e entidades descritos e previstos em tal campo de investigação, que devido a aspectos epistemológicos (anomalias), psicológicos e sociológicos (crise) interligados, há um movimento de reinterpretação e o estabelecimento de outro campo semântico intersubjetivamente definido (paradigma). Por esta perspectiva, podemos ver a grande quantidade de semelhanças às concepções de Taylor e Kuhn acerca das ciências, porém a quais tipos e em que graus elas convergem, há distinções.
Concordâncias e discórdias
Mesmo aparentando concordância, Kuhn inicialmente mostrou-se agnóstico com relação a inexistência de alguma distinção epistemicamente substancial entre as ciências naturais e as ciências humanas, pela distinção ainda lhe parecer coberta de vagueza. O ponto de discordância entre eles se dava no relato de Taylor de que as ciências naturais, por não possuírem nenhum tipo de objeto de análise que levasse em conta o que Kuhn denomina de intencionalidade do comportamento, distância tais ciências. As ações humanas têm como componente certas propriedades mentais que, por não serem suscetíveis a análise empírica, necessitam de interpretação e seriam distintos dos fenômenos naturais que não teriam significado, ou se tivessem, seriam os mesmos “(...) como Taylor mais recentemente o formulou, absolutos, independentes de interpretação por sujeitos humanos” (Kuhn, 2003a, p. 267). Portanto, na visão de Kuhn, Taylor ainda tem uma concepção de ciência natural impregnada por uma visão mais realista e poderíamos dizer até uma perspectiva ingênua acerca de entidades científicas, como flocos de neve e as estrelas nos céus.
Como vemos na Estrutura, é preciso um conjunto de valores, exemplares de problemas e um corpo teórico significativo compartilhados por uma comunidade científica e linguística, tendo seu paradigma como modelo de interpretação para os fenômenos naturais investigados e necessitando-se assim estabelecer por meio de um esquema conceitual que possibilite o ordenamento dos dados, trazendo coerência e sentido aos fenômenos. Isso se dá intersubjetivamente entre os membros da comunidade e na dinâmica da comunidade durante as atividades de pesquisa na solução de problemas, e é desta forma que o campo semântico científico[10] é aprendido pela próxima geração de pesquisadores, entrando aqui um ponto de convergência entre os filósofos: que conceitos não são independentes da comunidade que os usa, e sim dependentes da própria comunidade, defendendo que comunidades distintas – até de épocas distintas, como exemplo os gregos – que estejam em outras comunidades e venham a ter paradigmas distintos que conceitualizem os mesmos fenômenos não enxergam exatamente as mesmas entidades devido a dependência do algo que se aponta ou “observa” e os significados associados às referências de ambos os paradigmas constituírem a própria concepção de mundo destas comunidades.
De maneira conclusiva, após estas ressalvas, Kuhn volta a um tema da distinção entre as ciências naturais e sociais, lembrando que não havia discordância se existia uma distinção – e se existe, qual seria – apontando para uma questão não de natureza, mas talvez de condição epistêmica envolvendo grau de maturidade dos dois tipos campos científicos. Assim, ele inicia seu argumento sintetizando sua tese historicista acerca das ciências naturais:
Minha tese até agora foi a de que as ciências naturais de qualquer período são fundamentadas em um conjunto de conceitos que a geração corrente de praticantes herda de seus predecessores imediatos. Esse conjunto de conceitos é um produto histórico, embasado na cultura em que os praticantes correntes são iniciados durante seu processo de aprendizado, e acessível a não-membros somente por intermédio das técnicas hermenêuticas pelas quais historiadores e antropólogos chegam a compreender outros modos de pensamento. Algumas vezes tenho falado disso como a base hermenêutica para a ciência de determinado período, a vocês podem notar que tem semelhança considerável a um dos sentidos daquilo que já chamei de paradigma (Kuhn, 2003a, p. 271).
Tomando por base a noção de paradigma, Kuhn observa que mesmo a função dos que se propõem a entender um determinado esquema conceitual seja hermenêutica, a do cientista não o é, pois, o período de crise e ciência revolucionária em que é introduzido novos paradigmas não caracteriza grande parte de sua atividade. O período que caracteriza a produção e lida do cientista natural é o de ciência normal, em que ele amplia e aperfeiçoa a correspondência entre teoria e experiência dentro de sua resolução de quebra-cabeças, procurando manter até na detecção de anomalias, manter o paradigma em vigor. A revolução e mudança de paradigma acontece sem uma intenção prévia da comunidade de pesquisa, vindo até a se estabelecer e florescer em outra geração de pesquisadores. Desta maneira, a busca de novas interpretações aos fenômenos da natureza não seria objetivo do cientista nem das ciências naturais. Neste ponto, um tipo de ciência pode ser comparado pela perspectiva axiológica da outra e Kuhn tem um insight interessante: assim como o objetivo das ciências naturais não seria compreender o comportamento dos cientistas ou empreender novas concepções de mundo, o das ciências humanas pode não ser a resolução de quebra cabeças por meio de um paradigma estabelecido.
Ao final, diferentemente de Taylor, Kuhn se mantém relutante em tomar uma posição mais definida. Contudo, aponta duas situações possíveis às ciências humanas, e primeiramente, inspirado por um argumento que envolve o sucesso científico dentro das ciências da natureza de áreas em que não se concebia qualquer tipo de estabelecimento como ciência natural, expõe que parte de determinadas ciências humanas, mesmo com objetivo distinto das ciências naturais, não estariam demarcavelmente impedidas de engajar pesquisas que demandem soluções de quebra cabeças. Ele ainda tem a impressão de um possível sucesso já estar envolvendo tópicos em economia e psicologia neste sentido. O outro argumento é considerado por Kuhn forte, e baseado em uma característica que temos quando nos voltamos a fenômenos da natureza e não temos quando falamos de fenômenos históricos ou sociais: a incapacidade de fixarmos fenômenos específicos intermediados por um paradigma, pois o objeto das ciências humanas encontra-se em constante mudança. Nesse sentido, Kuhn acredita ser inviável a formação de uma ciência normal e apenas nesses setores ser requerido interpretações hermenêuticas, e assim manter-se.
Críticas de Hugh Lacey e sua relação com os escritos tardios de Kuhn
As temáticas envolvendo o debate são diversas, porém traz à tona um eixo que tem por centro quais são os constituintes de uma ciência, seja ela natural ou humana. Hugh Lacey em seu artigo “Interpretação e teoria nas ciências sociais e humanas” resume a visão de Taylor que as ciências naturais tratam de termos absolutos, enquanto as ciências humanas têm seus termos relacionados com o sujeito (Lacey, 1997, pp. 89-90), portanto a descrição do mundo natural é feita independentemente dos agentes humanos e não envolvem valores, comportamentos ou intenções subjacentes por parte de seu objeto de estudo ou da comunidade científica que precise de interpretação hermenêutica, como demanda o entendimento do que Lacey chama de mundo dos agentes. O que Kuhn mostra para o filósofo da ciência é que não há nada que garanta que as ciências naturais têm os compromissos que Taylor coloca, sendo que a própria obra científico-historiográfica e filosófica de Kuhn busca demonstrar isso. Logo, a distinção dos tipos de ciências proporcionada por Taylor fundamentada em termos absolutos e termos relacionados ao sujeito torna-se insustentável.
A partir deste ponto, Lacey observa que os termos que Taylor coloca como absolutos são relacionados a algum tipo de mensuração. Para tal, por meio de práticas promovidas pela própria comunidade científica como adequadas são feitos experimentos e criados instrumentos ou até mesmo fenômenos[11] para realizar medições e verificações com base nas leis subjacentes contidas no paradigma, e todos estes componentes científicos são dependentes da comunidade de pesquisa para serem construídos e implementados. Assim, não temos como dissociar completamente os objetos medidos de todas estas práticas que possibilitam os cientistas realizarem tais medições, tendo neste processo o destaque a termos que ele chama de visivelmente interpretativos, que tem em sua aplicação certa influência humana. Como Kuhn elucida ao final de seu artigo e Lacey reitera, nada impede uma abordagem fisicalista que mitigue bem mais tais classes de termos em parte das humanidades, porém, a influência humana além de em certos casos não ser tão nítida, se dá em graus e certas influências podem ser afastadas, porém haver demanda por outras: isto fica em aberto, contudo a especulação, abrindo-se a discussão para o caso de se possíveis partes das ciências humanas incidirem em atividades à ciência normal, quais tipos de valores estariam incluídos nela.
Assim, Lacey inicia comentando o ensaio de Taylor (Taylor, 1985b) no qual o filósofo canadense afirma que as ciências naturais explicam, dão embasamento e origem a tecnologia e seus instrumentos, além de proporcionar o entendimento sobre as capacidades e possibilidades envolvidas, pois as práticas experimentais nos auxiliam a ter e estender este poder preditivo e explicativo. Deste modo, a teoria delimita e proporciona as condições de possibilidade do desenvolvimento tecnológico e das próprias ciências. E no caso da produção tecnológica, o controle dos fenômenos proporcionado pela ciência da qual se deriva os instrumentos podem ser utilizados nas ciências aplicadas para dominação e controle da natureza e dos espaços existentes. Portanto, há uma relação dialética entre tecnologia e ciência mediada principalmente pelo controle como um dos valores relevantes pela comunidade que influenciam nos rumos das pesquisas e do próprio paradigma.
Lacey também lembra que Kuhn destaca no artigo Objetividade, juízo de valor e escolha de teoria (Kuhn, 2009) os principais valores epistêmicos de uma teoria científica, ou seja, compromissos incorporados à comunidade científica. Estes seriam a precisão, simplicidade, consistência, abrangência explicativa, poder preditivo e fecundidade. Há em seguida o questionamento por Lacey da relevância do controle tecnológico – através da teoria obter a instrumentalização e manipulação de fenômenos – e seu papel em conjunto com tais valores, pois Kuhn não aceita inicialmente que o controle seja incluído como valor epistêmico; para ele mais seria um valor social que poderia delinear valores epistêmicos, mas não os integrar. Lacey discorda, pois, sua crítica ao debate se dá em favor de Taylor – ao este levar em conta a importância da tecnologia na construção das ciências e pelo advento do controle no mundo moderno na natureza – e contra tal posição de Kuhn, mostrando que lacunas explicativas nos aspectos kuhnianos da concepção de ciência podem ser respondidos considerando que o valor da primazia do controle da natureza é um valor moderno que restringiu o paradigma nas ciências para que ele se adeque às suas exigências, moldando assim a interpretação valores epistêmicos agregados (Lacey, 1997, pp. 102-103).
Aqui, porém, temos que destacar alguns escritos posteriores de Kuhn que também envolvem valores na escolha de certas teorias em detrimento de outras, bem como aproximam-se de uma aceitação do controle como um valor epistêmico sim a ser considerado. No artigo Racionalidade e escolha de teoria em (Kuhn, 2003) ele comenta ideias próximas ao do filósofo Carl G. Hempel sobre os desideratos (como os seis expostos acima) que determinam na atividade e investigação científicas quão uma teoria é boa, sendo estes também determinantes e muitas vezes entrelaçados, determinados pelo próprio empreendimento científico – guias das próprias práticas da comunidade. Kuhn recorre a uma abordagem que ele chama de holismo local para explicar que alguns termos, tanto de ordem valorativa e epistêmica quanto de ordem teórica e taxonômica, são interdefinidos e embasados empiricamente dentro das próprias disciplinas nos quais estes termos fazem parte do seu léxico estruturado e aprendemos a usá-los sendo inseridos a este léxico. Desde termos como “força” e “massa” até “racionalidade” e “justificação” estão inclusos neste contexto de aprendizado mútuo, simultâneo.
Seguindo nesta linha, na resposta e comentários a um artigo de Ian Hacking em (Hacking, 1993) no texto denominado Pós-escritos (Kuhn, 2003b, p. 275), há mais pormenores descritivos desta noção e o destaque a outros termos nos quais espécies (ou tipos) são aprendidas como elementos de um conjunto de contraste, i.e., junto com outros termos que têm certas propriedades e referentes que, dentro de regras gerais, proporcionam a diferenciação dos termos do conjunto um do outro – sendo que o primeiro tipo de termo não tem este conjunto de contraste: termos como “espaço”, “tempo” e “massa” não integram com outros pares conjuntos de contraste (tal como as noções quase-informais de líquido, sólido e gasoso), e são ensinados mutuamente através de leis da natureza, por exemplo. Este esboço acima trata-se de uma concepção que possivelmente Kuhn traria de forma madura em sua obra, infelizmente inacabada, A Pluralidade dos Mundos.
O que vemos em seus últimos escritos (Kuhn, 2024) é a separação dos primeiros termos exemplificados por Kuhn como conjuntos unitários (singletons)[12], contido nas denominadas espécies artificiais, enquanto que os associados a conjuntos de contraste são termos taxonômicos, constituídos de espécies naturais. Kuhn em seu capítulo seis da Pluralidade aparentemente iria desenvolver melhor a noção de espécies artificiais: elas teriam uma natureza dual no sentido de serem identificadas por certas propriedades observáveis, porém agrupadas por suas funções (Kuhn, 2024, p. 350). Os artefatos organizados dentro desta categoria de espécies podem ser tanto intelectuais (o conceito econômico de moeda ou de justiça no Direito) quanto físicos (desde casos paradigmáticos de ferramentas como telescópio até o conceito de campo ou massa).
Ora, dentro das teorias que incorporam um léxico estruturado específico, quanto maior a capacidade da comunidade falante deste léxico de organizar e sistematizar dados obtidos na utilização de artefatos para observação e manipulação ou controle de fenômenos na prática científica, mais estas teorias ganham robustez e legitimidade. A organizadora dos últimos escritos de Kuhn, Bojana Mladenović, dá um exemplo de como a dinâmica na afirmação acima na passagem da ciência primitiva à madura:
A ciência primitiva começa com uma indagação sobre a natureza de tais objetos; isto resulta por vezes na reclassificação de alguns deles, por vezes no refinamento ou no aprimoramento das fronteiras classificatórias e por vezes na criação de novos táxons. Nesse processo, a ciência primitiva também cria novas espécies artificiais: objetos a serem usados como ferramentas e instrumentos na investigação, bem como conceitos abstratos para propósitos explicativos e preditivos. As estruturas lexicais da ciência madura se desenvolvem a partir de todos esses recursos e realizações da ciência primitiva (Kuhn, 2024, p. 39).
A pesquisadora também ressalta que Kuhn, na terceira parte de seu livro, iria destacar a prioridade e certa independência da prática científica sobre a teoria, tal como alguns trabalhos dos filósofos Peter Galison, Jed Buchwald e o próprio Ian Hacking, que Kuhn agradece e reconhece ter tocado neste tema de forma mais contundente. Aqui, temos na experimentação uma certa necessidade de um controle tecnológico de fenômenos para que, por meio do manejo dos artefatos (sejam estes intelectuais ou físicos), a comunidade científica obtenha resultados consideráveis, sendo que, conforme este controle seja considerado um valor per si no empreendimento científico – devido a fatores sociais, como Lacey destaca, e tal como os outros valores epistêmicos evidenciados por Kuhn – pode fazer com que certas áreas em que o controle seja um valor mais cultivado. Interessantemente, o próprio intuito de Kuhn em sua última obra se alinha a análise de Lacey sobre os motivos de sua narrativa histórica não abarcar o controle tecnológico como um valor epistêmico mais primário, que incluiria “(...) uma explicação da centralidade do experimento na ciência moderna” (Lacey, 1997, p. 100). Portanto, talvez o Thomas Kuhn que estivesse elaborando a Pluralidade concordaria com Lacey em sua alegação da primazia do controle como um valor epistêmico de fato.
Conclusão
Podemos ver desta maneira que tal debate sobre a distinção entre as ciências pode ser extremamente frutífero ao aprofundamento e extensão filosófica das ideias de Charles Taylor e Thomas Kuhn (inclusive expandindo o alcance interpretativo de seus últimos escritos), além de possibilitar a realização de outras análises de importância que não haviam sido consideradas por ambos. Desde o cerne da questão discutida por Dilthey, a temática é enriquecida quando acrescentamos fatores que demonstram a afetação de um tipo de ciência pela outra. Mesmo que ambas tenham objetos e objetivos que podem ser tomados como fundamentalmente distintos, o ponto fulcral que entrecruza seus empreendimentos é a própria concepção de interpretação hermenêutica, comum às duas ciências.
Mesmo que o papel da hermenêutica nas ciências sociais e naturais sejam em graus e com valores de dimensões epistêmicas ou sociais distintos a serem considerados, temos que ter em mente certa diretriz: seja por parte da comunidade científica com relação a um léxico estruturado a ser passado para outra geração, um historiador da ciência que busca entender o significado dos termos de um léxico considerado ultrapassado[13], um antropólogo observando comportamentos de uma comunidade buscando entender como ele se assentou e tomou forma comunitariamente ou cientista social procurando explicar porque na dita era da informação está cada vez mais proeminente a falta de responsabilidade com relação a veracidade de qualquer informação compartilhada, há esta busca de sentido e coerência em um nível fundamental levando-se em conta um conjunto de valores, ações e fenômenos a serem compreendidos, pois toda investigação científica demanda e é essencialmente constituída pela atividade humana. Tal compreensão entre uma possível gradação ou distinção entre as ciências talvez siga por caminhos avaliativos que envolvam a própria noção da hermenêutica – seja extrínseca e intrinsecamente a um léxico estruturado – como uma ferramenta metodológica na qual a atividade científica se apoia, bem como o papel da experimentação e desenvolvimento de espécies artificiais. Como parte dos últimos escritos de Kuhn se guiavam por este horizonte, investigações futuras podem fornecer um caminho fecundo para este tópico.
Referências bibliográficas
BIRD, Alexander. Human Kinds, Interactive Kinds and Realism about Kinds, 2014. Disponível em http://eis.bris.ac.uk/~plajb/research/papers/Human_Kinds_Interactive_Kinds_and_Realism.pdf
CASSIRER, Ernst. Ensaio sobre o Homem: Introdução a uma filosofia da cultura humana: São Paulo, Martins Fontes, 2005.
DILTHEY, Wilhelm. Introducción a las ciencias del espíritu. Madrid, Alianza Editorial, 1986.
FREGE, Gottlob. Lógica e Filosofia da Linguagem: São Paulo, EDUSP, 2009.
HACKING, Ian. Working in a New World: The taxonomic solution. Em: HORWICH, Paul. World Changes: Thomas Kuhn and the Nature of the Science. MIT Press, 1993.
HACKING, Ian. Ontologia Histórica: Rio Grande do Sul, Editora Unisinos, 2009a.
HACKING, Ian. Kinds of People: Moving Targets. Proceedings of British Academy, 151: pp. 285-318, 2009b.
HACKING, Ian. Representar e Intervir: tópicos introdutórios de filosofia da ciência natural. Tradução de Pedro Rocha de Oliveira; Rio de Janeiro: Editora UERJ, 2013.
KHALIDI, Muhammad Ali. Interactive kinds. British Journal for the Philosophy of Science 61 (2): pp. 335-360, 2010.
KUHN, Thomas S. As ciências naturais e as ciências humanas. In: CONANT, James; HAUGELAND, John (eds.). O caminho desde a Estrutura. Tradução de César Mortari: São Paulo, Editora Unesp, 2003a.
KUHN, Thomas S. Pós - escritos. In: CONANT, James; HAUGELAND, John (eds.). O caminho desde a Estrutura. Tradução de César Mortari: São Paulo, Editora Unesp, 2003b.
KUHN, Thomas S. A estrutura das Revoluções Científicas. São Paulo, Editora Perspectiva. 12ª edição, 2013.
KUHN, Thomas S. Objetividade, juízo de valor e escolha de teoria. Em: KUHN, Thomas S. A tensão essencial: estudos selecionados sobre tradição e mudança científica: São Paulo, Editora Unesp, 2009.
KUHN, Thomas S. A incomensurabilidade da ciência: os últimos escritos de Thomas S. Kuhn. Organizado por Bojana Mladenović: Traduzido por Alexandre Alves. São Paulo: Editora Unesp, 2024.
LACEY, Hugh. Interpretação e teoria nas ciências naturais e nas ciências humanas: comentários sobre Kuhn e Taylor. Trans/Form/Ação (São Paulo), v.20, p.77-93, 1997.
LIMA VAZ, Henrique Cláudio de. Antropologia Filosófica I: São Paulo, Loyola, 1991.
MASTERMAN, Margaret. A natureza de um paradigma. In: LAKATOS, Imre; MUSGRAVE, Alan (eds.) A crítica e o desenvolvimento do conhecimento: São Paulo, Editora Cultrix, 1979.
RICOEUR. Paul. A Metáfora Viva. São Paulo: Loyola, 2000.
TAYLOR, Charles. Interpretation in the Sciences of Man. Em: Taylor, Charles. Philosophy and the human sciences. Cambridge: Cambridge University Press, 1985a.
TAYLOR, Charles. Human Agency and Language. Cambridge: Cambridge University Press, 1985b.
Bismarck Bório de Medeiros
Bacharel e Mestre em Filosofia pela UFSM. Doutorando em Filosofia nas áreas de Epistemologia e Lógica Matemática no Programa de pós-graduação da UFSM.
Os textos deste artigo foram revisados por terceiros e submetidos para validação do(s) autor(es) antes da publicação
[1] Em Taylor, Charles. Philosophy and the Human Sciences. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 15-57, 1985a.
[2] Percebe-se que ele adota um modo de análise da linguagem semelhante ao fregeano, assim como na obra de Paul Ricoeur A Metáfora Viva do Estudo VII, ambas as obras usam a distinção entre sentido e referência (Sinn e Bedeutung) de Frege com modificações aplicadas ao sujeito realizar o empreendimento hermenêutico voltado aos textos. Para mais detalhes ver (Frege, 2009, cap. 7) e (Ricoeur, 2000, estudo VII).
[3] Uma parte importante desta elaboração é que ele começa a introduzir a interpretação não voltada apenas ao entendimento do ser humano, mas também com destaque a suas ações, e isto será mais importante como critério de distinção metodológica entre as ciências humanas e as ciências naturais.
[4] Para mais informações de aprofundamento e críticas acerca de tipos interativos, ver (Khalidi, 2010) e (Bird, 2014).
[5] Em (Hacking, 2009b) ele recapitula seus exemplos e reinterpreta alguns deles através de outros casos, demonstrando certa vagueza na identificação de tipos que possam ser considerados interativos pelo fato de certos conjuntos de particulares serem o que ele denomina de alvos móveis (moving targets), i.e., de difícil distinção conceitual.
[6] Kuhn, Thomas S., as ciências naturais e as ciências humanas. Em: O caminho desde a Estrutura. Conant, James; Haugeland, John (eds.). Tradução de César Mortari: Editora Unesp, São Paulo, pp. 265-273, 2003a.
[7] No livro Ensaio sobre o Homem (Cassirer, 2005) Cassirer define e distingue o homem dos outros animais em sua filosofia antropológica como animal simbólico. Há capítulos que abordam a ciência como a atividade humana mais altiva e minuciosa, se desenvolvendo em situações extraordinárias que se manifestam em certos valores que seriam tanto sociais quanto epistêmicos (isso será tratado mais adiante no artigo) que integravam e eram considerados por certa comunidade – como a regularidade na ordem natural e a beleza como traço da realidade – em conjunto com maior elaboração linguística, dando abertura a classificação e matematização da Natureza. Esta análise historicista da ciência tem muito em comum com as concepções kuhnianas: não à toa, pois Kuhn conhecia e porque não dizer se inspirou na obra. Uma passagem sobre a noção de número demonstra muito bem esta semelhança: “As linguagens mítica e matemática se interpenetram de modo muito curioso nos primeiros sistemas de astrologia da Babilônia, cujas origens remontam a cerca de 3.800 a.C. A distinção entre os diferentes grupos estelares e a divisão em doze partes do zodíaco foram introduzidas pelos astrônomos babilônicos. Todos esses resultados não teriam sido alcançados sem uma nova base teórica. Mas foi necessária uma generalização muito mais ousada para criar a primeira filosofia dos números. Os pensadores pitagóricos foram os primeiros a conceber o número como um elemento abrangente, realmente universal. Seu uso não está mais confinado aos limites de um campo especial de investigação. Estende-se por todo o território do ser. Quando Pitágoras fez sua primeira grande descoberta, quando descobriu a dependência da altura do som em relação ao comprimento das cordas vibrantes, não foi o fato em si, mas sua interpretação, que se mostrou decisiva para a futura orientação do pensamento matemático e filosófico. Pitágoras não podia ver nesta descoberta um fenômeno isolado. Um dos mais profundos mistérios, o mistério da beleza, parecia ter sido revelado nela. Para a mente grega, a beleza sempre teve um sentido inteiramente objetivo” (Cassirer, 2005, pp. 342-343).
[8] Há complicações que envolvem o esclarecimento do que seria propriamente um paradigma na própria Estrutura, que introduz o termo. A primeira crítica contundente a respeito que fez Kuhn repensar e enrijecer o conceito foi Margaret Masterman, que conseguiu identificar 22 definições para o termo paradigma na Estrutura. Ver (Masterman, 1979). Poucos anos após o uso do termo e as críticas o envolvendo, Kuhn reconhece sua vagueza e distribui suas características em duas concepções: a de matriz disciplinar e a de exemplar. Tal mudança se apresenta já no posfácio da Estrutura de 1969. Ver em (Kuhn 2013, pp. 279 - 323). Não utilizarei os outros termos pois no próprio artigo que envolve Taylor, Kuhn resolve utilizá-lo, e também para não causar nenhum tipo de confusão conceitual.
[9] Em (Kuhn, 2013, pp. 174-175) destaca a característica das saídas para a crise proporcionadas pela pesquisa extraordinária frequentemente se darem por membros mais recentes na área de investigação ou jovens, talvez por terem pouca prática científica com os valores compartilhados anteriores, percebendo o fator crítico e a necessidade de mudança mais facilmente. Até porque, como Kuhn mesmo relatou, a mudança e aceitação de paradigma acontece como uma conversão, e por meio de uma linguagem distinta, observa-se um mundo distinto. Assim como quem já tem como instrumento determinada linguagem há tempos e é mais velho torna-se mais complicado aprender e compreender outra linguagem do que para os jovens em comunidade linguística, o mesmo se dá no meio científico em tempos de crise e revolução.
[10] Em trabalhos tardios, Kuhn denomina a estrutura de conceitos de uma dada área de léxico estruturado – sobre o qual falaremos ao final deste artigo. Este termo só não foi acrescentado por questões de economia conceitual e por mostrar similaridade com a noção de campo semântico de Charles Taylor.
[11] A criação de fenômenos físicos é um aspecto não destacado por Lacey, porém no contexto abordado tem relevância para mostrar a proximidade da relação entre entidades naturais e práticas e teorias científicas. Há uma análise filosófica relativamente recente sobre o papel da experimentação nas ciências naturais feita por Ian Hacking em (Hacking, 2013).
[12] Antes do Capítulo 5 da Pluralidade, Kuhn pensava esta distinção apenas entre espécies taxonômicas e singletons, como ele deixa claro na nota de rodapé em (Kuhn, 2024, p. 350).
[13] Este tema dentro da Filosofia das ciências naturais de compreender e incorporar o passado pelo historiador é muito bem elaborado nas três Shearman Lectures de Kuhn em (Kuhn, 2024).