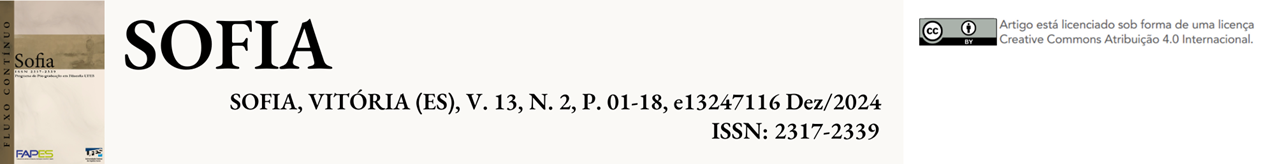
Abrindo os dizeres de Ecce homo
Opening the sayings of Ecce homo
Rodrigo F. Barbosa
UFPR – Universidade Federal do Paraná
Recebido: 12/12/2024
Received: 12/12/2024
Aprovado:17/12/2024
Approved: 17/12/2024
Publicado: 31/12/2024
Published: 31/12/2024
RESUMO
O objetivo deste trabalho é apresentar uma breve recomposição teórica que permite compreender os elementos de um gesto sofista na obra Ecce homo de Nietzsche. No âmbito de lançar luz sobre os pressupostos da compreensão desse gesto enquanto uma “doxografia sofística de si”, o que se segue é a explicitação de três componentes teóricos gerais que viabilizam tal interpretação: as noções de discursividade, poeseologia e doxografia. Na busca de compreender os mecanismos e astúcias da discursividade sofística, com Cassin, vislumbrar as dinamizações complexas do texto e suas possibilidades de reconstruções poeseológicas, com Pichler e, sobretudo, por meio da deflagração do “tráfico da letra” na doxografia, na roupagem da ciência filológica que Cassin salienta, podemos então, como entrada interpretativa no texto, reativar o “jogo doxográfico” pelo qual possamos, como faz Rahn, traçar “uma linha — como abertura ao pensamento segundo o qual possa valer a pena, no futuro, ler os livros de Nietzsche também superficialmente”.
Palavras-chave: Nietzsche; ecce homo; discursividade; poeseologia; doxografia.
ABSTRACT
The aim of this paper is to present a brief theoretical recomposition that allows us to understand the elements of a sophistic gesture in Nietzsche's work Ecce homo. In order to shed light on the assumptions of understanding this gesture as a “sophistic doxography of the self”, what follows is the explanation of three general theoretical components that make such an interpretation possible: the notions of discursivity, poeseology and doxography. In the search to understand the mechanisms and cunning of sophistic discursivity, with Cassin, to glimpse the complex dynamizations of the text and its possibilities of poesiology reconstructions, with Pichler and, above all, through the triggering of the “trafficking of the letter” in doxography, in the guise of the philological science that Cassin highlights, we can then, as an interpretative entry into the text, reactivate the “doxographic game” through which we can, as Rahn does, draw “a line — as an opening to the thought according to which it might be worthwhile, in the future, to read Nietzsche’s books also superficially”.
Keywords: Nietzsche; ecce homo; discursivity, poeseology; doxography.
Introdução
O presente trabalho é parte de uma recomposição teórica de um projeto mais amplo sobre os escritos de Nietzsche. Desse modo, seu alcance geral abarca os escritos do “último período” do filósofo e, de maneira específica, a obra Ecce homo cuja interpretação é então mobilizada no interior de um “gesto sofista”. Reiterando alguns pressupostos já discutidos anteriormente[1], bem como seus desdobramentos práticos na textualidade da obra[2], trata-se de, nesse sentido, de uma performance dos signos no interior do “estatuto sofístico da linguagem”, que Cassin não cessa de reiterar. Sendo assim, consiste em uma das entradas possíveis no texto de Nietzsche para compreendê-lo sob a base de um estatuto de problematização dos meios em que esse gesto foi efetivamente performado pelos sofistas na Antiguidade: aquilo que Cassin chama de “estatuto sofístico da linguagem”, no horizonte da instrumentalização textual realizada por Nietzsche que garante a ele, um pontapé inicial naquilo que o século XX denominará como “filosofia dos meios”[3]. Seja pelo fato de Nietzsche ter sido um dos primeiros filósofos do Ocidente a utilizar uma máquina de escrever[4], seja por seu decorum tipográfico que implica o uso dos meios materiais de sua época para produzir efeito estético no leitor, do uso da Sperrsatz pelo editor[5], ao uso compulsivo de elementos não verbais (como travessões, reticências etc.), a chamada práxis de irritação grafemática, trata-se, nesse sentido, de uma performance dos signos no interior desse “estatuto” que Cassin não cessa de reiterar. Aquilo que Peter Sloterdjik não consegue identificar no “evento Nietzsche”, que a “catástrofe na história da fala”[6] representaria, é, precisamente, uma inserção de Nietzsche no interior da catástrofe sofística do discurso e toda a sua potência de produzir mundo por meio da linguagem e fazer parte dessa outra espécie de poetas: a espécie dos poetas gramáticos[7].
Um dos principais desafios consiste em lançar luz sobre como a amplitude da reflexão de Nietzsche acerca da filologia clássica no interior do contexto da luta entre a tradição “humanista” e a “ciência filológica” do século XIX[8] e a respectiva ambientação na chamada “época da especulação”[9] permite ao filósofo alemão uma criativa instrumentalização[10] de elementos que, posteriormente, ampliam a possibilidade de compreensão da noção de “texto”[11]: como já mencionado anteriormente, trata-se de uma espécie de uma “autossupressão” da filologia[12] na medida em que Nietzsche transfigura um “pontapé dado” de um “pontapé recebido”[13]. Embora eu reconheça as complexidades e dificuldades envolvidas nos pressupostos que implicam filologia e historiografia ao longo das obras de Nietzsche e que “o trabalho com a Philologica tem apenas começado”[14], o que me interessa dessa abordagem é o ponto em que as insuficiências da filologia e sua instrumentalização permitem vislumbrar novas perspectivas para a crítica da historiografia[15] e, com isso testemunhe, na captura dos dizeres de uma “doxografia” em Ecce homo, o “nada que separa o trabalho filológico e o delírio de interpretação”[16].
Discursividade, poeseologia e doxografia
Significa isto então, mas não apenas, que se lê os textos filosóficos, simplesmente, como literários? E em que consiste, agora, realmente essa diferença?[17]
Como parte de um trabalho mais amplo, é preciso ter em mente duas ressalvas específicas para compreender a presente investigação: a primeira, é a de que, não se trata aqui de uma inaugural ou exclusiva exegese da imanência da obra Ecce homo de Nietzsche. Tampouco se trata de uma exclusiva e inaugural leitura sobre o aspecto performativo dos escritos de Nietzsche. Na função de intérprete, nem estou na posição da personagem da esposa do velho erudito de Kierkegaard na obra “Ou-Ou”, tampouco me resta a esperança de “soprar” os problemas hermenêuticos dos textos de Nietzsche como se fossem um ponto no lugar errado confundido como tal por um grão de rapé[18]. No caso dos livros de Nietzsche seria até interessante, à guisa de certa desobediência hermenêutica, virá-los completamente e seguir seu “hábito” de poder descrevê-los, como faz para com seus “cadernos”, “‘de cabeça para baixo’ de trás para frente”[19]. A segunda ressalva, diz respeito ao fato do que, as noções desenvolvidas aqui, fazem parte de uma reflexão teórica acerca dos “objetos de estudo” sofística e texto assumidos como entrada hermenêutica no texto que permita a compreensão de um gesto sofista em Ecce homo. Portanto, tomo como dado, os elementos que agora poderão ser explicitados de modo mais detido na forma de uma síntese argumentativa: a fronteira tênue entre literatura e filosofia parece então diluída[20] e, com essa compreensão, temos a possibilidade de verificar como atuar interpretativamente diante desse cenário e complexidade dos textos[21], bem como, arriscar alguma conjectura provisória[22]. Nisso juntam-se os três termos gerais do título da seção que, sobretudo, formam a cartografia da recomposição teórica da qual eu gostaria de dedicar ainda uma atenção especial: discursividade, poeseologia e doxografia.
Quando se trata de falar de sofística, de discursividade sofística, é no âmbito da “retórica” que se encontra a chave dessa discussão: desde que o problema do confisco e regulação dos poderes do discurso estejam liberados, é exatamente desse ponto de contato na suposta “distinção (…) entre filosofia e os outros tipos de texto”[23], seus “Outros”[24], que “o regime sofístico do discurso” opera sua mais drástica problematização e descompartimentação em uma “fusão em literatura” tal como parece acontecer “com a segunda sofística”[25]. Numa espécie de fusão em que “a retórica” se torna “uma tekhne poética (de criação)”, e nisto, teríamos a “origem da própria ideia de literatura”[26], encontramos na “mimesis rhetorike” uma das características da segunda sofística[27], que, em sua atuação de “produzir o novo, ser inventiva, criativa”, deve ser compreendida como “mimesis de mimesis impregnada de referência, sob o modo mais irônico do palimpsesto”; isto é, para além do registro da “filosofia platônico-aristotélica”, que “ganhou”[28]. É justamente esse o ponto em que a sofística como “alavanca”, mais especificamente aspectos de um funcionamento da segunda sofística, permite-nos com Cassin, “rever as condições da produção histórica do ‘face-a-face entre a literatura e a filosofia’”[29] cuja decidibilidade interpretativa possibilita, a meu ver, reconhecer a descompartimentação dos gêneros que a tradição, em nosso caso, tenta compartimentar a obra Ecce homo: especialmente biografia filosófica e autobiografia.
O foco direcionado aqui sobre os elementos da “segunda sofística” como alavanca para discutir a noção de discursividade sofística, a meu ver, permite pensar um amplo panorama de problematização contemporânea dos limites entre filosofia e literatura que, como salienta Pichler, “teve seu ponto alto e foi catalisado no debate de Jüngen Habermas com o pós-estruturalismo francês”[30] e cujo fracasso das tendências em um “nivelamento das distinções dos gêneros” tanto manteve assim a suposta “distinção”, quanto produziu apenas “elaboradas distinções” que “fornecem exclusivo critério à disposição que permite distinguir certos casos de textos literários de certos casos de textos filosóficos”[31]. Assim, instrumentalizando o prefixo “para-” que o autor retoma da “leitura” que J. Hillis Millers faz do sentido antigo do termo como “prefixo antitético que simultaneamente designa proximidade e distância, similaridade e distinção, algo que fica ao mesmo tempo em ambos os lados da fronteira, em um limiar ou borda”[32], Pichler em seu ensaio utiliza a noção de “para-literaricidade” com o auxílio do critério pragmático de Genette de “factum plural” na tentativa de compreender o significado das formas literárias e seus efeitos cognitivos na reflexão filosófica de modo a apagar, de certa forma, a distinção rígida entre essas esferas nesse contexto contemporâneo de indicernibilidade da fronteira dessas áreas, na medida em que assume que, “essas formas plurais” caracterizadas por Genette, “podem ser encontradas potencialmente nos textos filosóficos”[33]. Para além da análise de Pichler inclusive, as “encenações do traço” de Tim Kammasch como marcador de pontuação podem delinear contemporaneamente, tanto a “medida do potencial performativo” desse elemento gráfico[34], quanto a convidativa relação de vizinhança fronteiriça entre os usos literário e filosófico da linguagem[35]. Nesse sentido, como uma antecipação experimental daquilo que instrumentaliza posteriormente em sua tese, Pichler busca, por outras vias aqui, capturar o potencial literarizante do texto filosófico em vista da negligência de seu estatuto ante à tradição. De certa forma, esse posicionamento é bem análogo àquilo que Cassin tem reconhecido sobre a notação do sintagma discursividade sofística, no entanto, com o ganho adicional nesta última, de ser uma interpretação que tenciona uma esquiva da “tradição platônico-aristotélica” de regulação do discurso enfrentando precisamente esse face-a-face entre filosofia e literatura já na Antiguidade.
Desse modo, enquanto, por exemplo, nas teorias da narrativa contemporâneas se é aceito, sob “um veio nietzscheano”, que “o fato é um modo da ficção” e que tal abordagem “aplicada ao domínio da narrativa, (…) insiste sobre a “ficionalização” natural da narrativa” ao passo que se compreende que “toda narrativa constrói um mundo”[36], Cassin realiza, conforme mencionado, uma semelhante compreensão só que, especificamente, via histórico dos confiscos: que também poderia ser entendido como uma espécie de genealogia sofística dos termos “pseudo” e “plasma”. Para além de uma caracterização dos elementos que constituem a sofística enquanto discursividade, é, especificamente, a mudança temática da abordagem da segunda sofística que permite localizar a riqueza de procedimentos e astúcias operados nessa discursividade: precisamente num tipo específico de prática que implica uma “retórica historizante”[37] – em complementariedade e distinção a uma “retórica filosofante” da “antiga sofística” como quer Filóstrato[38] –, é o ponto de captura e encontro com a “problemática da interpretação” cuja segunda sofística performa, que, permite então, assinalar, com Cassin, que se entra “com a ficção, o estilo, a exegese e a crítica literária, na era da hermenêutica”[39] e com isso, no imbróglio da problemática se revê àquelas “condições da produção histórica do ‘face-a-face entre a literatura e a filosofia’”[40]. Isto quer dizer que, especificamente nessa mudança de mimesis operada pela segunda sofística junto a “história” numa “relação com o poiein”, torna-se possível vislumbrar o processo de uma espécie de “fusão em literatura” que “é certamente o que se opera com a segunda sofística”[41] na ordem daquilo que é “próprio dessa retórica mimética”, isto é, “produzir o novo, ser inventiva, criativa” e, então, desorientar a “acusação de pseudos” numa “reivindicação de plasma”[42]. Dito de outro modo, a partir do destaque à “acusação formulada por Platão” que “pode ser inscrita no termo pseudos” passando pelo espelhamento do duplo efeito negativo de “Pseudos objetivo: o ‘falso’” e, “Pseudos subjetivo: a ‘mentira’”, Cassin descreve como “o primeiro ponto de fricção ou de junção entre pseudos e plasma” é a “poesia”[43]. Assim, da censura de Aristóteles a Górgias por “ser por demais poeta para ser bom orador”, Hesíodo, Homero, Díon e Antifonte, é, salienta Cassin, decisivamente da “demiurgia que se aplica ao termo plasma” que se trata, a tal ponto de considerar que “plasma é o nome logológico do pseudos”[44]. Ao liberar a negatividade do “pseudos” imputado pela tradição filosófica, seja operacionalizando os usos de “plasso” na Antiguidade, seja mensurando a posição da “relação entre fenomenologia e ficção”, Cassin aponta em sua argumentação como o “plasma”[45] em sua atuação na segunda sofística recebe precisamente esse contorno demiúrgico literarizante que impede supor a mencionada distinção entre as esferas da filosofia e literatura ou mesmo a história e produz uma inevitável “descompartimentação dos gêneros do logos”[46].
Como resultado, diante dessa inevitabilidade de um “tudo mais é literatura” em que o reconhecimento da demiurgia do “plasma” que desbloqueia o confisco do “pseudos” faz com que, de fato, se entre em “literatura”[47], apresenta-se aqui o desafio específico de estabelecer um procedimento no horizonte de uma leitura “ab-aristotélica”[48] cuja adequação própria e remanejamento do propósito de Pichler de uma “reconstrução poeseológica dos escritos tardios de Nietzsche” possa ser vislumbrada. Assim, no intuito de descrever esse procedimento de “reconstrução” dos “escritos”, Pichler toma como “ponto de partida” o conceito de “texto” de Günter Martens cuja abertura e dinamicidade permitem pensar a interação dos signos em sua complexidade e atuação[49]. No âmbito de reconhecer especialmente as “formas de exposição estética” dos textos junto a essa adesão ao conceito de texto de Martens, Pichler encontra na “função poética” de Jakobson, compreendida em seu papel constitutivo[50], o critério que contempla precisamente a complexidade das dinamizações do texto junto ao reconhecimento de suas formas de exposição estética e forneça assim, a possibilidade de “compreensão do texto com foco sobre o significado da textualidade e a aceitação da prioridade do potencial semântico em um texto completo frente a todos contextos intertextuais”[51].
Em virtude disso, conforme salienta Pichler, obtêm-se, então, como uma primeira consequência a “renúncia do Autor-histórico-empírico, além da renúncia desta função de fundador de um contexto da obra”[52]. Isso ainda implica que não se deve recorrer a outros aspectos ligados ao “contexto externo como o exemplo da biografia ou história da vida do autor”. Na medida em que Pichler reconhece que “todo texto filosófico ‒ assim como complexos textos literários ‒ sempre reflete sua própria natureza e suas condições”[53], o elemento da “meta-reflexão” aparece como “o ponto de entrada da exegese”[54], ao passo que, “seu alcance e sua implicação filosófica” são considerados em “específica atenção”. Assim, o nome do procedimento em questão, ou seja, “poeseologia”, é modelado a partir de um reconhecimento do crescimento no século XX de uma “implícita poética” cuja emergência dessa atividade reconstrutiva na Alemanha é denominada pelo conceito de “poetologia”: a partir da aceitação da adequada mudança morfológica proposta por Wilfried Barner[55], então “poeseologia” configuraria, etimologicamente, a riqueza da raiz grega de “poie”[56]. É desse modo que, por “poeseologia dos escritos filosóficos”, Pichler entende um “método de leitura de reconstrução das obras tardias de Nietzsche”[57] cujo termo “escritos” na posição gramatical de “atributivo-genitivo” da afirmação de Pichler, deve-se entender, tal como ele mesmo destaca, “o foco sobre a textualidade dos textos filosóficos”[58], o “resultado de um processo de produção altamente complexo”[59]. Tal foco implica tanto um reconhecimento da dinamização semântica do texto na confrontação das versões quanto uma “leitura individual dos segmentos de obra” precisamente em conformidade com a descrição do “conceito de texto”[60].
Nesse sentido, numa adesão à abordagem da Pesquisa-Nietzsche denominada “genealogia dos escritos” que opera de modo distinto à crítica genética por sua a) diferença das “causas da orientação ao processo de formação de um texto”, bem como, devido a b) seu tratamento dispensável da ideia de “autor”[61], que ampara assim, a importância de uma “cena da escrita” na análise do processo[62], Pichler se utiliza da abordagem de Martin Stingelin da “corporeidade e materialidade do ato da escrita como fonte de resistências”[63] cuja operatividade demarca tanto a “materialidade”, quanto a “figuratividade” dessas fontes de resistências configuradas na forma de “quatro categorias de mudanças”: “adição, subtração, substituições e mudanças”[64]. De acordo com Pichler, tais “processos de alteração enfatizados por Stingelin formam um componente central da base medial-material desse acontecer dos sentidos”. Por isso que, além de considerá-las importante como “superação das resistências da prática escrita”, Pichler destaca que “se deve explorar essas resistências em seu efeito sobre a constituição do conteúdo semântico de um texto filosófico”. Precisamente por esse enfoque sua abordagem se distinguiria da mencionada “Genealogia dos escritos” encabeçada pela elaboração de Stingelin em que o tratamento dessas “quatro categorias”, no exame de “Metareferências” e “Metareflexões”, seria caracterizado não como sendo uma mera “reconstrução poetológica”[65] como propõe Stingelin, mas uma “reatuação do altamente complexo acontecer dos sentidos, potencialmente auto riscado e documentado na textura de um texto filosófico”[66] cujo pano de fundo que o orienta é antes, algo como uma “hermenêutica do texto”[67]. Destarte, no processo de “reconstrução poeseológica dos escritos de Nietzsche”, Pichler propõe uma “reatuação”. Esta ocorre no interior das quatro categorias de alteração da escrita, cuja dinamização trazida à tona forneceria, na textura do próprio texto, as “metareflexões” que servem como ponto de entrada hermenêutica no texto: no altamente complexo jogo das alterações, adições, subtrações e mudanças que as versões recebem até sua forma impressa, seria possível compreender topologias, desobstruir metareflexões e expandir a interpretação sobre os textos e a própria constituição da produção de sentido ali envolvido. Embora sem o rigor e a desenvoltura do aparato desenvolvido por Pichler, algo do que chamo, com ele, de poeseologia aqui deve ser entendido como um esforço inicial nessa direção cuja ligação com a reflexão logológica de Cassin permite pensar, por fim, o “estatuto sofístico da linguagem”: reatualizar essa poeseologia dos escritos de Nietzsche é, em certa medida, desobstruir o “plasma” na imbricabilidade com a ficção e o literário cujo “tráfico da letra” permite adentrar o reino do “fantástico”[68] que a filosofia, excepcionalmente, expropriou.
Isso conduz à reflexão diretamente ao núcleo dos
significados dos termos do sucessivo tema da recomposição teórica do presente
trabalho, “doxografia”: de um lado “doxa” e as bifurcações de seu estatuto na
ligação e confisco entre as esferas do conhecimento e sua transmissão;
de outro, “grafia”[69]
e seu “schreibt” do esfregar da escrita[70].
Na composição, sem grandes desafios, tem-se o significado objetivo de “escrita
de opiniões”[71]
cujo termo parece ter sido cunhado por Hermann Diels no berço da “grande
tradição da filologia alemã”[72]
– e, conforme veremos com Cassin, talvez com a mesma água platonicóide
que batizou os sofistas[73].
Sob este ponto de vista e a partir da descrição de Cassin, é possível
reconhecer a doxografia então, como essa espécie de “primeiros lábios”[74]
que Diels menciona, enquanto “uma repetição puramente escolar”, “essencialmente
repetitiva”[75].
A partir dessa caracterização da “doxografia” no âmbito da repetição puramente escolar que, todavia, ainda não seria o de uma dimensão “sofística”, Cassin explora a noção de doxografia em sua tese no intuito de esboçar uma espécie de cerco cujo campo interpretativo teria sido nadificado pela roupagem da ciência que a filologia então empresta[76]: a invenção da doxografia na forma de sua designação e estabelecimento por Diels hospeda também a sua derradeira derrocada. Nesse sentido, conforme salienta Cassin, a partir destes começos cujos “dizeres dos primeiros filósofos” foram transformados “desde” Platão e Aristóteles “em doxai ou resumos de doutrina”, “três horizontes maiores condicionam” esse “material que nos chegou”: 1) uma “orientação sistemática”, 2) “um plano mais literário” e, 3) “uma relativização do tipo cético”. A primeira, segundo Cassin, “hierarquiza as doutrinas segundo uma grade de questões e uma escala de valores platônico-aristotélica” que tem na figura de Teofrasto seu fundamental iniciador dos quais, posteriormente, se proliferam os “manuais”[77]. O segundo, “solidifica e precipita a teoria em uma unidade pragmática da ‘vida’”, precisamente, pela “tendência biográfica” do qual o nome de Diógenes Laércio parece ser o ponto alto de uma evolução que “conjuga as duas tendências” em sua obra “Vida, doutrinas e sentenças dos filósofos ilustres” aos quais se diz “tudo sobre todos, dos Sete Sábios a Epicuro”[78]. Por fim, no terceiro horizonte, de acordo com Cassin, “no seio da Academia” essa “relativização do tipo cético” se manifesta até que alguém como um Sexto Empírico “se sirva” de sua “linhagem pirroniana” para, então, “justapor a diversidade das opiniões e tirar dela argumento contra a existência de um critério verdadeiro”[79].
Assim, após apresentar tais horizontes iniciais e salientar como “as coisas ficam nisso durante séculos”, Cassin destaca a posição de Leibniz a esse respeito, com sua abertura, “com o princípio do melhor”, da “dimensão do progresso histórico” segundo a qual os desdobramentos posteriores fornecem a matéria sob a qual “grandes historiadores da filosofia do fim do século XVIII” permitem a nutrição teórica de um Hegel. Enquanto ainda situa a transformação no século XIX por meio do destaque de uma autonomização do “devir histórico” em que, segundo a autora, “o sistema cessa de fornecer o horizonte de inteligibilidade”, Cassin aponta, simultaneamente, como “a sucessão regrada pelo conceito” agora “dá lugar à causalidade das influências reais” que consiste precisamente na aplicação teórico-metódica realizada por Diels: “este aplica esse tipo de causalidade (…) ao instrumento mesmo que fornece as informações, à doxografia propriamente dita”[80] . Aqui o diagnóstico realizado por Cassin é interessante na medida em que retrata a “verdadeira mutação que se cumpre” no feito de Diels com a publicação de suas “duas sumas sem as quais nenhum filólogo e talvez nenhum filósofo poderia passar”: “os Doxographi Graeci em 1873 e Die Fragmente der Vorsokratiker em 1903”[81].
A acusação de Cassin é aqui tão severa quanto límpida: “Diels (…) põe definitivamente fim ao jogo doxográfico, à proliferação das interpretações e das reinterpretações dos resumos antigos”. Nesse caso, o processo efetuado por Diels, de acordo com Cassin, cristaliza a margem de manobra que antes existia na definição da “doxa” na “oscilação entre interpretação e repetição” na medida em que “a repetição determina todo o seu valor e ganha lugar de norma”[82]. Por fim, o esboço de Cassin ali conjugado pela sugestão do título da seção como “o fim da doxografia” é interessante, pois, diagnostica de modo breve e incisivo o construto teórico de Diels que, como “única construção possível”, no interesse de uma positividade incontestável da cristalização positiva da “identidade” nas “doutrinas originais” faz da doxografia “uma repetição de informações cujo valor, exatamente como a de um manuscrito, é função tanto da proximidade com a origem quanto da neutralidade ou apagamento dos intermediários, copistas-doxógrafos”[83]. O que é aqui, precisamente interessante e que resulta na subsequente argumentação de Cassin, é o fato de que para “escapar” a tal ultimato de Diels em sua “força incontestável” regida pela positividade da doxografia, segundo Cassin em seu interesse de interpretar o texto “Anônimo” De M.X.G., seria “preciso reativar o jogo doxográfico, liberando a singularidade dos horizontes, e reanimar as interpretações antigas”; e isto, faz Cassin começando pela própria mudança no olhar para “considerar a obra de Diels mais de perto”[84]. Com efeito, o que Cassin realiza aqui é uma dissecação da estrutura das obras de Diels ao apontar as fragilidades do edifício em sua “perda em cascata”. Bem ironicamente, aparecem coisas “fantásticas” do tipo: “se o texto perdido dos pré-socráticos deveria poder se apoiar, fragmento após fragmento, no texto perdido de Teofrasto, o texto de Teofrasto deve, por sua vez, ser extraído fragmento após fragmento de outros textos perdidos” o que Cassin parece concluir então, imediatamente, é que nesse torvelinho de suposta positividade há apenas “perda em cascata” em uma erudição “fantástica”[85]. Da epígrafe ligada a seu “pai de doutorado” Usener que é, segundo Cassin, também “propriamente fonte”, o que a autora destaca é a estrutura “fantasmática” que o “erro metódico” de Diels produz e sua “reconstrução (…) ensina que a repetição, cujo objetivo é a fidelidade, nadifica o texto”[86].
Visto que, de acordo com Cassin, a própria “doxografia” é que “induz a um erro como o de Diels” o que transparece nesse sentido, é que seus componentes parecem ser aquilo que, naquele desbloqueio proposto, devem ser observados à luz de uma espécie de “reificação do sentido”, isto é, “também o fato, data de nascimento, não é um fato, mas o resto de uma operação complexa: a reificação de um sentido”[87]. Isso implica que a ambição de tratar “cronologicamente, historicamente, positivamente” um fato é deixada de lado junto ao erro de Diels para que se possa “entendê-lo [o fato] como uma ficção, uma interpretação, e até mesmo uma interpretação de interpretação, e interpretá-lo”. Como destaca ainda Cassin, na medida em que “uma tecedura, caricatural graças a Diógenes” complica por completo “a diferença entre as repetições” por meio desse traço anedótico laertiano em que “não há um só fio de anedota – entendam-no como as narrativas de um sonho – que não seja ficção significante”[88]. Ainda na importância da ressalva de que “o que se encontra escrito no texto doxográfico são sempre apenas ‘dizeres’” enquanto discurso sofístico autônomo[89], toda a abordagem de Cassin, nesse caso específico de sua tese sobre De M.X.G., consiste numa ênfase concedida a essa abertura de possibilidades interpretativas do jogo doxográfico que, na precisa operação complexa de “reificação do sentido”, é produzida na repetição doxográfica sofística operada pelo “Anônimo”. No mesmo sentido em que ao “nos fazer ler a doxografia positiva exatamente como Górgias nos faz ler Parmênides”, isto é, “praticando-a”, o “Anônimo” permite, de acordo com Cassin, nos fazer ler a doxografia como “puro e simples discurso” ao passo em que tal prática se caracterizaria como um quarto horizonte, como horizonte da “doxografia (…) propriamente sofística” e como “a mais adequada à natureza fictícia do fato doxográfico”[90], por exemplo, enquanto “resultado de um texto literário em virtude do uso paródico da ficção”[91].
Logo, ao conceber esses três elementos expostos acima, à luz da textualidade dos escritos de Ecce homo, é possível produzir, a meu ver, a mudança necessária do olhar em relação à produtividade de leitura dessa obra. O desafio, nesse intento de olhadela ab-aristotélica enquanto recomposição teórica, consiste em mexer no vespeiro de um tipo de violência filosófica autoritativa cujos movimentos parecem ter sido denunciados por uma certa “paleontologia da perversão” no Ocidente[92]. Nisso consiste, precisamente, a complicação do universal que, com Cassin, eu tento produzir com e a partir de Nietzsche: e se pudéssemos ler, por exemplo, Ecce homo à luz dessa reativação do jogo doxográfico, enquanto uma doxografia propriamente sofística? Por fim, esse tipo de entrada no texto de Nietzsche, é um exercício heurístico na contramão do gesto autoritativo de uma bofetada ontológica, sob o qual não gostaria de legitimar que “importa perder tudo o que difere para fixar uma identidade, por mais que ela se torne uma pele de tristeza”[93].
Referências bibliográficas
BARBOSA, Rodrigo Francisco. A Witz sofística na filologia de Nietzsche. TRÁGICA: ESTUDOS SOBRE NIETZSCHE, v. 14, p. 65-101, 2021.
BARBOSA, Rodrigo Francisco. Paracaracterísticas dos modos de escrita de Nietzsche. ESTUDOS NIETZSCHE, v. 13, p. 198-215, 2022.
BARBOSA, Rodrigo Francisco. A captura de Ecce homo pelo topete do texto. Revista Trágica: Estudos de Filosofia da Imanência, v. 17, p. 46-72, 2024.
BENNE, “Der Punkt. Vom Sinn des reinen Fürsichseins” In: ABBT, Christine; KAMMASCH, Tim [Hg.]. Punkt, Punkt, Komma, Strich? Geste, Gestalt und Bedeutung philosophischer Zeichensetzung. Transcript Verlag, pp. 41-60, 2009.
BENNE, Christian. “Nietzsche und die historisch-kritische Philologie”. Monographien und Texte zur Nietzsche-Forschung, v. 49. Berlim / Nova York: Walter De Gruyter, 2005.
BENNE, Christian. “Paródia” In: NIEMEYER, Christian (Org.). Léxico de Nietzsche. São Paulo: Loyola, 2014.
BENNE, Christian. The Philosophy of Prosopopoeia. The Journal of Nietzsche Studies, v. 47, Issue 2, Summer, pp. 275-286, 2016.
BENNE, Christian “La ricerca poetica di Nietzsche: un’etica dell’amicizia” In: LOSSI, Annamaria; ZITTEL, Claus. Nietzsche scrittore. Saggi di estetica, narratologia, etica. Pisa: ETS, pp. 31-52, 2014.
BENNE, Christian; SANTINI, Carlota. “Nietzsche und die Philologie” In: HEIT, Helmut; HELLER, Liza (Orgs.). Handbuch Nietzsche und die Wissnschaften. Berlim / Boston: Walter De Gruyter, pp. 173-200, 2013.
BEINERT, Wolfgang. Sperrsatz. Das Lexikon der Typografie. 27.12.2019. Disponível em: https://www.typolexikon.de/sperrsatz/ Acesso em outubro de 2024.
BOMMEL, Bas van; Classical Humanism and the Challenge of Modernity. Debates on Classical Education in 19th-century Germany. De Gruyter, 2015.
CASSIN, Barbara. Aristóteles e o lógos. Contos de fenomenologia comum. Trad. Luiz Paulo Rouanet. São Paulo: Editora Loyola, 1999.
CASSIN, Barbara. O efeito sofistico. Trad. Ana Lúcia de Oliveira, Maria Cristina Franco Ferraz e Paulo Pinhiero. Ed. 34, São Paulo, 2005.
CASSIN, Barbara. Sophistical Practice: Toward a Consistent Relativism. Fordham University Press, Nova York, 2014.
CASSIN, Barbara. Se Parmênides. O tratado anônimo De Melisso Xenophane Gorgia. Trad. Cláudio Oliveira. Belo Horizonte: Autêntica, 2015.
CASSIN, Barbara et al. Dictionary of Untranslatables: A Philosophical Lexicon. Princeton: University Press, 2014.
CASSIN, Barbara; WOLFE, Charles T.; Who's afraid of the sophists? Against ethical correctness. Hypatia. Vol. 5 Number 4, pp. 102-120, 2000.
DISSER, Monika. Friedrich Nietzsche und das Experiment Schreibmaschine“ In: Archiv für Stenografie, Textverarbeitung, Informationstechnologie“, Disponível em: encurtador.com.br/ijSZ5. Acesso em outubro de 2024.
Digitale Wörterbuch der deutschen Sprache. Disponível em: http://www.dwds.de Acesso em outubro de 2024.
FRIES, Thomas; “Die Leerstelle. Der Zwischenraum” In: ABBT, Christine; KAMMASCH, Tim (Org.) Punkt, Punkt, Komma, Strich? Geste, Gestalt und Bedeutung philosophischer Zeichensetzung. Bielefeld: Transcript-verlag, pp. 165-176, 2009.
HÖDL, Hans Gerald. Der letzte Jünger des Philosophen Dionysos. Studien zur systematischen Bedeutung von Nietzsches Selbstthematisierungen im Kontext seiner Religionskritik. Monographien und Texte zur Nietzsche-Forschung, v. 54, Berlin/New York: Walter De Gruyter, 2009.
IKEN, Katja. “Klack-Klack-Klack-Klack-Bing!”. Der Spiegel. 05.05.2017. Disponível em: https://goo.gl/vmcKir Acesso em outubro de 2024.
JENSEN, Anthony “Ecce homo as historiography” In: Nietzsche-Studien, v. 40, Berlim / Nova York: De Gruyter, p. 203-225, 2011.
JENSEN, Anthony. Nietzsche’s philosophy of history. Nova York: Cambridge University Press, 2013.
KAMMASCH, Tim. “Der Gedankenstrich. »stille Ekstase«” In: ABBT, Christine; KAMMASCH, Tim [Hg.]. Punkt, Punkt, Komma, Strich? Geste, Gestalt und Bedeutung philosophischer Zeichensetzung. Transcript Verlag, pp. 119-140, 2009.
LANGER, Daniela. Wie man wird, was man schreibt. Sprache, Subjekt und Autobiographie bei Nietzsche und Barthes. Paderborn: München, 2005.
LOSSI, Annamaria. L'io postumo. Autobiografia e narrazione filosofica del sé in F. Nietzsche. Tesi di dottorato di ricerca. Pisa, 2012. Disponível em: https://goo.gl/0KzwRm Acesso em: outubro de 2023.
MARTÍNEZ, Roberto Sanchiño. Aufzeichnungen eines Vielfachen Zu Friedrich Nietzsches Poetologie des Selbst. Bielefeld: Transcipt Verlag, 2013.
MORE, Nicholas D. Nietzschte's Last Laugh. Ecce Homo as Satire. Nova York: Cambridge Press, 2014.
NIETZSCHE, Friedrich. Digitale Kritische Gesamtausgabe Werke und Briefe. Disponível em: http://www.nietzschesource.org/#eKGWB. Acesso em outubro de 2024.
NIETZSCHE, Friedrich. KGW IX/9. Hrsg. v. Marie-Luise Haase und Martin Stingelin. Bearb. v. Marie-Luise Haase, Thomas Riebe, Beat Röllin, René Stockmar, Franziska Trenkle, Daniel Weißbrodt. Unter Mitarbeit v. Karoline Weber. Berlim / Boston: Walter De Gruyter 2012.
NIETZSCHE, Friedrich. A Filosofia na idade trágica dos gregos. Trad. Maria Inês Vieira de Andrade. Edições 70 (Edição digital), 2020.
NIETZSCHE, Friedrich. A gaia ciência. São Paulo: Companhia das Letras, 2007.
NIETZSCHE, Friedrich. Além do bem e do mal. São Paulo: Companhia das Letras, 2006.
NIETZSCHE, Friedrich. Ecce homo: como alguém se torna o que é. São Paulo: Companhia das Letras, 2005.
NIETZSCHE, Friedrich. Humano, demasiado humano. Vol. II, São Paulo: Companhia das Letras, 2017.
NIETZSCHE, Friedrich. Correspondencia I, Junio 1850 ‒ Abril 1869. Madrid: Trotta, 2005.
NIETZSCHE, Friedrich. Genealogia da moral. São Paulo: Companhia das Letras, 1998.
NIETZSCHE, Friedrich. Segunda consideração intempestiva: da utilidade e desvantagem da história para a vida. Trad. Marco Antônio Casanova. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2003.
PICHLER, Axel. “Para-Literarizität. Versuch eines alternativen heuristichen Blicks auf die Gattungsgrenze von Philosophie und Literatur” In: DUNSHIRN, Alfred; NEMETH, Elisabeth; UNTERTHURNER, Gerhard [Hrsg.]. Crossing borders. Grenzen (über)denken. Thinking (across) Boundaries. Œsterreichische Gesellschaft für Philosophie, Wien, pp. 163-172, 2012.
PICHLER, Axel. “Philosophie als Text ‒ Zur Darstellungsform der Götzendämmerung”. Monographien und Texte zur Nietzsche-Forschung, vol. 67. Berlim / Boston: De Gruyter, 2014.
PORTER, James I. Nietzsche and the philology of the future. California: Stanford University Press, 2000.
RAHN, T. “Delle nuove tavole. Sull’arte tipografica come mezzo interpretativo in Nietzsche” In: LOSSI, Annamaria; ZITTEL, Claus.; Nietzsche scrittore. Pisa: ETS, pp. 47-51, 2014.
RIES, Wiebrecht “EH: Ecce homo”. In: NIEMEYER, Christian (org.) Léxico de Nietzsche. Loyola, pp. 169-172, 2014.
SCHAEFFER, Jean-Marie. “Fictional vs; Factual Narration” In: HÜHN, Peter et al. (Org.). Narratologia / Contributions to Narrative Theory: Handbook of Narratology. Berlin: De Gruyter, pp. 98-114, 2009.
SLOTERDIJK, Peter. Regras para o parque humano: uma resposta à carta de Heidegger sobre o humanismo. Trad. José Oscar de Almeida Marques. São Paulo: Estação Liberdade, 2000.
SLOTERDIJK, Peter. Nietzsche Apostle. Trad. Steven Corcoran. Semiotext(e), Los Angeles, 2013.
SLOTERDIJK, Peter. Phiosophical Temperaments. From Plato to Foucault. Nova York: Columbia Press, 2013.
SOMMER, Andreas Urs. Nietzsche-Kommentar. Kommentar zu Nietzsches Der Antichrist. Ecce homo. Dionysos-Dithyramben. Nietzsche contra Wagner. Vol. 6/2, Berlim / Boston: Walter De Gruyter, 2013.
SOMMER, Andreas Urs. Nietzsche und die Folgen. Stuttgart: J.B. Metzler Verlag, 2017.
STEGMAIER, Werner. As linhas fundamentais do pensamento de Nietzsche: coletânea de artigos: 1985-2009. Organização de Jorge Luiz Viesenteiner e André Luis Munis Garcia. Petrópolis: Vozes, 2013.
TONGEREN, Paul v. A moral da crítica de Nietzsche à moral: estudo sobre “Para além de bem e mal”. Trad. Jorge Luiz Viesenteiner. Curitiba: Editora Champagnat, 2012.
UGOLINI, Gherardo “De Laertii Diogenis fontibus (1868/69, KGW II/1, 75–167)” In: OTTMANN, Henning (Org.). Nietzsche-Handbuch: Leben, Werk, Wirkung. Stuttgard/Weimar, pp. 159-160, 2011.
VIESENTEINER, Jorge Luiz. Nietzsche e a vivência de tornar-se o que se é. Campinas: PHI, 2013.
VIESENTEINER, Jorge Luiz. Sobre autoencenação e autogenealogia no Crepúsculo dos ídolos de Nietzsche. Estudos Nietzsche. Curitiba, v. 5, n. 2, Jul./dez, pp. 189-214, 2014.
WRIGHT, J. Lenore. The Philosopher's "I". Autobiography and the Search for the Self. Nova York: [s.e.], 2006.
Rodrigo Francisco Barbosa
Doutor em Filosofia pela PUCPR. Doutorando em Letras pela UFPR na área de estudos literários.
http://lattes.cnpq.br/2214748371024595
Os textos deste artigo foram revisados por terceiros e submetidos para validação do(s) autor(es) antes da publicação