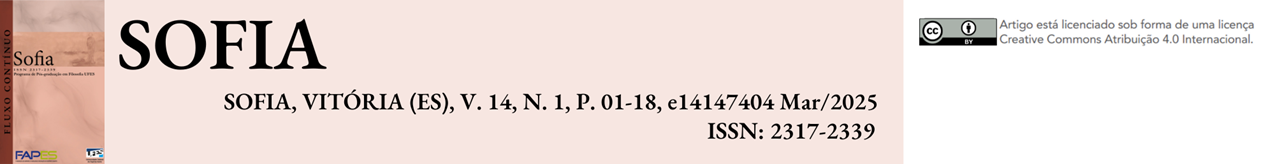
Realismo Ontológico e a (In)Dependência das Entidades Científicas
Ontological Realism and the (In)Dependence of Scientific Entities
Marcos Rodrigues da Silva
UEL – Universidade Estadual de Londrina
Gabriel Chiarotti Sardi
USP – Universidade de São Paulo
Recebido: 18/01/2025
Received: 18/01/2025
Aprovado:06/03/2025
Approved: 06/03/2025
Publicado: 25/03/2025
Published: 25/03/2025
Resumo
O realismo ontológico defende que as entidades científicas são independentes das práticas científicas. Este artigo apresenta a importância do realismo ontológico para a compreensão da crença na existência das entidades científicas. Em seguida discute outra concepção: a dependência das entidades científicas à prática científica. Por fim argumenta-se que as duas teses não são excludentes.
Palavras-chave: realismo ontológico; entidades científicas; prática científica.
Abstract
Ontological realism argues that scientific entities are independent of scientific practices. This paper introduces the significance of ontological realism for understanding the belief in the existence of scientific entities. It then discusses another concept: the dependence of scientific entities over scientific practice. Finally, it is argued that the two theses are not excluding between themselves.
Keywords: ontological realism; scientific entities; scientific practice.
Introdução
Caracterizado amplamente, o realismo científico é a doutrina de que as teorias científicas se referem sempre a objetos reais e, ao se referirem a esses objetos, produzem conhecimento sobre o mundo (Psillos, 1999, p. 3).
Por se tratar de uma doutrina complexa, essa caracterização evidentemente não cobre toda a variedade das definições de realismo científico. Há várias formas de se caracterizar o realismo científico, mas normalmente são apresentadas as seguintes dimensões: i) realismo ontológico: as entidades científicas são independentes das teorias nas quais essas entidades se localizam; ii) realismo epistemológico: há boas razões para se crer na verdade de uma teoria bem sucedida; iii) realismo semântico: as sentenças que compõem uma teoria devem ser consideradas ou verdadeiras ou falsas; iv) realismo explicativista: ainda que a verdade ocupe um papel de destaque na avaliação das teorias científicas, a virtude principal, para um realista, é a capacidade explicativa de uma teoria.[1]
A despeito do fato de que essas quatro dimensões são, conceitualmente falando, distintas, elas podem se relacionar entre si; e, de fato, isso normalmente ocorre. A distinção cumpre, portanto, na maioria dos casos, meramente um papel organizador da discussão – uma vez que, à medida que a própria discussão avança, é difícil (ainda que não impossível), para um debatedor, se concentrar em apenas uma das dimensões do realismo.
Este artigo trata do realismo ontológico[2], o qual, como já vimos, defende que as entidades científicas são independentes das teorias nas quais as entidades se localizam.
A tese da independência das entidades científicas em relação ao conhecimento que delas possuímos significa que nosso conhecimento não é uma propriedade destas entidades. Além disso, a realidade de tais entidades se afirma exatamente em função de tal independência; pois, se as entidades fossem dependentes de nosso conhecimento, isso significaria, para o realista, subtrair ou acrescentar algo às entidades que não faria parte das próprias entidades.
Uma das virtudes da argumentação do realismo ontológico é a imagem de ciência que deflui da tese da independência das entidades científicas em relação ao conhecimento que delas possuímos: as verdades da ciência são descobertas em função da metodologia científica; a ciência trata do mundo real e de modo confiável. Há, porém, uma outra imagem de ciência, decorrente de uma outra tese: a ciência trata do mundo real e de modo confiável, mas isto ocorre em função da intervenção da prática científica, por meio de instrumentos, materiais e métodos.
Aparentemente, então, estamos diante de um debate: ou as entidades são independentes ou dependem da prática científica. O objetivo deste artigo é o de mostrar que os objetivos filosóficos do realismo ontológico e dos defensores da ideia de que as entidades emergem por meio da prática científica são completamente diferentes e, portanto, não haveria, a rigor, um debate filosófico a respeito do tema; ao invés, haveria uma certa complementaridade entre as duas teses e as duas imagens de ciência.
A primeira seção deste artigo apresenta a tese da independência das entidades científicas em relação ao conhecimento que delas possuímos. A segunda seção trata da emergência das entidades no interior das práticas científicas. A conclusão mostra que as duas teses não são excludentes.
1. Uma apresentação do Realismo Ontológico
Conforme estabelecido na introdução, trabalharemos aqui com a concepção realista da independência das entidades científicas em relação ao nosso conhecimento de tais entidades. Sendo assim, o realismo aqui abordado é o realismo ontológico, e não o realismo epistemológico, semântico ou explicativista.
Uma excelente caracterização da dimensão ontológica do realismo se encontra em Realism and Truth, de Michael Devitt: uma entidade científica não é “constituída por nosso conhecimento, por nossos valores epistêmicos, por nossa capacidade de se referir [a uma entidade], pelo poder sintetizador da mente, por nossa imposição de conceitos, teorias ou linguagem” (Devitt, 1997, p. 15). Assim, uma entidade científica existe de modo independente de recursos científicos e mentais.
A dimensão ontológica do realismo científico, aos moldes de Devitt, é altamente plausível. Ela é, em primeiro lugar, natural. Um cientista, ao lidar com entidades em sua atividade científica, não as considera como constituídas por nada da lista acima de Devitt – ele as emprega como fazendo parte do mundo real, sem nenhuma problematização quanto à sua existência[3] (Franklin, 1996, p. 132).
Em segundo lugar, ela é mais razoável do que uma posição contrária (que não será defendida neste artigo), que pode ser assim apresentada: as entidades só existem devido ao nosso conhecimento, valores etc. Não é sensato sustentar que uma entidade só existe em função de conhecimentos e valores; pois, por exemplo, se é verdade que os valores da sociedade vitoriana da época de Charles Darwin não ofereciam obstáculos para uma compreensão da realidade em termos de um conceito (darwinista) como o de “luta pela sobrevivência” (Lewens, 2005, p. 568), também é verdade que o conceito de fato denota um processo[4] real: a disputa entre organismos pelos mesmos recursos naturais; inversamente, o fato de que o contexto das pesquisas sobre hereditariedade da época de Darwin o autorizava a defender a existência de entidades como “gêmulas” (Bowler, 1989) não legitimou a existência de tal entidade.
A despeito de tais virtudes o realismo ontológico pode passar a impressão de possuir uma relação fraca com o conhecimento científico, pois sua sustentação filosófica se daria a partir da tese de que objetos possuem como propriedades apenas aquilo que podemos observar; assim, considerando o funcionamento de nossa percepção sensorial, seria tentador confundir o realismo ontológico aqui apresentado com o realismo representativo defendido por John Locke[5]. Mas isto não é o caso. O realismo ontológico fornece um ponto de partida conceitual particularmente interessante para a noção de causalidade nas ciências naturais. Aceitando-se que um fenômeno possui uma causa, e que, se extraída a causa, não ocorre o efeito, pode-se afirmar que a causa existe (independente de nosso conhecimento). Uma concepção próxima a esta pode ser localizada em How the Laws of Physics Lie, de Nancy Cartwright e em Representing and Intervening, de Ian Hacking. Para Cartwright, as leis científicas acomodam os fenômenos de um modo organizado em um esquema explicativo (Cartwright, 1983, pp. 76-77), mas apenas as causas são reais[6] – e as causas são, exatamente, as entidades científicas (Cartwright, 1983, pp. 76-77). Já para Hacking, em uma conhecida passagem, se elétrons possuem efeitos então possuem poderes causais e, portanto, elétrons são reais (Hacking, 1983, p. 24). Assim, o realismo ontológico definitivamente não está comprometido apenas com o que observamos diretamente.
Uma segunda impressão negativa quanto ao realismo ontológico que precisa ser evitada é a de se exagerar a independência das entidades científicas em relação às teorias científicas e à própria atividade científica. Um realista ontológico não seria ingênuo a ponto de acreditar que entidades complexas como gravidade, elétron, gene etc. emergiram de uma inspeção simplificada da natureza. A intervenção humana se fez totalmente necessária: a afirmação quanto à realidade de elétrons dependeu efetivamente de um envolvimento teórico profundo (instrumentação, teorização etc.) (Psillos, 1999, p. 256). O que o realista ontológico defende é que o aparato teórico revelou uma realidade pressuposta por um investigador (Hacking, 1983, p. 265; Devitt, 1997, pp. 108-109; p. 143). Sendo assim, elétrons postulados (e posteriormente, para a ciência, reais) precedem ontologicamente a teorização sobre elétrons reais.
Apresentadas estas considerações, a estrutura argumentativa do realismo ontológico parece clara: i) existe uma realidade independente da mente; ii) no interior dessa ampla realidade postula-se que existem entidades específicas como elétrons; iii) seguindo a metodologia científica elétrons se revelam reais. Note-se que os passos (i-iii) não tornam os elétrons dependentes de teorias no sentido de sua existência, mas apenas dependentes em relação ao conhecimento que deles possuímos (realismo epistemológico), às sentenças que empregarão o termo “elétron” (realismo semântico) e às explicações fornecidas por teorias que empregam elétrons (realismo explicativista).
Porém poderia ser objetado, aqui, que a pesquisa científica, por assim dizer, é que possibilitou que os elétrons adentrassem ao mundo científico; ou seja: sem a intervenção científica não estaríamos falando de elétrons. Elétrons, portanto, não seriam entidades independentes de nosso conhecimento (e de nossa intervenção). Três respostas podem ser oferecidas a essa objeção: i) uma resposta pragmática; ii) uma resposta a partir de uma concepção filosófica realista do que significa a atividade científica; iii) uma resposta a partir da própria atividade científica.
A resposta filosófica seria a de que a pressuposição da existência de elétrons se revelou mais eficaz do que a pressuposição contrária (sua não existência)[7]. Essa resposta se aproxima das réplicas a argumentos céticos tradicionais, como o de que nossa experiência sensorial seria apenas uma ilusão; em síntese, as réplicas devolvem ao cético as objeções, argumentando que, por exemplo, acreditar na existência de um mundo não ilusório é mais razoável do que acreditar que nossa experiência sensorial é uma ilusão.
A resposta a partir de uma concepção filosófica realista a respeito do que significa a atividade científica pode ser encontrada em filósofos realistas que defendem a importância do conhecimento anterior já consolidado na literatura. Uma entidade científica não é postulada em um vácuo cognitivo – de algum modo, ela está inserida em um quadro cognitivo já vigente, e, portanto, ela se relaciona com algum conhecimento anterior confiável (Lipton, 2010, p. 322; Bird, 1999, p. 34; Bird, 2014, p. 378; Boyd, 1985, pp. 06-07; Psillos, 2000, p. 47). Sendo assim, não é por mero capricho que se postulou, por exemplo, a existência de elétrons; em algum sentido os elétrons postulados eram, à luz do conhecimento consolidado, razoáveis e plausíveis (e, posteriormente, foram incorporados ao patrimônio cognitivo da ciência).
A resposta a partir da atividade científica necessita ser ilustrada por um exemplo da história da ciência. Não é uma tarefa fácil enxergar, na natureza, uma luta pela sobrevivência no sentido darwinista; contudo, uma vez que se admite a escassez de recursos naturais como um fato (Darwin, 1859, p. 62), e que se admite também como um fato que a reprodução de organismos pode ocorrer a uma taxa que torne a convivência natural desagradável (ou quase impossível) (Darwin, 1859, p. 63), não é nada implausível supor a existência de uma luta pela sobrevivência.
Resta, no entanto, mencionar, ainda que de modo breve, ao menos mais uma objeção ao realismo ontológico. Realistas ontológicos defendem a existência de um mundo independente da mente tanto no nível observável (objetos cotidianos, ou facilmente detectáveis por meio de instrumentos científicos) quanto no nível inobservável (uma entidade inobservável tal como elétron[8]). Filósofos empiristas costumam desafiar o realismo ontológico afirmando que a tese da independência das entidades valeria apenas para entidades observáveis, mas não para inobserváveis. Isto, porém, tem sido constantemente rebatido por filósofos realistas (e não apenas por realistas ontológicos), mostrando que a diferença entre observáveis e inobserváveis é apenas uma diferença de grau (Devitt, 1997, p. 142; Psillos, 1999, p. 195). Se uma pessoa enxerga que um copo está caindo da mesa, e se um cientista “enxerga” elétrons, ambos estão organizando seu quadro mental das experiências que os tocam. Não haveria, segundo os realistas, uma linha divisória entre os dois processos perceptivos.
Mas poderíamos insistir: por que incorporar entidades inobserváveis ao patrimônio da ciência? Uma primeira e relativamente trivial resposta é a de que, sem tais entidades, o conhecimento científico não teria o alcance que possui. Uma segunda razão é a de que elas tornam a experiência mais inteligível (Psillos, 1999, pp. 19-20). Em terceiro lugar, entidades inobserváveis fornecem razões para a crença na verdade das explicações científicas (Psillos, 1999, p. 28)[9]. Deste modo percebemos a relevância do apelo a entidades inobserváveis por parte dos realistas ontológicos. E, sendo assim tão relevantes, começamos também a adentar um outro ponto fundamental do argumento realista: pois, assim como a postulação de entidades observáveis nos auxilia a organizar a experimentação e a formular explicações científicas, isto também ocorre com a postulação de entidades inobserváveis. Assim, não haveria razões para a existência de uma fronteira entre entidades observáveis e entidades inobserváveis.
Além disso, uma das grandes conquistas dos cientistas (e por conseguinte da própria ciência) se dá exatamente quando uma nova entidade é apresentada; afinal de contas, o, digamos, “portfólio” da ciência são seus produtos: gravidade, dupla hélice do DNA, elétrons, Bóson de Higgs etc. E tais entidades – direta ou indiretamente confirmadas – tanto fazem parte da vida científica cotidiana (Franklin, 1996, p. 132) quanto são efetivamente reais. O realismo ontológico, portanto, capta uma importante dimensão da ciência.
Estamos, até aqui, tentando manter o realismo ontológico imune à ideia de que a existência de entidades se deve à intervenção (mental, científica). Mais do que isso: estamos operando na plataforma lógico-conceitual disjuntiva oferecida pelo realista ontológico: ou existe intervenção ou não existe intervenção. Evidentemente, como vimos, o realista ontológico acredita que a existência não se deve a nenhuma intervenção – e que a intervenção, na verdade, tem apenas o papel de confirmar a existência. Deste modo, em linhas gerais, o esquema conceitual do realismo ontológico pode ser assim resumido: existência sem intervenção (ou existência independente). E disto decorre uma imagem de ciência: a ciência trata do mundo real e de modo confiável. Isto fica claro nas citações abaixo.
Teorias científicas postulam diversas (...) entidades e empregam termos teóricos – por exemplo, ‘elétron’, ‘próton’, ‘campo eletromagnético’, ‘moléculas de DNA’, etc. Como este discurso teórico deve ser compreendido? (...) A tradição realista (...) tem por objetivo mostrar que uma explicação completa e aprofundada do discurso teórico em ciência exige o comprometimento com a existência [destas] (...) entidades (Psillos, 1999, p. 03).
A Terra dos antigos é a Terra na qual nós vivemos (Devitt, 1997, p. 160).
Talvez a maioria dos postulados introduzidos por nossos antepassados são entidades que não aprovamos mais, mas, com o passar do tempo, descobrimos que cada vez mais os postulados das ciências teóricas perduram dentro da ciência contemporânea (Kitcher, 1993, p. 136).
As três citações possuem o mesmo foco: as entidades científicas. Possuem ainda o mesmo objetivo: elas têm de existir. Por fim: essas entidades existem de modo independente de nosso conhecimento, de nossa teorização.
Das três citações, a última (de Kitcher) é a que mais interessa a este artigo. É um fato histórico (obviamente admitido pelos realistas, como a própria citação de Kitcher revela) que certas supostas entidades não são mais aceitas, como os clássicos exemplos do flogisto (do paradigma do flogisto) e das gêmulas (da teoria da hereditariedade de Charles Darwin) revelam. Isso não é um problema para os realistas: nosso mundo cognitivo se alterou e revelou a inexistência do flogisto e das gêmulas; o mundo real, no entanto, é o mesmo. Os cientistas estavam errados – mas a realidade continua a ser o que sempre foi. Ou, como afirma Devitt: “Meramente afirmar que ‘entidades existem’ não nos compromete ontologicamente com entidades. O comprometimento depende das condições de verdade dos enunciados que nós aceitamos” (Devitt, 1997, p. 50). E, como sabemos, não temos mais este comprometimento com flogisto e gêmulas. Prossegue Devitt (1997, p. 160): “a possui referência apenas se as descrições normalmente associadas com a se aplicam a um e apenas um objeto. Se as descrições não se aplicam, então a não possui referência (...) e o objeto referido por a não existe”.
Em outros termos: nossa epistemologia pode estar desorientada, mas nossa ontologia aponta o caminho correto de nossas representações da realidade.
Seja do ponto de vista filosófico, seja do ponto de vista histórico, não há o que se reparar nesta ideia. Afetados por bactérias reais, defendemo-nos com antibióticos que contêm propriedades químicas reais e, em caso de sucesso no tratamento, realmente nos curamos. Assim, há regularidades que realmente acontecem e nas quais realmente acreditamos. Aliás, de acordo com Devitt, esta imagem chega a ser “trivial” (Devitt, 1997, p. 114). E, a quem questiona (ou desqualifica) a trivialidade deixamos a pergunta: nossa cultura teria o ordenamento científico (com todas as suas consequências para os seres humanos) que tem sem um senso robusto de realidade e, portanto, de realismo? Desejamos uma ciência que diga “uma bactéria é um organismo unicelular” ou uma que diga “já definimos há dezenas de anos que bactérias são seres unicelulares, mas, como não temos certeza absoluta acerca disso, não somos capazes de sugerir que sejam produzidos fármacos baseados nesta definição de bactéria”?
À exceção de desafios céticos, não acreditamos que o que foi exposto até aqui neste texto possa (ou mesmo deva) ser questionado. Mas não acreditamos, igualmente, que uma outra concepção não possa ser apresentada.
2. Entidades científicas no interior de práticas científicas
A imagem realista apresentada na seção anterior está circunscrita a situações nas quais a ordem científica já se encontra estabelecida, seja pela aceitação de entidades reais atuais, seja pela rejeição de sistemas conceituais (com suas entidades correspondentes) já abandonados; ou seja: o realismo ontológico (e o realismo em geral) se direciona aos produtos científicos. O realismo ontológico se aparta da discussão acerca da produção do conhecimento científico, e aqui a já mencionada trivialidade (no seu sentido benigno) do realismo ontológico mencionada no final da última seção do capítulo anterior desaparece, uma vez que adentramos aquilo que é chamado de “prática científica”.
Quando um cientista se depara com um fenômeno que precisa ser explicado – explicação esta que revelará conhecimento sobre uma parte do mundo natural – ele precisa dominar as práticas adequadas para lidar com este fenômeno: uma metodologia plausível, uma instrumentação precisa, uma linguagem padronizada etc. Assim, entre o cientista e o conhecimento almejado existe uma prática que precisa ser dominada para que o próprio conhecimento possa emergir. Tais práticas, por sua vez, são padronizadas dentro de comunidades específicas institucionalmente estabelecidas e orientam os cientistas dessas comunidades na produção de seu conhecimento. Em suma há um “jeito certo” (contextualmente caracterizado é claro) de se praticar ciência: não é possível praticar ciência sem o telescópio, o microscópio, o sintetizador de DNA etc.
É tentador, aqui, identificar a noção de prática com algo como “condição de possibilidade da produção do conhecimento científico”: se não há microscópio então não há identificação do cromossomo etc. Assim, nesta visão, a prática científica é uma condição para a emergência do conhecimento – mas uma parte separada do conhecimento em si[10].
O problema com esta concepção não é tanto o da desvalorização da prática científica; há um problema ainda mais profundo com esta visão e que surge se é aceita a ideia de que o conhecimento emerge junto da prática (Latour e Woolgar, 1997, p. 61): “os fenômenos dependem do material, eles são totalmente constituídos pelos instrumentos utilizados no laboratório”.
Ao avaliar uma novidade cognitiva, os cientistas precisam também saber como a novidade emergiu, pois só assim estarão em posição de avaliar tal novidade e poder repetir os procedimentos usados pelo proponente da novidade a fim de checarem se a novidade de fato revela conhecimento genuíno.
A prática científica estabiliza a comunicação no interior das comunidades científicas; evidentemente os cientistas discordam entre si, mas tal discordância ocorre em uma plataforma comum; seria como alguém dizer que 2+2=5 e ouvir que está errado pois afinal de contas 2+2=4. Como, porém, discordar de alguém que diz que 2+2=verde? O erro categorial em 2+2=verde impede qualquer recurso à axiomática da matemática, teoria da indução matemática etc. É a prática científica a responsável por dar as regras para um campo científico e impedir uma locução como 2+2=verde.
Retomando o tema do realismo ontológico, uma das formas pelas quais a prática científica consolida uma entidade se dá por meio da replicação: após a descoberta de uma entidade um cientista descreve a situação experimental que o conduziu à entidade: seus métodos, instrumentos e materiais. Quanto mais vezes e em mais lugares a situação experimental original for replicada, e obter o mesmo resultado original, mais consolidada estará a entidade. O problema, argumenta Harry Collins em seu Changing Order, é que a replicação nem sempre é algo tão desejável para quem replica – apesar, é claro, de ser desejável para o cientista pioneiro. De acordo com Collins, a comunidade científica valoriza mais o pioneiro do que quem confirma que o pioneiro está certo (Collins, 1985, p. 19), de modo que a replicação é mais um “axioma do que uma questão prática” (Collins, 1985, p. 19).
Porém, prossegue Collins, se trata de um axioma decisivo para a ciência: a replicação é fundamental; e, argumenta o autor, o axioma funciona mais como uma declaração de que algo é replicável do que como declarando que algo será realmente replicado; ou seja: quem afirma que uma nova entidade emergiu devido aos métodos, instrumentos e materiais mencionados está dizendo o seguinte: “replique usando os mesmos métodos, instrumentos e materiais e você obterá os mesmos resultados”[11]. Esta declaração, de acordo com Collins, é o início do acordo comunitário quanto à existência da entidade (Collins, 1985, pp. 19-120). É possível que não haja replicação; mas a declaração do pioneiro a respeito da abertura para a replicação é fundamental.
E é claro que tal declaração não se faz do modo apresentada acima (“replique usando os mesmos métodos, instrumentos e materiais e você obterá os mesmos resultados”). A “declaração” estará contida no artigo exatamente por meio da clareza literária quanto aos métodos, instrumentos e materiais[12]).
Ocorre que obter a mesma entidade usando exatamente os mesmos métodos, instrumentos e materiais não aumentará o poder de confirmação da existência da entidade. Mudanças gradativas – mas que alcancem o máximo possível de variações dos métodos, instrumentos e materiais, e que ainda assim obtenham exatamente a mesma entidade – é que farão crescer a confirmação de que a entidade realmente existe (Collins, 1985, p. 34). E, prossegue Collins: se ao final de várias rodadas com o máximo possível das variações mencionadas um cientista que inicialmente não acreditava na entidade se convença de que estava errado, então a afirmação ontológica do pioneiro estará ainda mais confirmada (Collins, 1985, p. 34).
Até aqui este esquema não tem, a rigor, nada de novo; de fato remete inclusive às velhas prescrições metametodológicas de Francis Bacon (experimentação, repetição, variação das condições experimentais). Mas Collins vai um pouco além e vale a pena, no contexto da discussão deste artigo, acompanharmos o autor (porém com outros aportes conceituais de outros autores), uma vez que ele trata das complexidades do esquema de replicação.
Um destes problemas é o problema da seleção daquilo que é relevante para o desenvolvimento das pesquisas. Este é um problema por si só, uma vez que a ciência possui recursos limitados e nem tudo pode ser objeto de investigação. Como então decidir o que merece escrutínio? A filosofia da ciência oferece várias abordagens para compreender de que modo ocorre a seleção: i) paradigmas: os paradigmas determinam o que pode ser investigado (Kuhn, 1996); ii) concessão de financiamento: pesquisas que não se enquadram no que é de interesse de agências de fomento tendem a ser deixadas de lado (Stanford, 2015); iii) institucionalização de disciplinas científicas: as disciplinas científicas determinam a relevância das pesquisas e com isso excluem linhas investigativas que não promovem o desenvolvimento das próprias disciplinas (Lenoir, 2003); iv) laboratórios: eles definem a atividade cultural da ciência; é no interior de laboratórios que se gera conhecimento por meio da produção de objetos científicos (Knorr-Cetina, 1992). Vejamos, a título de exemplo, o caso dos laboratórios.
De acordo com Karen Knorr-Cetina, é no laboratório que ocorre a produção de objetos científicos, o que por sua vez se dá através da disseminação de produtos literários (artigos científicos) e das alianças políticas que os cientistas fazem para que seus interesses científicos sejam atendidos (Knorr-Cetina, 1992, p. 115). É também no laboratório que ocorrem processos de validação do conhecimento, validação esta entendida como um processo decisório e comunitário e que se dá no decorrer de uma produção científica (e não no final de uma produção) (Knorr-Cetina, 1981, p. 8). Em síntese, o laboratório é dinâmico em relação à produção de conhecimento. Assim, não se trata simplesmente de se postular uma entidade, mas de postular uma entidade em função de certas circunstâncias.
Com isso, a realidade das entidades parece estar envolta em circunstâncias mais complexas do que o esquema realista “proposição/aceitação (ou rejeição) da entidade”. E é aqui também que começamos a perceber o significado do termo “interesse” quando aplicado à pesquisa científica e quando inserido no interior de práticas científicas. Em geral o termo é entendido de modo pejorativo – como se significasse um obstáculo à pesquisa (ainda que por vezes isso possa acontecer). Mas este uso não corresponde à prática científica.
Os interesses científicos estão envolvidos em situações muito mais amplas do que a mera detecção de entidades. Quando do recebimento do Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina em 1934, Thomas Hunt Morgan tratou o gene não apenas como uma entidade real, mas também em função de suas aplicações a problemas práticos (medicina, alegações de paternidade e agricultura) (Morgan, 1934, pp. 327-328). Para Collins (que não tratou deste exemplo, mas de outros similares), quanto mais “externo” for um documento científico, maior será o interesse de outros cientistas que estão no campo disciplinar (Collins, 1985, p. 137). Além disso – e isto não se chocaria com o realismo ontológico – maior será a confirmação da existência da entidade postulada.
Vejamos um breve exemplo. Ondas gravitacionais (OG) foram previstas pela Teoria da Relatividade de Einstein em 1916 (Collins, 1981, p. 35). Em linguagem leiga, OG são ondulações resultantes de colisões celestes e que interferem no espaço-tempo; estas ondas, é claro, atingem a Terra, mas até pouco tempo atrás a instrumentação era insuficiente para sua a detecção. Isto começou a se alterar na década de 1970, quando vários grupos de pesquisa começaram a construir detectores de OG. Um destes grupos era coordenado pelo físico Joseph Weber, na Universidade de Maryland.
Os sinais de OG são fracos na Terra, mas Weber alegou ter detectado sinais de OG. O problema é que as evidências produzidas por Weber não permitiam distinguir entre OG e “vibrações (...) produzidas por outras forças” (Collins e Pinch, 2000, p. 133); de fato, o que o equipamento de Weber conseguia detectar eram apenas vibrações (e, portanto, não necessariamente uma OG). Diante disso, a comunidade científica não aceitou seus resultados alegando, entre outras coisas, que os dados não seriam compatíveis com o conhecimento consolidado pela cosmologia (Collins, 1981, p. 36), e assim não constituiriam uma evidência forte de uma OG atravessando nosso planeta. Assim, Weber não conseguiu estabelecer a existência de OG.
Mas, em parte devido aos esforços pioneiros de Weber, a pesquisa prosseguiu (Collins e Pinch, 2004, p. 135; Collins, 1981, p. 37); e assim outros laboratórios começaram a desenvolver antenas detectoras mais sofisticadas do que as de Weber (Weiss, 2017, p. 74). Um grande acontecimento destes desenvolvimentos foi a fundação, no Caltech (Califórnia), em 1992, de um laboratório dedicado unicamente à detecção de OG, o LIGO: Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory. Assim percebemos que, iniciando com os trabalhos de Weber e passando pelos desenvolvimentos científicos posteriores, a pesquisa, no interior de LIGO, se institucionaliza fortemente. Como não estamos aqui interessados na história como um todo, cabe apenas concluir este segmento histórico: em 2016 as pesquisas de LIGO finalmente confirmam a existência da entidade OG e os cientistas Kip Thorne, Rainer Weiss e Barry Barish dividem o Prêmio Nobel de Física em 2017.
O ponto que aqui nos interessa é que a história de OG não desqualifica os esforços de Weber, em que pese ele não poder ter detectado OG. É importante ressaltar a confiabilidade dos métodos de Weber, os quais jamais foram abandonados, senão que sofisticados a ponto de outros cientistas posteriormente conseguirem de fato detectar OG. Evidentemente o que conta, no final da estória, é a OG propriamente dita: OG existe ou não existe, atravessa a Terra ou não atravessa etc. Mas, a confiabilidade da metodologia geral de Weber foi fundamental para o final da estória, uma vez que LIGO decorre, em parte, dos trabalhos de Weber.
O que é interessante é que uma outra estória também seria possível. Por que os cientistas não aceitaram a afirmação ontológica (falsa) de Weber de que havia OG e, posteriormente, tentaram, por assim dizer, “refinar” a entidade? Em outros termos: por que não aceitar a entidade inobservável OG na versão de Weber e, como já dissemos, trabalhar a entidade de modo a que ela se manifestasse com maior poder ontológico?
Isto não ocorreu pois, na ciência, se a detecção de entidades é fundamental, métodos e instrumentações cada vez mais confiáveis são igualmente importantes. Assim, crenças científicas não são consideradas verdadeiras apenas devido à evidência, mas também à confiabilidade dos processos que conduzem a crenças (Lewens, 2005, p. 567; Goldman, 1992, p. 434; Moser, Mulder e Trout, 1998, pp. 89-90)[13].
Aplicada a Weber, essa tese filosófica produz o seguinte resultado histórico: Weber detecta “algo”, mas seus instrumentos e métodos não conseguem estabelecer se este “algo” é aquilo que se desejava detectar. Não se trata, portanto, de uma questão ontológica; ou, caso se trate, se trata também de uma questão relacionada à prática científica.
Conclusão
Como já argumentou Bruno Latour, produtos científicos consolidados resultantes de disputas e controvérsias não merecem contestação quanto à sua legitimidade; logo, entidades científicas consolidadas também não merecem contestação. Nas palavras de Latour: “Se não houver mais discordância entre os cientistas quanto à situação dos fatos, será inútil continuar falando em interpretação, representação, visão preconcebida ou distorcida do mundo (...). A natureza fala claro, fatos são fatos. Ponto final” (Latour, 2000, p. 166).
Ou seja: as ondas gravitacionais não existiam cientificamente enquanto Weber conduzia a pesquisa, mas passaram a existir cientificamente com as pesquisas realizadas no interior de LIGO etc. Porém perceba-se: estamos falando de processos concluídos. Mas, inversamente, enquanto as controvérsias das ondas gravitacionais não tenham sido encerradas, ainda não se pode falar que ondas gravitacionais existem. É neste sentido que já foi dito, neste artigo, que a imagem realista de ciência está circunscrita a situações nas quais a ordem científica já se encontra estabelecida.
O realismo ontológico é uma notável contribuição para a compreensão filosófica da ciência. O que pretendemos apontar foi que esta escola deixa de lado aspectos que são igualmente relevantes. A menção a tais aspectos, no entanto, não necessariamente significa abrir uma controvérsia com o realismo ontológico. Aparentemente, as duas concepções aqui apresentadas não rivalizam entre si, visto tratarem de aspectos diferentes da ciência.
Assim, há uma perspectiva que concorda com o pressuposto do realismo ontológico de que as entidades são independentes. Porém, nossos meios de acessar e confirmar a existência de tais entidades precisam ser criados para que a entidade exista cientificamente – e isto não é o mesmo que dizer que as entidades são criadas.
Referências bibliográficas
BAIRD, D. Thing Knowledge. Berkeley: University of California Press, 2004.
BIRD. A. Inferência da Única Explicação. Tradução de Marcos Rodrigues da Silva. In Cognitio, v. 15, n. 2, pp. 375-384, 2014.
BIRD. A. Scientific Revolutions and Inference to the Best Explanation. In Danish Yearbook of Philosophy, v. 34, n. 1, pp. 25-42, 1999.
BOWLER, P. The Mendelian Revolution. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1989.
BOYD, R. Lex Orandi est Lex Credendi. In Images of Science (ed. Churchland, P. & Hooker, C.). Chicago: Chicago Press, 1985.
CARTWRIGHT, N. How the laws of physics lie. Oxford: Clarendon Press, 1983.
COLLINS, H, PINCH, T. O Golem. São Paulo: Unesp, 2004.
COLLINS, H. M. Changing Order. Londres: SAGE Publications, 1985.
COLLINS, H. M. Son of Seven Sexes: The Social Destruction of a Physical Phenomenon. In Social Studies of Science (SAGE Publications), v. 11, pp. 33-62, 1981.
DARWIN, C. On the origin of species. London: John Murray, 1859.
DEVITT, M. Realism and Truth. (2ª ed.) Princeton: Princeton University Press, 1997.
FRANKLIN, A. There are no Antirealists in the Laboratory. In Realism and Anti-Realism in the Philosophy of Science ; Cohen, R.S.; Hilpiner, R.; Renzong, Q. (Org.), pp. 131-148, 1996.
GEISON, G. A ciência particular de Louis Pasteur. Rio de Janeiro: Ed. Fiocruz/Contraponto, 2002.
GOLDMAN, A. Reliabilism. In A Companion to Epistemology (1ª ed.), Dancy, J.; Sosa, E. (orgs.). Oxford: Blackwell Companions to Philosophy, 1992.
HACKING I. Representing and Intervening: Introductory Topics in the Philosophy of Natural Science. Cambridge University Press, 1983.
KITCHER, P. The Advancement of Science. Oxford: Oxford University Press, 1993.
KNORR-CETINA, K. The Couch, the Cathedral, and the Laboratory: On the Relationship between Experiment and Laboratory in Science. In Science as Practice and Culture, Pickering, A. (org), pp. 113-138. Chicago e Londres: The University of Chicago Press, 1992.
KNORR-CETINA, K. The Manufacture of Knowledge. Oxford: Pergamon Press, 1981.
KUHN, T. The Structure of Scientific Revolutions. (3ª ed.). Chicago: The University of Chicago Press, 1996.
LATOUR, B. A Esperança de Pandora. Tradução de Gilson Souza. Bauru: Edusc, 2001.
LATOUR, B. Ciência em ação. Tradução de Ivone C. Benedetti. São Paulo: UNESP, 2000.
LATOUR, B.; WOOLGAR, S. A vida de laboratório: a produção dos fatos científicos. Tradução de Angela R. Vianna. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 1997.
LENOIR, T. Instituindo a Ciência: a produção cultural das disciplinas científicas. Tradução de Alessandro Zir. São Leopoldo: Unisinos, 2003.
LEWENS, T. Realism and the Strong Program. In British Journal for the Philosophy of Science, 56, 2005.
LIPTON, P. O melhor é bom o suficiente? Tradução de Marcos Rodrigues da Silva e Alexandre Meyer Luz. In Princípios, 17, 27, pp. 313-329, 2010.
MANDELBAUM, M. Philosophy, science and sense perception. Baltimore: Johns Hopkins Press, 1964.
MORGAN. T. H. The relation of genetics to physiology and medicine. In Nobel Prize Lecture, 1934.
MOSER, P. K.; MULDER, D. H.; TROUT, J. D. The Theory of Knowledge A Thematic Introduction. New York: Oxford University Press, 1998.
PSILLOS, S. Scientific Realism: how science tracks truth. London: Routledge, 1999.
PSILLOS, S. Sobre a crítica de van Fraassen ao raciocínio abdutivo. Tradução de Marcos Rodrigues da Silva. In Crítica, Londrina, v. 6, n. 21, pp. 35-62, 2000.
ROUSE, J. Kuhn’s Philosophy of Scientific Practice. In Thomas Kuhn, Nickles, T. (org.), pp. 101-121. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.
STANFORD, K. Unconceived Alternatives and Conservatism in Science: the impact of professionalization, peer-review, and Big-Science. In Synthese, v. 196, n. 10, pp. 3915–3932, 2015.
Marcos Rodrigues da Silva
Doutor em Filosofia pela Universidade de São Paulo (USP). Professor no Departamento de Filosofia da Universidade Estadual de Londrina (UEL).
Gabriel Chiarotti Sardi
Doutorando em Filosofia pela Universidade de São Paulo (USP). Pesquisador visitante na Universidad de Buenos Aires (UBA). Bolsista CAPES.
Os textos deste artigo foram revisados por terceiros e submetidos para validação do(s) autor(es) antes da publicação