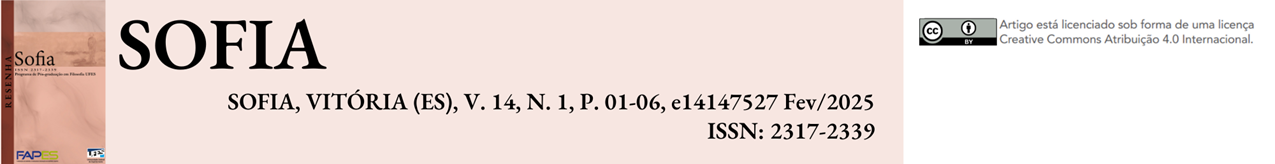
Resenha
Book Review
BENTO SILVA SANTOS. A Fenomenologia hermenêutica da vida fática de Martin Heidegger (1919-1923). São Paulo: LiberArs, 2023, 558p. ISBN: 978-65-5953-131-8.
Roberto Wu
UFSC – Universidade Federal de Santa Catarina
Recebido: 28/11/2024
Received: 28/11/2024
Aprovado:03/12/2024
Approved: 03/12/2024
Publicado: 01/02/2025
Published: 01/02/2025
Fruto de mais de dez anos de pesquisa, A Fenomenologia hermenêutica da vida fática de Martin Heidegger (1919-1923) de Bento Silva Santos, consiste em um livro lançado no Brasil (quiçá o primeiro) inteiramente dedicado às preleções de Martin Heidegger, durante a sua primeira fase de docência na Universidade de Freiburg. No período entre 1919 e 1923, Heidegger escreveu onze preleções que expõem gradativamente o conceito de vida fáctica, noção que antecipa, em certo sentido aquilo que viria a se consolidar em Ser e tempo como Dasein, ser-aí.
O livro se divide em duas partes, uma preparatória e outra efetivamente analítica das obras heideggerianas do recorte temporal proposto. Uma preocupação que permeia o livro é a introdução de um contexto histórico-filosófico para a discussão das obras, o que contribui sobremaneira para o entendimento do leitor de preleções com temáticas e autores tão heterogêneos.
A Parte I busca apresentar as pressuposições do período formativo de Heidegger (1903-1918), com um capítulo dedicado a apresentar a sua formação cultural, no qual se ressalta a importância do cristianismo e de Brentano, e outro para discutir os escritos do filósofo alemão dessa fase. Em relação a esse segundo capítulo, há que se ressaltar a relevância da análise de textos que raramente são estudados no Brasil. Em especial, sua discussão sobre a tese de habilitação de Heidegger sobre Duns Scotus revela-se de grande relevância para a compreensão do estágio filosófico de Heidegger na conclusão de seu período formativo.
A Parte II inicia no ponto em que se encerra a Parte I, já que o autor assinala a conexão da conclusão da tese de habilitação, em que utiliza a expressão “espírito vivo”, com as preocupações de seu período subsequente, em que tal noção será substituída pela ideia de “vida fáctica”. A Parte II se organiza tematicamente em nove capítulos, nos quais investiga profundamente as preleções propriamente ditas.
O capítulo I examina a tarefa de estabelecer as bases para uma fenomenologia no sentido de ser uma “ciência pré-teorética”, ela mesma concebida como “ciência originária”. Conforme Santos, “a ideia de ciência nos cursos de juventude de Heidegger não é a ciência como relação formal com certo objeto ou de procedimentos formais, mas como atitude existencial” (p. 168). Tal ciência originária haveria de se distinguir de uma simples visão de mundo, na medida em que esta última postura busca uma tranquilização da “inquietude do pensamento” (p. 170), enquanto que a ciência originária, que ele pretende edificar, busca a experiência do pensamento, que deve ser conquistada em meio à atribulação característica das experiências pré-teoréticas. De particular interesse é o recenseamento das vertentes do neokantismo com as quais Heidegger polemiza nesse escrito: a escola de Baden (Windelband, Rickert, Lask) e a de Marburg (Natorp). É nesse contexto que Heidegger apresenta um uso filosófico para alguns de seus conceitos principais: a conversão do mundo de substantivo para verbo – o mundo munda (es weltet), as direções de sentido da indicação formal (referência, realização, conteúdo), significatividade, acontecimento (Ereignis), ruinância, decaída (Verfallenheit) e intuição hermenêutica.
O capítulo seguinte, por sua vez, tem como tema a confrontação de Heidegger com o seu mestre Husserl. O primeiro ponto da crítica consiste na crítica realizada contra Descartes e, implicitamente, sobre Husserl, na medida em que este é tomado por Heidegger como transitando no terreno estabelecido por aquele, mesmo que com reparos críticos. A esse respeito, Santos lista três repercussões dessa postura teorética: a) afastamento do ser, na medida em que o ser do conhecimento não é questionado; b) a ausência de temporalidade; e c) o nivelamento do ser da vida fático-histórica com a objetualidade científica (p. 237). A confrontação com Husserl conclui com uma investigação sobre rupturas e continuidades de seus conceitos basilares (consciência, ser, intencionalidade, redução fenomenológica e intuição categorial) na fenomenologia heideggeriana.
O capítulo III detém-se sobre a importância de Dilthey para o projeto filosófico heideggeriano no recorte temporal do livro. O autor evidencia que Dilthey já estava presente ao final do “Escrito de habilitação” de Heidegger através do conceito de “espírito vivo”, noção de origem hegeliana, que recebe de Dilthey uma formulação decisiva (p. 260). Posteriormente, Santos assinala que Heidegger operaria uma transformação do conceito diltheyniano de “conexão de vida” (Lebenszusammenhang) em seu conceito de “eu-situação” (Situations-Ich) e radicalizaria a noção de facticidade, que o autor rastreia até a “única menção” do termo na obra Introdução às ciências do espírito de Dilthey (p. 277). O projeto de uma filosofia da vida, que almeja a crítica à filosofia tradicional, mas que ainda assim seria devedora de um “comportamento teorético”, seria a limitação que subsistiria tanto ao projeto filosófico de Dilthey, quanto a de Jaspers.
O tema do cristianismo das origens é o foco do capítulo IV, com ênfase particular sobre a discussão que o jovem Heidegger promove sobre a mística medieval. O tema da experiência em Bernardo de Claraval, referindo-se à vivência religiosa autêntica, torna-se o modelo para que Heidegger conceba uma experiência fundamental fenomenológica. Enquanto que em Bernardo de Claraval a vivência religiosa autêntica diz respeito ao esforço de presentificar Jesus, a experiência fundamental regride até o “nascimento pré-teórico dos conceitos” (p. 318).
Se no capítulo anterior, o foco era na mística medieval, no capítulo V o autor analisa o confronto heideggeriano com a filosofia da religião de Ernest Troeltsch. Sob uma perspectiva quádrupla – a da psicologia, da teoria do conhecimento, da filosofia da história e da metafísica – Bento S. Santos procura mostrar que a crítica heideggeriana a esse teórico salienta a incompatibilidade de sua proposta com a de Troeltsch. O pensamento do filósofo da religião estaria, aos olhos de Heidegger, ancorado “em um esquema heterogêneo de inspiração sobretudo kantiana e hegeliana”, ao passo que o projeto de uma hermenêutica da facticidade tomava “o paradigma husserliano para pensar o Cristianismo originário” (p. 345). De forma complementar a essa discussão, Santos expõe brevemente o tema da indicação formal, conceito operativo fundamental do pensamento heideggeriano dessa época que, a nosso ver, mereceria um estudo mais detalhado que certamente contaria com a mesma propriedade que se mostra nos diversos momentos do livro.
O capítulo VI é dedicado à investigação das epístolas de Paulo e a experiência da vida do Cristianismo das origens. Inicia com o tema da modalidade (Wie) da vida autêntica tomando como fio condutor a parousia em Paulo e sua temporalidade correlata. Diferenciando-se da temporalidade objetiva que subsidia o comportamento dos negligentes, parousia exige um “quando” próprio, um tempo que requer que os tessalonicenses permaneçam vigilantes. O “anúncio do anticristo” temporaliza a vida fáctica, implicando a urgência da vida, que exige por sua vez a decisão do cristão na apropriação do agora. Ou, nas palavras de Santos, “o tempo restante tensiona as relações entre os cristãos a partir do fato de que com a parousia a questão do ‘quando’ se transformou na questão do ‘como viver’” (p. 382), cerne da noção da vida fática heideggeriana.
A análise sobre Agostinho empreendida no capítulo VII se centra principalmente na intepretação heideggeriana do Livro X das Confissões, explorando temas como a memória e a procura por Deus. “Deve-se encontrar a Deus, ao mesmo tempo para além da memória e, no entanto, nela e através dela mesma”, afirma Bento S. Santos. Subsequentemente, Santos investiga outro tema agostiniano: a tentatio, estrutura que de modo excelso reaparece em Ser e tempo, sob a forma do decair (Verfallen). Heidegger toma de empréstimo temas agostinianos não apenas para a sua hermenêutica da facticidade, senão que mantém alguns deles na ontologia fundamental. Desse modo, o existencial da curiosidade (Neugier) refere-se à noção agostiniana de concupiscentia oculorum, enquanto a ambivalência (Zwiespältigkeit) pode ser tomada como um predecessor da ambiguidade (Zweideutigkeit). Ambos realizam a dispersão (Zerstreuung) na vida fáctica, característica da tentatio. Ademais, encontramos aí o célebre tema da inquietação ou preocupação (Bekümmerung) como modo fundamental da vida fáctica, explicitando, portanto, o sentido de cura ou cuidado.
O capítulo VIII, dedicado à confrontação heideggeriana com Aristóteles, é o mais extenso dos capítulos e se detém sobre duas preleções: Interpretações fenomenológicas sobre Aristóteles. Introdução à pesquisa fenomenológica (1921/22) e Interpretações fenomenológicas sobre Aristóteles. Indicação da situação hermenêutica (Relatório Natorp) (1922). O estudo de Santos é bastante detalhado, apontando além de questões contextuais, alguns dos principais conceitos cunhados no âmbito dessas preleções: inclinação (Neigung), distância (Abstand), trancamento (Abriegelung), facilitação (Leichte) e reluzência (Reluzenz). Destaca-se o conceito de ruinância, tendência de queda para o nada, antecipando em termos, da hermenêutica da facticidade a questão do nada, que desempenharia um papel central na ontologia fundamental. Já sobre o Relatório Natorp, Santos segue a sua estrutura, explicitando os seus elementos metodológicos (posição, direção e extensão da visão) até que se chegue na interpretação heideggeriana sobre a distinção aristotélica entre as virtudes dianoéticas. Ao se deter finalmente nas virtudes dianoéticas mais elevadas, Santos nota que a sophia, pela sua própria natureza, não pode se deter se não imperfeitamente sobre a vida humana, já que ela visa o ente que nunca muda. Nesse sentido, Santos explora a capacidade de desocultamento da phronēsis, que pode apreender a vida fáctica em sua mobilidade.
O derradeiro capítulo do livro analisa a última preleção de Heidegger na Universidade de Freiburg, intitulada Ontologia. Hermenêutica da facticidade (1923). Santos explora a mudança de registro da vida fáctica para a existência do ser-aí, analisando uma série de motivos conceituais que seriam recorrentes em Ser e tempo: “o ser-sempre-a-cada-vez (Jeweiligkeit), curiosidade, cotidianidade (Alltäglichkeit) presente, ser-em-um-mundo (Sein in einer Welt) e ser-com-outros (Miteinandersein)” (p. 499). Simultaneamente, Santos aponta para os contextos de interlocução para a compreensão de conceitos como o compreender originário (Urverstehen) e a intuição hermenêutica, e chama atenção para a importância da noção de pré-disponibilidade (Vorhabe): “se a tarefa da hermenêutica da facticidade consiste em captar na forma mais originária possível como o ser-aí vive em uma ‘pré-disponibilidade’ ou ‘posse preliminar’ (Vorhabe) de ser, então é preciso compreender as estruturas do Dasein com base em sua temporalidade, que é um fenômeno fundamental da facticidade” (p. 518).
O livro de Bento S. Santos se mostra, portanto, como uma obra de referência aos estudos em língua portuguesa sobre a hermenêutica da facticidade. Traduzindo diretamente do alemão as obras de Heidegger e apresentando uma extensa bibliografia de apoio, o livro de Santos presta um enorme serviço aos pesquisadores interessados no pensamento do filósofo alemão. Por fim, notamos alguma inconstância na opção terminológica como, por exemplo, Bewegtheit ora traduzido como motilidade, ora como mobilidade, ou Gegebenheit, vertido ora como dadação, ora como doação, detalhes menores que certamente podem ser revisados para uma segunda edição.
Referências Bibliográficas
BENTO SILVA SANTOS. A Fenomenologia hermenêutica da vida fática de Martin Heidegger (1919-1923). São Paulo: LiberArs, 2023, 558p. ISBN: 978-65-5953-131-8.
Roberto Wu
Professor e pesquisador do Departamento de Filosofia na Universidade Federal de Santa Catarina desde 2009. Mestre em Filosofia pela UFPR (2002), doutor pela Puc-Rio (2006), com pós-doutorado no Boston College (2014) e na UFMG (2021-22). Foi coordenador do Programa de Pós-Graduação em Filosofia da UFSC (2016-19) e presidente da Sociedade Brasileira de Retórica (SBR) (2021-23). Atualmente é coordenador do GT Filosofia Hermenêutica da ANPOF (2025-26).
Os textos deste artigo foram revisados por terceiros e submetidos para validação do(s) autor(es) antes da publicação