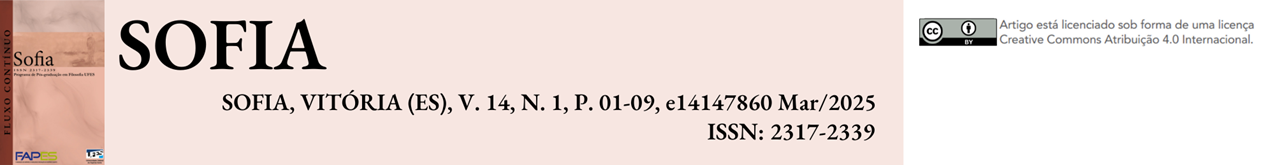
A reconstrução da linguagem: alguns poréns
The reconstruction of
language: some drawbacks
Daniel Temp
UFSM – Universidade Federal de Santa Maria
Recebido: 06/03/2025
Received: 06/03/2025
Aprovado:13/03/2025
Approved: 13/03/2025
Publicado: 27/03/2025
Published: 27/03/2025
Resumo
O fato de que se pode elaborar artificialmente uma linguagem manipulável pelo cálculo lógico a partir das estruturas da linguagem natural dá provas de que a linguagem pode ser reescrita por inteiro formalmente? Ou melhor: até que ponto a linguagem natural pode ser reescrita apropriadamente e sem prejuízos quanto ao significado através de sistemas formais de simbolização? A partir do livre desenvolvimento de algumas intuições da filosofia tardia de Wittgenstein, o presente texto aponta algumas dificuldades para quem pensa poder dar uma resposta otimista a essas indagações.
Palavras-chave: linguagem; análise lógica; linguagem figurada; Wittgenstein.
Abstract
Does the fact that a
language can be artificially constructed using logical calculus from the
structures of natural language provide evidence that language can be entirety
rewritten formally? Or rather: to what extent can natural language be rewritten
appropriately and without to prejudice its meaning through systems of formal
symbolization? Based on the free consideration of some intuitions from
Wittgenstein's late philosophy, this text points out some difficulties for
those who think they can give an optimistic answer to these questions.
Keywords: language; logical analysis;
figurative speech; Wittgenstein.
Introdução
Considere-se um problema antigo: como se relacionam símbolos linguísticos e o conteúdo que expressam, a proposição? Ou, dito de outro modo: em virtude de que um símbolo significa o que significa? Gottlob Frege pode ser considerado o pai de um tipo de resposta que veio a se tornar um paradigma da filosofia dita analítica: um símbolo significa o que significa em virtude de algo como uma estrutura lógico-conceitual que subjaz, que está para além, ou que não pode ser identificada olhando apenas para a gramática da linguagem natural.[1] A rigor, pode-se dizer que o programa filosófico sugerido nessa resposta já está contido na própria ideia de análise: a sugestão é que, se um símbolo significa o que significa em virtude de uma estrutura lógico-conceitual que subjaz à gramática da linguagem, cumpre então analisar as estruturas da linguagem natural a fim de estabelecer como que uma cartografia completa das sentenças significativas.
A despeito das particularidades de cada projeto, não apenas uma porção representativa de filósofos que gostam de se proclamar analíticos, como também um número considerável de linguistas e psicólogos cognitivos sustentam poder explicar o significado linguístico exatamente assim, isto é, formalmente, encontrando e elucidando as estruturas e regras que regimentam a formação e combinação de sentenças. Diante de um programa filosófico de tamanha pretensão e envergadura, será lícito, porém, perguntar: o fato de que se pode elaborar artificialmente uma linguagem manipulável pelo cálculo lógico a partir das estruturas da linguagem natural realmente mostra que a linguagem natural pode ser reescrita assim por inteiro? Ou melhor: até que ponto a linguagem natural pode ser reescrita apropriadamente e sem prejuízos quanto ao significado através de sistemas formais de simbolização? A partir do livre desenvolvimento de algumas intuições da filosofia tardia de Wittgenstein, o presente texto aponta algumas dificuldades para quem pensa poder dar uma resposta otimista a essas indagações. A ideia é que o significado linguístico, além de aspectos lógico-conceituais, possui também aspectos analógicos, metafóricos e pragmáticos que escapam à análise lógica e que dificilmente podem ser abordados no âmbito de uma teoria sistemática.
1.
De saída, cabe reconhecer que não é privilégio de um ou outro programa filosófico considerar que o significado provém de uma estrutura lógica ou conceitual que difere da estrutura gramatical de uma sentença. A própria linguagem comum também nos leva a fazer essa diferenciação, conforme evidenciam os casos em que a mesma estrutura gramatical expressa relações lógicas distintas[2].
O jovem médico foi encontrado morto.
O suposto médico foi encontrado morto.
Enquanto no primeiro caso a sentença fala de um médico que possui a propriedade de ser jovem, no segundo caso o sujeito sequer possui a propriedade de ser médico, e sim a propriedade ser objeto de uma suposição. Ou seja, apesar de partilharem da mesma estrutura gramatical, ambas as sentenças carregam uma importante diferença semântica. Daí é um passo até a ideia de que essa diferença se explica por uma estrutura lógica ou conceitual que existe por trás ou no fundo da linguagem natural. Ora, o conceito de “análise”, conforme entendido na agenda filosófica analítica, não quer dizer outra coisa senão explicitar ou trazer à tona, por meio de minucioso desmembramento e elucidação, as estruturas escondidas na linguagem natural (considerada equívoca e ambígua) e, através da univocidade proporcionada pelo cálculo lógico, estabelecer o campo das sentenças significativas. Destrinchar as propriedades lógicas da linguagem à procura de estruturas fixas que regem o significado das sentenças é, nesse sentido, uma empreitada que possui uma clara motivação epistêmica: separar o joio do trigo, isto é, o que pode ser dito com sentido e o que sequer possui valor de verdade (e, portanto, não possui significado propriamente).
2.
Não raro, filósofos engajados na análise da linguagem seguem no rastro de um programa filosófico que carrega feições como as descritas acima: primeiro, imaginam uma linguagem lógica como que por trás da linguagem natural e, depois, acreditam que essa linguagem evidencia relações conceituais objetivas, universalmente válidas ou que espelham a própria realidade do pensamento, e que permanecem ocultas na confusão da linguagem natural.[3] Programas filosóficos como aqueles capitaneados por Frege, Carnap e pelo Wittgenstein do Tractatus são, em maior ou menor medida, exemplos de programas do gênero. Por outro lado, o próprio Wittgenstein, na fase tardia, surge como um dos principais nomes que, contra um programa filosófico concebido nesses moldes, esforça-se por compreender a linguagem segundo uma concepção antropológica ou pragmática que entende o significado linguístico, na maior parte dos casos, como uso.
Nas Investigações filosóficas, falando acerca da maneira como o programa de análise que ele próprio subscreveu na época do Tractatus olha para a linguagem, Wittgenstein escreve:
pode-se ter a impressão de que haveria algo como uma análise última das nossas formas de linguagem, portanto, uma forma completamente decomposta de expressão […] (IF 91).
Isso se expressa na pergunta pela essência da linguagem, da proposição, do pensamento. […] Pois, na essência, ela [a pergunta] não vê algo que já está exposto à luz do dia […]. E sim algo que está sob a superfície. Algo que reside no interior, que vemos se olhamos através de uma coisa, e que uma análise deve desencavar (IF 92).
Isto é, no contexto do programa de análise lógica, desde logo está colocada a pressuposição de que há algo como um esqueleto lógico por debaixo da linguagem. Daí a ideia programática de que cabe à análise lógica a tarefa de desenterrá-lo e trazer a lume a estrutura do pensamento. Na sequência da passagem citada, essa caracterização é reafirmada: “as regras claras e estritas da estrutura lógica da proposição nos aparecem como algo que está no pano de fundo, — algo oculto no medium do entendimento […]” (IF 102). Então, no parágrafo seguinte, Wittgenstein não hesita em caracterizar o programa ora descrito como um ideal, mais ainda, um ideal de enorme recalcitrância, quase inabalável, “que repousa como um óculos sobre nosso nariz” (IF 103) — o que explica o pendor quase irresistível com que vários filósofos se propuseram a escavar a linguagem à procura de uma forma lógica definitiva.
Acontece que, aos olhos de Wittgenstein, a metáfora de uma estrutura lógica por trás da linguagem natural é considerada como não mais que isso: uma metáfora empregada para a projeção de uma linguagem sobre outra a fins de análise comparativa. Considere-se outro trecho conhecido das Investigações Filosóficas:
Quanto mais exatamente consideramos a linguagem de fato, tanto maior torna-se o conflito entre ela e nossas exigências. (A pureza cristalina da lógica não me foi dada como um resultado, ela era uma exigência) (IF 109).
A “pureza cristalina” possibilitada pela análise lógica não é, a rigor, um resultado (no sentido de ser uma descoberta da estrutura real da linguagem): é, ao invés, nada mais que uma exigência da análise lógica. Ou seja, o sistema de símbolos lógicos empregado para expressar as relações conceituais das linguagens naturais é, na perspectiva de Wittgenstein, uma linguagem mais entre tantas outras, e não o reflexo de uma realidade extralinguística. Naturalmente, isso nem de longe quer dizer que a formulação de uma simbolização lógica para análise da linguagem natural é simplesmente descabida; trata-se apenas de enfatizar que uma tal formulação, em vez de refletir uma realidade para lá da linguagem, cumpre antes uma finalidade prática bastante específica: desfazer certas ambiguidades, evidenciar relações lógicas entre termos, elucidar quais inferências são ou não válidas em um determinado campo do discurso, dentre outras várias possíveis finalidades (Schneider, 1999).
Do fato de que às vezes não apenas é possível, mas, em determinadas empreitadas, é inclusive desejável (re)construir o esqueleto lógico da linguagem a fim de levar a cabo uma investigação rigorosa (como é o caso da investigação sobre os fundamentos da aritmética, por exemplo), não se segue, porém, que a linguagem humana possa ser inteiramente entendida nesses mesmos termos: uma tal ideia seria tão arbitrária quanto uma teoria que se propusesse a reescrever a linguagem somente através de elementos metafóricos.
3.
Embora esse problema (conceber a linguagem lógica como uma estrutura que está por detrás das linguagens naturais) aparentemente acometa apenas aquelas teorias que carregam, por assim dizer, pretensões mais metafísicas e, por conseguinte, esse possa parecer um tipo de problema há muito superado, há razões para se pensar que ele ainda sobrevive: pense-se apenas, por exemplo, na maneira como atualmente a linguagem é concebida em alguns ramos das ciências cognitivas (um exemplo que fala por si só é a ideia amplamente difundida de que há uma linguagem do pensamento que estrutura as linguagens naturais). De todo modo, há ainda outro problema, possivelmente mais grave, na concepção de linguagem pressuposta no mencionado programa filosófico de análise. Pois mesmo que se renuncie às inclinações metafísicas despertadas pela metáfora da estrutura lógica escondida na linguagem, ainda resta aberta a possibilidade de se reescrever as estruturas conceituais da linguagem natural por meio de um sistema de regras lógicas precisas, e isso, como dito acima, a fim de mapear suas relações conceituais e epistêmicas mais relevantes. A pergunta a ser feita então é: seria mesmo possível levar a termo algo como uma caracterização completa das relações conceituais da linguagem, de sorte a poder indicar o registro do que pode ser dito significativamente?
A resposta, na perspectiva de Wittgenstein, é por certo um retumbante não. E a razão para a negativa não é outra senão essa: a linguagem, eis o ponto de Wittgenstein, remonta sempre a um certo contexto de uso e a seus propósitos pragmáticos particulares (nas hoje consumada expressão do filósofo, o que há não é a linguagem, no singular, mas um emaranhado de “jogos de linguagem”, no plural). Nessa concepção, a consideração pragmática não é uma espécie de suplemento à semântica e à sintaxe, mas, ao invés, essas últimas é que estão ancoradas e derivam da consideração pragmática, tida como mais elementar. Deste modo, ainda que seja perfeitamente concebível e, em certos contextos, até razoável querer trazer à tona as relações lógico-conceituais de alguma região do discurso, é difícil acreditar que um semelhante programa possa ser expandido para toda a linguagem, uma vez que parte do que as palavras e sentenças significam depende do uso, estando, pois, enraizadas em uma forma de vida — ou seja, o significado tem que ver com o que fazemos ao usar a linguagem e, por esse mesmo motivo, resiste a qualquer sistematização definitiva.
Dito num só fôlego: a ideia é que a linguagem reúne aspectos sistemático-formais (esses sim sujeitos à codificação em linguagem lógica) e aspectos criativos, sendo que esses últimos dificilmente podem ser objeto de sistematização; ou seja, a linguagem, na perspectiva de Wittgenstein, embora abrigue também estruturas lógicas, nem de longe pode ser dita um sistema fechado que funciona apenas de forma linear (isso estaria mais para um computador que processa informações, não por acaso o paradigma de vários projetos de sistematização). Nesse sentido, se é verdade que ao fazer uso da linguagem muitas vezes seguimos nos trilhos de estruturas lógicas fixas, é também verdade que no exercício diário e pragmático da língua constantemente realizamos toda sorte de analogias, projeções e improvisos que vão sendo incorporadas à linguagem e expandem a noção de significado para além das estruturas lógicas conhecidas. Esse é o lado criativo da linguagem.
4.
O que se está a chamar de aspecto criativo da linguagem é exemplificado de forma mais direta pela linguagem dita figurada. Por oposição ao emprego de uma palavra em seu sentido próprio ou literal, a linguagem figurada é comumente caracterizada como uma forma de empregar uma palavra em um sentido impróprio: ao falar figurativamente, uma palavra é tirada de uma sentença ou contexto em que é empregada literalmente e transposta para uma sentença ou contexto em que passa a exprimir algo distinto do seu significado original. Considere-se as seguintes sentenças:
O carro atropelou o pedestre.
O diretor atropelou a discussão.
O verbo ‘atropelar’, cujo significado literal está relacionado ao ato físico de colidir e passar por cima, é empregado em sentido literal na primeira sentença. Nesse caso, falamos de um atropelamento propriamente dito. Na segunda sentença, o verbo é empregado em sentido figurado ou metafórico: o verbo ‘atropelar’ é pego emprestado do contexto literal a fim de exprimir algo parecido, mas não idêntico: o diretor também passa por cima da discussão, porém não literalmente; atropelar, aqui, significa passar por cima no sentido de fazer pouco caso, menosprezar, ignorar. Por mais que muitos casos de significado metafórico possam ser reconduzidos à literalidade, não é difícil perceber — sobretudo se se levar em conta expressões linguísticas mais complexas, e não somente metáforas triviais — que a linguagem figurada representa uma parte da linguagem cuja expressão é avessa à ideia de uma sistematização completa.
Apenas para que não falte o exemplo, considere-se casos clássicos de catacrese: “a perna do ângulo”, “o rabo do cometa”, ou mesmo a palavra “laranja” aplicada à cor laranja. Nesses casos, é justamente o uso impróprio — o uso de certas palavras fora de seu contexto de aplicação originário, isto é, o uso não-literal — que acaba por criar uma expressão de significado literal. A sentença: “a laranja é laranja” significa algo literalmente verdadeiro, notadamente, que uma fruta (a laranja) é de certa cor (laranja). E, no entanto, a palavra ‘laranja’, usada para denotar uma cor, origina-se por catacrese: ou seja, aqui, o que se considera literal origina-se de uma projeção figurada da linguagem. É nesse sentido que a linguagem figurada parece resistir a projetos de sistematização formal, pois o falar figurado nem sempre segue regras claramente especificáveis de antemão — ao invés, precisamente porque contém expressões cujo significado exato somente é estabelecido após as palavras serem empregadas figurativamente em uma expressão (Black, 1955), a linguagem figurada evidencia o que se poderia chamar de plasticidade da linguagem, ou seja, justamente aquele aspecto criativo e permanentemente inacabado que restringe qualquer projeto de codificação definitiva.
Embora o aspecto dito criativo da linguagem encontre copiosos exemplos no discurso figurado (metáforas, metonímias, catacreses, e o uso particular de certas palavras fora do campo semântico usual), segundo a concepção que se está a delinear, também as estruturas lógicas da linguagem podem ser objeto (e não raro são produto) de certas projeções metafóricas; é dizer, no esforço de tentar exprimir algo, alguém pode se valer de uma estrutura conceitual já conhecida, própria de um jogo de linguagem particular, e projetá-la em um contexto inteiramente novo. Compare-se, por exemplo, a estrutura conceitual das seguintes expressões:
“a lança de Sepé Tiarajú”
“a alma de Sepé Tiarajú”
Aqui, a estrutura conceitual que exprime posse, “o A de B” (em línguas com declinação de casos gramaticais, com frequência expressa por meio do caso genitivo) é notoriamente projetada num contexto inicialmente estranho a fim de produzir uma sentença significativa: fala-se da alma de Sepé Tiarajú de forma análoga à forma como se fala de sua lança, isto é, como se se falasse, em ambos os casos, de uma coisa ou objeto de sua posse. Assim também com as sentenças a respeito do jovem/suposto médico mencionadas no início. Em vez de duas estruturas conceituais expressas na mesma forma gramatical, pode-se explicar a diferença semântica nas sentenças supondo apenas uma estrutura já conhecida (‘o A de B’) somada à compreensão de sua projeção em um novo contexto. Ou seja, a própria sintaxe, o aspecto da linguagem mais facilmente sujeito à formalização, está sujeita a variações que não seria descabido chamar de metafóricas (Schneider, 1999; 2014, cap. 6 e 12).
Logo...
Não faltam razões para desconfiar das pretensões de qualquer teoria que, no encalço de uma agenda filosófica como a delineada aqui, arrogue para si a pretensão de fixar regras lógico-formais que cumpram a tarefa ilusória de desenterrar por completo o esqueleto lógico da linguagem e reivindiquem poder explicá-la em sua inteireza.
Referências bibliográficas
BLACK, M. Metaphor. In: Proceedings of the Aristotelian Society. 55, 1955, pp. 273-294.
FREGE, G. Conceitografia: uma linguagem formular do pensamento puro decalcada sobre a aritmética. Seropédica, Rio de Janeiro: PPGFil – UFRRJ, 2018.
GABRIEL, G.; SCHLOTTER. S. Frege und die kontinentalen Ursprünge der analytischen Philosophie. Münster: Mentis, 2017.
HACKER,
P.M.S. Two Conceptions of Language. In: Erkenntnis. Nº 79 (Suppl 7),
2014, pp. 1271–1288.
HACKER, P. M.
S. The Rise of Twentieth Century Analytic Philosophy. Ratio Nº 9, 1996,
243-268.
SCHNEIDER, H.
J. Creation and re-creation: The interplay of activity and structure in
language. In: Journal of Pragmatics. Nº 31, 1999, pp. 669-684.
SCHNEIDER, H. J. Wittgenstein's Later Theory of Meaning: Imagination and Calculation. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2014.
WITTGENSTEIN, L. Investigações filosóficas. Tradução
Giovane Rodrigues e Tiago Trajan. Fósforo Editora, 2022.
WITTGENSTEIN,
L. Philosophische Untersuchungen/Philosophical investigations. New York:
Macmillan, 1953.
Daniel Temp
Doutor em Filosofia pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)
Os textos deste artigo foram revisados por terceiros e submetidos para validação do(s) autor(es) antes da publicação
[1] Penso, aqui, nas interpretações que enxergam Frege como um filósofo da linguagem cujas contribuições se enquadram no contexto do que hoje é conhecido como teoria do significado. Embora persista a controvérsia, é um fato historiográfico reconhecido que tal interpretação, a despeito de ser ou não a maneira correta de interpretar seus escritos, foi a interpretação decisiva para o surgimento da agenda filosófica que hoje se reconhece estar nas origens da filosofia dita analítica. Cf. Hacker, 1996; ver também Gabriel & Schlotter, 2016.
[2] Tomo de empréstimo, com pequenas modificações, um exemplo de Hans Julius Schneider (1999), cujas ideias considero grandemente fecundas e por isso mesmo são referência pervasiva no presente texto.
[3] O símile empregado por Frege ao apresentar a linguagem ideal que inventou (a conceitografia) não deixa de ser sugestivo: “Creio que o melhor meio de elucidar a relação que se dá entre minha conceitografia e a linguagem corrente seria compará-la com a relação que ocorre entre o microscópio e o olho. Este último, pela extensão de sua aplicabilidade e pela versatilidade de sua adaptação às mais diversas circunstâncias, é muito superior ao microscópio. Contudo, como um instrumento ótico, o olho possui, por certo, muitos inconvenientes, que passam comumente desapercebidos por força de seu estreito relacionamento com a nossa vida mental. De fato, se um objetivo científico exigir grande acuidade de resolução, o olho se mostra insuficiente. Por outro lado, o microscópio se afigura perfeitamente adequado para tais fins, embora seja por isso mesmo inadequado para outros” (Frege, 2018, Prefácio). Em tempo: cumpre notar que, apesar da sugestão de que a linguagem lógica é capaz de captar com maior precisão certos aspectos da realidade, Frege, ao menos a esta altura de seu pensamento, ao mesmo tempo pensa-a como um instrumento.